Os Estados Unidos assassinaram, no dia 3 de Janeiro, o general Qasem Soleimani, uma das figuras mais importantes do estado iraniano e pivô da atuação do Irã na região da Ásia e Oriente Médio. O atentado foi realizado por drones contra o Aeroporto Internacional de Bagdá, no Iraque. Pelo menos outras nove pessoas morreram, incluindo Abu Mahdi al-Muhandis, comandante da milícia iraquiana Kata’ib Hezbollah. É o mais drástico assassinato deste tipo realizado pelos Estados Unidos nesta década, por se tratar de um ataque aberto contra um oficial de um estado soberano, que violou ainda a soberania de um outro estado (o iraquiano).
Qasem Soleimani, um perfil guerrilheiro
Soleimani era major-general dos Corpos da Guarda Revolucionária Iraniana, comandante da unidade especial de guerra irregular e operações de inteligência, a Força Quds. Assim, era protagonista da atuação iraniana fora de seu território e do crescimento substancial da influência do Irã na região do ocidente asiático na última década. Por alguns era considerado o segundo homem mais poderoso da República Islâmica, respondendo diretamente ao líder Ali Khamenei.
Como comandante da Força Quds, participava do Conselho Supremo de Segurança Nacional no mesmo pé que outras autoridades do estado: o comandante dos Corpos da Guarda Revolucionária, os chefes do exército, os ministros de governo, o presidente do país e o presidente do parlamento, dentre outros. O Conselho é presidido pelo Líder Supremo do Irã (ou Líder Supremo da Revolução Islâmica), Sayyid Ali Khamenei.
Soleimani nasceu em março de 1957, de uma pobre família rural na província de Kerman, província de estepes desérticas rasgadas por cadeias montanhosas no vilarejo de Qanat-e Malek.
Com 13 anos, se mudou para a capital provincial, trabalhando como operário de construção para ajudar o pai a pagar uma grande dívida – eventualmente, trabalharia para a companhia municipal de água, enquanto prosseguia no ensino básico, levantava pesos em seu tempo livre e ouvia os sermões de um clérigo revolucionário. Soleimani frequentava zourkhanehs, ginásios que seguem o sistema tradicional de treinamento de guerreiros persas e que mistura aspectos culturais pré-islâmicos (na religião: zoroastrismo, mitraísmo e gnosticismo; incluindo a leitura de poemas gnósticos acompanhados por tambor) e islâmicos (incluindo elementos do sufismo, misticismo islâmico); o treinamento inclui música, força, calistenia e lutas.
Quando começaram as agitações que culminaram na Revolução que depôs o Xá em 1979, o jovem Soleimani participou das manifestações. Lutou na guerra entre o Irã e o Iraque, se tornou combatente voluntário da Guarda Revolucionária depois de uma rotação militar de quinze dias, galgando posições de comando enquanto conduzia uma pequena unidade voltada para ações guerrilheiras.
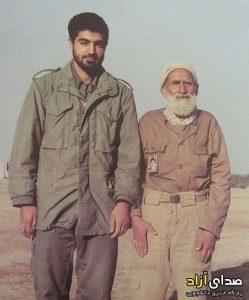
É esse período que nos mostra a formação de Qassem Soleimani: a formação de um comandante guerrilheiro.
Retratos diversos pintam um militar criativo e corajoso (é referido especialmente um episódio de julho de 1986, quando quase foi capturado por iraquianos). Já como comandante da Força Quds, Soleimani mobilizava de acordo com as necessidades, com todo tipo de estrutura sob seu controle. Soleimani é o representante máximo da guerra em seu estado atual, uma forma de guerra total e difusa. É, talvez, o maior general desta década.
Como outros grandes comandantes históricos – a exemplo de Napoleão, Rommel e Zhukov – teve sua capacidade tática aclamada por críticos que questionaram, entretanto, sua inteligência estratégica. Soleimani era um adepto da ofensiva como melhor opção e também era zeloso quanto à prática de métodos de engano, diversionismo, defendendo desde sua juventude o uso de longas operações de desvio para encobrir manobras. Tal crença na ilusão é tão aferrada que Soleimani era contrário ao treinamento de unidades super-especializadas, defendendo soldados instruídos em diversas áreas, mais imprevisíveis e capazes de improvisar. Sua reputação por coragem o fez subir rapidamente na hierarquia e ganhar prestígio político na organização dos guardas, apesar de sua falta de educação militar ou formal. A linha de Soleimani hoje era de que a negociação podia ser sinônimo de “rendição completa”.
Apesar dos possíveis defeitos operacionais, a atuação da Força Quds durante a liderança de Soleimani foi altamente eficiente e disciplinada – disciplina por saber ser precisa, econômica e evitar o comprometimento excessivo de forças iranianas.
Algumas características dessa atuação:
– Alta mobilidade no campo e alta flexibilidade na organização.
– Limitação de recursos, isolamento político e demandas situacionais inesperadas, em um contexto geral de alta pressão.
– Guerra assimétrica e uma concepção de defesa por camadas.
Transformou a ideia de “comitês revolucionários” do Irã em um princípio de organização aplicado para grupos de autodefesa, como fez como os hazaras que lutavam contra o Talibã no Afeganistão e com cristãos que se juntaram às Forças Populares de Mobilização no Iraque. O princípio é estimular grupos locais com diferentes níveis de autonomia, como forças militares que tenham alguma capacidade de misturar a população e prover a si mesmas sem depender de linhas de suprimento limitadas, além de fortalecerem o moral através de ideologia.
Essas fraquezas operacionais são óbvias nos campos de batalha de Soleimani: falta de artilharia avançada e apoio aéreo, além de não dispor de grupos de operações especiais altamente sofisticados.
Soleimani, hoje, era uma figura carismática com grande projeção midiática. Os que trabalharam com ele no combate ao Daesh relatam que ele não levantava a voz e outros relatos que remetem aos anos 80 dizem que sempre demonstrou muito afeto a seus subordinados, chorando e os abraçando antes de missões letais; suas falas sempre enfatizavam o papel do mártir e do martírio, sempre lembrando os subordinados dos caídos e exaltando os mortos nos discursos públicos. A parte disso, não falava tanto de motivos religiosos como falava dos motivos patrióticos.
Com a imagem de prestígio que possuía agora como “o general que esmagou os terroristas”, Soleimani se tornou um receptáculo não só de valores islâmicos, da imagem de muçulmano pio, mas de uma espécie de ideal patriótico persa. Nacionalistas já projetavam nele ideais políticos seculares e Soleimani frequentemente era retratado como um guerreiro persa, portador de uma virtude guerreira milenar. Apesar de Soleimani não dar muitas evidências de que correspondia a certos anseios de mudança no cenário público iraniano, ele chegou a fazer declarações contrárias à diferenciação dos iranianos como mais ou menos religiosos na arena pública, comparando a situação com a de um pai que deve receber todos os filhos independente do nível de piedade que apresentam.
Nos outros países, virou um ícone de motivos anti-imperialistas e do poder de países da periferia de transformar o mundo fora do controle dos Estados Unidos.
No fim das contas, o homem que foi assassinado, por mas eficiente e dotado de bom julgamento, era o produto acabado de uma cultura estratégica. E essa cultura estratégica é compartilhada pelos aliados do Irã que foram tão próximos de Soleimani. Muitos incorrem no engano de descrever o Hezbollah libanês como uma mera criação da Força Quds, sem perceber que a Força Quds se desenvolveu ao lado do Hezbollah na resistência contra a invasão sionista do Líbano. Ali ocorreram grandes acontecimentos militares nas derrotas de Israel, em termos de inovação e contribuição à arte da guerra. Soleimani era um acúmulo desses conhecimentos e foi um dos maiores comandantes de guerra no século XXI ao lado, precisamente, de um lendário operativo libanês, Imad Fayez Mughniyeh (louvado pelo Hezbollah libanês).
O processo histórico, o acúmulo de conhecimento, o fortalecimento de ideias e estruturas ideais, tudo isso ultrapassa a vida de um indivíduo. A morte de um homem não pode matar uma cultura que é política, estratégica e simbólica: pelo contrário, os Estados Unidos só estão atiçando as chamas que servem para eles mesmos se queimar.
O assassinato de Soleimani
Donald Trump fez suas habituais comemorações espalhafatosas, acusando o general iraniano de ser um “terrorista”. O assassinato causou reações de fúria e consternação no público iraniano, já que Soleimani era a figura pública mais popular do país, reiteradamente representado como um herói. No Irã, bem como no exterior, Soleimani também ganhou muito prestígio devido a seu papel central na derrota do assim chamado “Estado Islâmico” (daqui para frente referido como Daesh). No sentido contrário, o estado e a opinião pública israelenses empurraram sua própria narrativa, que apresentava Soleimani como uma figura sombria, o homem mais perigoso do Oriente Médio.
O ataque gerou grandes preocupações devido à possível escalada do conflito militar e suscitou muitas especulações sobre um conflito de larga escala. Quais são as motivações do ataque dos Estados Unidos e para onde ele pode levar a situação? Como o Irã deve responder?
Desde 1998, quando assumiu o comando da Força Quds, até o fim da primeira década do nosso século, Soleimani foi responsável por construir uma articulação política regional envolvendo o Líbano, a Síria, o Iraque e a Palestina no que foi chamado de “Eixo de Resistência”. Isto criou uma situação geoestratégica desconfortável para Israel, deixando para trás as vitórias israelenses contra o nacionalismo árabe e criando uma nova situação de desafio à preponderância sionista na região. Com tal organização – e o apoio iraniano -, o partido político e movimento de resistência libanês Hezbollah impôs derrotas espetaculares a forças invasoras israelenses nos anos 2000 e 2006, se convertendo em uma pequena potência regional. O mesmo permitiu um movimento de renovação da resistência na Palestina.
Os Estados Unidos sofreram, nos últimos anos, sérios revezes em sua posição de poder na região que costumamos chamar de “Oriente Médio”. O Irã foi umas das forças decisivas desse enfraquecimento, que desequilibrou a hegemonia dos Estados Unidos. Na primeira metade desta década o Irã conquistou o acordo nuclear com os EUA. Depois, teve um papel fundamental para derrotar grupos armados apoiados pelos Estados Unidos na Síria, incluindo aqueles formados pelo principal protetorado ianque na região, a Arábia Saudita. Ali o Irã cumpriu um papel fundamental no combate ao terrorismo wahabita, contra grupos como a Al Qaeda e, acima de tudo, os terroristas do Daesh. O combate ao Daesh teve uma frente no Iraque, e o protagonismo iraniano no embate serviu para fortalecer a posição geopolítica da República Islâmica do Irã.
O projeto do Eixo de Resistência estava criando um movimento político na região que unificava diferentes vertentes religiosas e políticas em um projeto comum de resistência a Israel e aos Estados Unidos. Sofreu um golpe com a onda de grupos sectários terroristas e intolerantes, como os que atacaram a Síria e quase comprometeram esse país enquanto um centro logístico-geográfico do eixo. O Irã, no entanto, reverteu esse golpe e saiu mais forte, influente e respeitado do que antes.
Na Síria, Soleimani articulou a formação de milícias de defesa de caráter territorial, primariamente entre comunidades de minorias religiosas (como os cristãos), que serviram de base para a formação das Forças Nacionais de Defesa, uma guarda nacional alternativa ao Exército Árabe Sírio. Foi responsável pelo sucesso diplomático que conseguiu o envolvimento da Força Aérea da Rússia no conflito sírio. Criou forças de voluntários xiitas para proteger lugares sagrados atacados por sectários. O seu comando unificava e centralizava diversas forças nem sempre concordantes que atuavam no terreno sírio (exército, milícias, Hezbollah, serviços de segurança), especialmente em batalhas importantes como a de Aleppo e Al Qusayr.
Soleimani foi o arquiteto da derrota dos terroristas do Daesh. No Iraque, ficou conhecido pela presença frequente em campos de batalha. Os iranianos se articularam facilmente com uma ampla gama de forças políticas iraquianas: enviaram centenas de conselheiros e organizaram novas milícias de voluntários xiitas de outros países feitas para esses religiosos confrontarem a ameaça existencial do Daesh (que separava os xiitas para que fossem exterminados). Operou abertamente e com proximidade operacional de forças ocidentais, promovendo o fortalecimento cirúrgico de certas forças capazes de enfrentar os terroristas: membros da organização Badr, forças especiais iraquianas e peshmerga curdos que receberam apoio direto (toneladas de armas foram entregues aos curdos).
Foi um dos estrategistas da libertação de Tikrit.
Mais importante foi o seu papel na organização das “Forças de Mobilização Popular”, organizando milícias de diversas lealdades em uma força única, a partir de um fluxo massivo de voluntários iraquianos dispostos a lutar contra o terrorismo. Seu papel aqui foi tanto de conselheiro e organizador militar como o de articulador político. Abu Mahdi al-Muhandis, que foi vitimado ao lado de Soleimani no dia 3 de Janeiro, se destacou como um comandante desta frente.
Nessas condições, a rede de poder de Soleimani cresceu de forma exponencial dentro e fora do Irã. O Irã, por sua vez, se tornou mais poderoso e ainda por cima em detrimento de uma suposta primazia moral dos Estados Unidos: foi o Irã, uma República Islâmica, que mais se dedicou a combater os terroristas sectários.
É verdade que Soleimani deu dores de cabeça um pouco mais diretas para os Estados Unidos no passado: ele era uma figura importante para algumas milícias que cresceram no Iraque depois da queda de Saddam Hussein, que usavam grupos especiais de assalto para atacar tropas dos Estados Unidos. Graças à atuação iraniana, estes grupos tiveram acesso a inteligência, recursos e armas especiais. Ao mesmo tempo, ele cumpria o papel de articulador político e virou uma figura inadiável para os norte-americanos no Iraque, que tiveram que contar com ele para a redução das hostilidades e para a realização da retirada massiva de suas tropas.
Por essas razões, Soleimani se converteu em um dos personagens mais importantes da região e portanto um alvo preferencial.
A estratégia do Irã é de confrontar a hegemonia dos Estados Unidos na região, e tiveram sucesso nisso até agora. O assassinato é uma resposta dos Estados Unidos.
Trump não ordenou o ataque para deter uma ameaça ou mesmo tendo como prioridade eliminar um quadro de qualidade dos iranianos, mas para demonstrar força. Os EUA querem jogar pesado perante uma força iraniana que não para de crescer. Por isso tomou uma medida drástica como este assassinato. É difícil dizer, no entanto, até onde ele pretende ir. Em todo conflito, o contexto é soberano e as opções são diversas. A ação dos atores é repleta de elementos específicos e governada por relações de reciprocidade. Quer dizer: o assassinato de Soleimani está inserido em um contexto mais amplo e abre um leque de novas possibilidades.
Desde o início do governo Trump, os Estados Unidos estão em uma ofensiva contra o Irã, enquanto ao mesmo tempo apoiavam a agressividade e o expansionismo israelense.
Nos últimos anos, tanto os Estados Unidos como Israel realizaram bombardeios na Síria e no Iraque justificando, na maioria das vezes, que seus alvos eram iranianos. Usando a Arábia Saudita como caixa de eco, retrataram o Irã como uma potência agressiva, expansionista, persa inimiga dos árabes, xiita inimiga dos sunitas.
Essa agressividade contra o Irã era objeto de política bipartidária: os críticos de Trump, a maioria deles, atacavam as políticas do governo na região dizendo que elas fortaleciam o Irã, ou que eram muito fracas. Falei sobre isso antes, citando a posição do The Washington Post a respeito das manifestações no Líbano.
O Iraque é agora o principal campo de batalha. Apesar de ter outras decepções (Síria e Líbano), é frustrante para os Estados Unidos manter uma presença no Iraque e não conseguir deter o avanço da política iraniana no país. Os aliados do Irã se tornaram mais fortes derrotando o Daesh. Para os políticos em geral, o Irã virou um posto de passagem inevitável.
A política de ataques aéreos e o uso específico de tropas em algumas localizações (como os campos de petróleo da Síria) serve para sabotar, a todo custo, o restabelecimento da ordem na região em termos que sejam onerosos para os Estados Unidos. No mais longe, sabotar o restabelecimento de uma ordem que implique num retorno de um Eixo de Resistência ainda mais forte, tirando de Israel o espaço de manobra que esta entidade havia conquistado com a desordem em seus vizinhos. Nesse caso, o “Deal of the Century” (Acordo do Século) vislumbrado por Trump para encerrar a questão palestina, se tornaria ainda menos plausível e a resistência contra Israel ganharia um novo fôlego, uma nova força. Ainda existem possibilidades geopolíticas relacionadas à integração econômica com os chineses e a reconciliação com a Turquia (país que foi alienado do ocidentalismo nos últimos anos) em um bloco asiático.
Para evitar isso – e consequências de médio a longo prazo que podem oferecer uma ordem mundial muito diferente da atual -, o que os Estados Unidos podem fazer é acossar, provocar, não dar paz – uma espécie de campanha militar irregular, terrorista, feita para sabotar e desorganizar, mas conduzida por uma super-potência que conta com drones não tripulados armados com mísseis. No quadro geral da estratégia, os Estados Unidos contam com defender sua presença na região, aumentar a fricção e o custo da presença iraniana, enquanto incentivam forças políticas anti-iranianas e mudança de regime dentro do próprio Irã. As sanções não são uma forma menor de guerra comparadas aos bombardeios: são parte integrante de um mesmo ataque, pois é através das sanções que eles buscam não só a redução dos recursos militares iranianos (os iranianos têm como premissa o uso de poucos recursos, de toda forma) mas também causar a ruína do regime iraniano.
Os Estados Unidos incentivaram a tendência anti-iraniana das manifestações que ocorrem no Iraque desde o final do ano passado. Também contaram com as manifestações violentas que ocorreram dentro do Irã no mesmo período.
As forças militares dos Estados Unidos não tiveram escrúpulos sequer de poupar posições na fronteira com a Síria que servem para controlar a movimentação de pequenos grupos remanescentes do Daesh. É claro que esse tipo de atuação não mira só o Irã, mas também mina e destrói a viabilidade dos estados sírio e iraquiano. O Iraque, tendo sua soberania violada, é outra vítima desse ataque – e se os Estados Unidos pretendem atrair os iranianos para lutar (com suas tropas) em território iraquiano, isto também é grave.
Com estes atos os Estados Unidos estão afirmando e decretando que têm uma super-soberania, com direito de policiar o mundo e relativizar as soberanias dos outros estados. Esse tipo de ataque é mais do que uma ação militar, mas uma ação política e proto-jurídica, no sentido de ser constituinte, um pilar de um certo tipo de ordem internacional. Nesse sentido, há uma continuidade do Projeto do Novo Século Americano de Rumsfeld e Wolfowitz, que foi entronizado no governo George W. Bush e foi base doutrinária da invasão e ocupação do Iraque em 2003.
No plano militar, há a crença (que é explorada no livro Carta no Coturno) de que o mundo está tomado pela dinâmica do caos e os Estados Unidos devem intervir com violência, usando a superioridade aérea, independente de convenções internacionais e noções de soberania nacional.
Uma invasão ao território iraniano é improvável, os Estados Unidos queimariam etapas de cerco e seria muito custoso: o país é grande, populoso, montanhoso (caracterizado por várias cadeias de montanhas com vales entre elas), com uma cultura militar antiga e particularmente hostil a agressores coloniais. A invasão e ocupação do Iraque já foi desastrosa e custosa em condições geográficas mais favoráveis aos norte-americanos. A operação seria muito grande em termos de gastos econômicos, recursos militares e logística. O modelo de referência agora são as ocupações usando poucas tropas especializadas apoiadas por drones em zonas em que o estado foi enfraquecido, como fazem na Síria e no Iraque.
Esse método de guerra mais “concentrado”, baseado em drones e forças especiais auxiliando mudança de regime, é uma continuidade em relação a Obama.
Os Estados Unidos querem frustrar os interesses iranianos e, no mínimo, encontrar disposição do lado iraniano a fazer concessões no que diz respeito à política iraquiana. Nesse tabuleiro, as opções são muito mais numerosas do que “guerra” ou “não-guerra”: ataques diretos contra o Irã, engajamentos no Iraque, sufocar o Irã.
A intensificação da guerra, inclusive na direção de uma guerra mais aberta, não deixa de ser uma possibilidade. Tal proposição é feita no contexto da ideia de que Trump vai seguir em sua aliança estratégica com o expansionismo sionista, que enxerga a segurança de Israel na região afundada no caos e no Irã destruído. No começo do ano de 2019, o Primeiro-Ministro sionista Benjamin Netanyahu expressou o desejo de ir para uma guerra contra o Irã e declarou estar buscando o maior número possível de países dispostos a contribuir para esse fim. Todo o discurso de Netanyahu foi voltado contra a “ameaça iraniana”. Em 2018, fez uma apresentação dizendo que o Irã mentiu em sua diplomacia e que é a principal ameaça para o mundo. O The New York Times chegou a fazer uma matéria especial só sobre os “dez anos de agitação” de Israel visando esse objetivo.
Em agosto de 2019, os israelenses ficaram preocupados com uma possível virada na política de Trump, já que durante o encontro do G7 falou-se de uma possível reaproximação dos EUA com o Irã. Em outubro do mesmo ano, se irritaram com a decisão Trump “tirar as tropas da Síria” (o que no fim não culminou numa retirada total, foi só um rearranjo de tropas). O próprio Trump disse naquele momento que se encontraria com o presidente do Irã, Rouhani, “se as circunstâncias forem certas” – e Rouhani chegou a ser recebido por Macron, que tentou fazer a vez de mediador (e fez sua própria propaganda política no processo).
Outra possibilidade, que é como geralmente os falcões da política externa dos EUA traduzem sua posição, é a de buscar o máximo isolamento do Irã, “expulsar os iranianos do resto da região”, sufocar a República Islâmica.
No mínimo, o que Trump quer no contexto iraquiano é forçar concessões dos iranianos. O assassinato de Soleimani foi uma drástica demonstração de força para exigir maior consideração e negociação do lado iraniano.
Nessa outra ponta – a do uso de violência para buscar negociações – podemos lidar com a possibilidade de que nesse momento, no imediato pós-assassinato, o próprio Trump relaxe suas posições e acene concessões para negociar com os iranianos a retirada de sanções e os termos de um novo acordo nuclear. Se as preocupações israelenses de agosto de 2019, de que Trump estava disposto a negociar com os iranianos eram reais, esse pode ter sido um ato drástico que serve para proteger sua reputação (save the face, como eles dizem) e justificar as negociações, que sinaliza que Trump estava disposto a combater os iranianos ao mesmo tempo que cria uma situação de uma escalada das tensões tão grande que a negociação se torna inadiável.
É uma atuação através da contradição: “agora que matei o estadista de vocês, estou disposto a fazer concessões e a negociar em termos melhores”. Isso inclui usar as vias de comunicação para tentar evitar uma escalada, solicitar que os iranianos não façam nada no estreito de Ormuz e que a resposta seja no mesmo plano, na forma de um assassinato, como uma troca dentro de um engajamento.
É um comportamento de estrategista, de vibração e balanço: o combatente, ao invés de se mover em uma só direção, se movimenta rapidamente em posições contrárias. O que é um ato que aponta para uma escalada e promove uma escalada, é seguido por uma atitude contrária, que busca desarmar a situação e oferecer concessões (o que pode ou não ser uma armadilha).
Qualquer acordo com os iranianos seria propagandeado por Trump como produto de sua demonstração de força. Isso seria uma demonstração de inteligência política e propagandística um tanto típica de Donald Trump: dar a impressão para o público de que ele está em uma ofensiva antes de fazer concessões e negociar. Foi como ele procedeu nas negociações com a Coreia do Norte (República Popular Democrática da Coreia): enquanto fazia declarações muito mais espalhafatosas do que Obama, dizendo que poderia varrer os coreanos da face da Terra, e ao mesmo tempo que ordenava manobras militares provocativas na fronteira, ele mostrou uma disposição sem precedentes de negociar com o governo norte-coreano.
Esses caminhos não são mutuamente excludentes e fazem parte de um continuum do universo estratégico. É preciso considerar – como Clausewitz compreendeu sobre a natureza geral da guerra – que o imprevisível, a sorte e as emoções são partes essenciais dos conflitos armados. A guerra tem uma natureza escalatória, em que as partes entram em ciclos descontrolados de retaliação e pontos de pressão geram vórtices de acontecimentos inesperados. Dificilmente as partes terminam com os objetivos que motivaram a ação inicial e sempre lidam com situações inesperadas criadas pelo próprio conflito.
Então Trump pode atacar esperando que os iranianos assumam uma posição de fazer mais concessões e conseguir o efeito contrário. Ou ele espera que os iranianos radicalizem na reação, se estendam demais, deem um passo em falso, mas ainda assim ele pode conseguir efeitos inesperados e eventos que pode não conseguir administrar. Um exemplo é a de retaliações apaixonadas por parte das milícias iraquianas, independentes do comando do Irã. Os manifestantes que ocuparam a embaixada dos Estados Unidos podem optar por algo como incendiar o prédio inteiro.
O movimento de Trump não foi feito para ganhar as eleições ou bater no impeachment: ele já estava se encaminhando para uma nova vitória e o processo de impeachment estava sendo mais benéfico para ele e de alto potencial destrutivo para os Democratas. Por agora, o soar dos alarmes de guerra pode beneficiar Trump, mas qualquer reação poderosa dos iranianos pode causar constrangimentos irreversíveis para o mandatário norte-americano, que, com o assassinato de Soleimani, já renunciou à sua postura anterior de anti-guerra. Imaginem uma situação com reféns de origem estado-unidense ou um ataque de alta letalidade como o que vitimou 241 militares dos EUA em Beirute no ano de 1983.
O mas importante – e mais evidente – é o xadrez geopolítico de Trump com o Irã. Não é petróleo, nem eleição, nem terrorismo e nem preocupação com conquistas científicas iranianas.
O Irã não vai fazer, como já não fez, uma grande ação de guerra direta. A doutrina militar iraniana parte do princípio da fraqueza da força militar convencional do país, evitando confronto direto com adversários mais poderosos. A posição deles agora, então, tende a seguir essa tendência e reproduzir a estratégia da resistência. A resposta deve ser calibrada, paciente e em um plano não-convencional. A doutrina iraniana é baseada no conceito de resistência (moqavemat). Essa concepção doutrinária é baseada em primeiro lugar no plano psicológico: a vitória é atingida no longo prazo, desmoralizando o inimigo. Para isso é preciso se manter firme, inabalável, resoluto. Essa estratégia possui uma dimensão fabiana: de protelar, não oferecer batalhas decisivas, causar atrito e desmoralização no inimigo.
Desde os anos 90 até hoje, o Irã demonstrou não ceder a provocações de forma emotiva e calibra suas vinganças de acordo com seus interesses. O seu objetivo maior – primário em uma estratégia de resistência – é sobreviver. Os iranianos sabem esperar.
Se perderam um líder carismático e quadro de valor inestimável, também já sacaram alguns ganhos políticos: o assassinato une massas do Irã e da região entorno da indignação contra o terrorismo dos Estados Unidos. As manifestações e marchas públicas de luto pelo general são politicamente mais importantes do que as contra-manifestações que defenderam o regime no ano passado. As milícias, por si só, podem realizar algumas retaliações pontuais contra soldados ocupantes.
No que diz respeito à situação política no Iraque, é verdade que a presença da influência iraniana na política vem irritando muitos iraquianos; irritando, acima de tudo, os sentimentos nacionalistas que não morreram naquele país. Porém, sentimentos nacionalistas também se dirigem contra os Estados Unidos e amplos setores da política e da sociedade do Iraque continuam aliados ao Irã – não é produtivo para os Estados Unidos imaginar que vá cooptar o nacionalismo iraquiano ou árabe bombardeando o território do Iraque.¹
O que provavelmente os iranianos não vão fazer é recuar, já que recuar não serve para preservar seus ganhos. O que podem fazer é prosseguir, se coordenando na região com forças como o Hezbollah no Líbano, a resistência palestina, o governo sírio e o Ansarullah do Iêmen. No plano diplomático e econômico, seguir nos projetos com a China e na reaproximação com países como a Turquia e o Qatar. O ponto mais sensível – onde seria possível fazer concessões – é o campo de influência no Iraque, mas agora que Trump já chegou até mesmo a matar uma figura como Soleimani, não é crível que os iranianos vão fazer outra coisa que não continuar avançando nesse sentido (ou buscando costurar alianças locais que reduzam seu protagonismo sem conceder aos Estados Unidos) – o terrorismo, no fim das contas, não é sinônimo de força política no campo.
Sim, é bem plausível que os iranianos aspirem a um ato específico de vingança pela morte de Soleimani, mas isso não será deflagrando uma guerra total e sim com operações clandestinas que só devem acontecer a partir de alguns meses.
Agora, uma escalada mais plausível e desenvolvimento político relevante é se o governo iraquiano pender mais uma vez para o lado do Irã e pedir formalmente a retirada das tropas dos Estados Unidos no país (que uma parte da política iraquiana também quer manter por motivos relativos a manobra de poder), no limite declarando-as tropas de ocupação. Ainda que isso gera somente uma situação de ilegitimidade para as tropas de ocupação sem propriamente explodir num conflito “final”, servirá para justificar novos ataques contra as forças dos Estados Unidos (que ainda poderão todas se refugiar no território do Governo Regional Curdo)².
Quanto à preocupação com uma “guerra mundial”, antes devemos olhar para o que querem russos e chineses.
A posição da Rússia e da China é de não escalar, ainda que condenem os Estados Unidos. São bombeiros diplomáticos. Conceber estes países como uma imagem espelhada dos Estados Unidos ou como unidades políticas que se comportam como os Estados Unidos, mas com bandeiras diferentes, é um erro que desconsidera a correlação de forças no mundo hoje e como foi o comportamento desses países nas últimas décadas, como organizaram suas prioridades.
A posição da República Popular da China tão pouco está para uma “guerra mundial”: é a menos ativa e de mais desengajamento, que tende a condenar o ataque dos Estados Unidos, mas que não quer perturbação dos negócios. Sua estratégia só é ativa no sentido de oferecer alternativas frente aos bloqueios contra o Irã e de apontar para a consolidação de espaços econômicos menos dependentes dos Estados Unidos.
[rev_slider alias=”livros”][/rev_slider]Notas:
¹ – Moqtada al-Sadr anunciou a “reativação” de sua milícia, o Exército do Mahdi. O Exército do Mahdi foi um dos principais inimigos do exército dos EUA na insurgência iraquiana, entre 2003 e 2007. Sadr é um líder populista um tanto independente, é um ótimo termômetro da situação política. A coalizão eleitoral sadrista (que incluía os comunistas), Aliança dos Revolucionários pela Reforma, foi a que recebeu mais votos nas eleições parlamentares de 2018. Sadr e sua coalizão estavam com um discurso nacionalista anti-iraniano, com os sadristas participando das manifestações iraquianas do segundo semestre de 2019 e proferindo ataques contra os iranianos, seus líderes e aliados na rede. Os sadristas também tiveram um papel nas manifestações anti-corrupção de 2017. Agora, Sadr – que havia dito que não pretendia retornar como um líder militar, nem levantar o exército de Mahdi – reativou sua milícia convocando todos os “movimentos de resistência” a se reunir para tratar da agressão dos Estados Unidos. Isto é, mesmo um líder populista que estava se dirigindo contra os iranianos com um discurso nacionalista, agora se reaproxima.
² – Desenvolvimento anterior ainda não estava ocorrendo quando o artigo foi escrito, mas já está acontecendo com o parlamento iraquiano passando uma resolução pela retirada de tropas estrangeiras do solo nacional, cancelando a assistência da coalizão liderada pelos Estados Unidos.






































