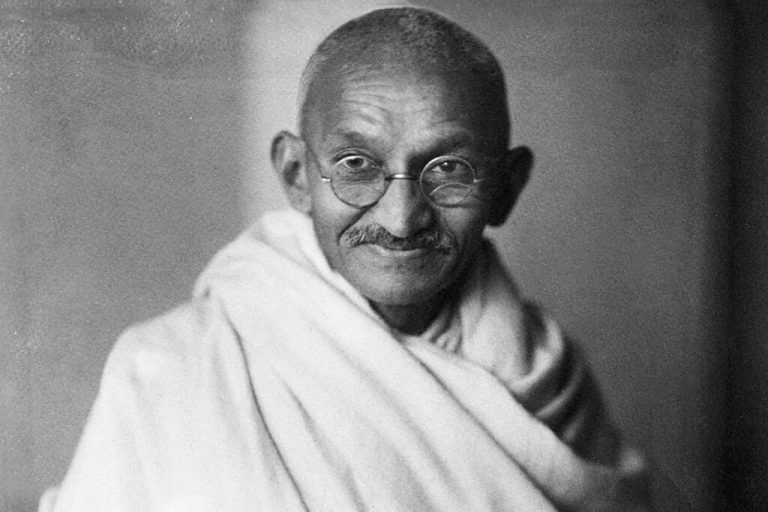O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, endereçou uma carta, no último dia 22 de abril, ao deputado federal Aliel Machado (PV-PR), presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, se opondo à aprovação do Projeto de Lei nº 4046/2021, que propõe a inscrição de João Cândido no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
Cândido, o “Almirante Negro”, foi o líder da Revolta da Chibata, levante de marinheiros que, em 1910, se apoderaram de quatro navios de guerra – Minas Gerais, Deodoro, Bahia e São Paulo –, e apontaram seus canhões contra a capital federal, exigindo melhores condições de trabalho e o fim dos castigos físicos, das chibatadas, como punição na Marinha, que mantinha a odiosa prática duas décadas após a abolição da escravidão. A rebelião era planejada já há algum tempo, já que as reivindicações pacíficas para o fim do uso da chibata, até então, não tinham dado resultados. Mas tornou-se inadiável no dia 16 de novembro de 1910, quando o comandante do Minas Gerais, João Batista das Neves, ordenou que o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes fosse amarrado a um mastro e chibatado 250 vezes – 225 vezes mais que o castigo máximo previsto, de 25 chibatadas.
Em 22 de novembro, a marujada se rebela, se apodera dos navios, expulsa os oficiais que não oferecem resistência e mata os que oferecem, incluindo o próprio João Batista. Como rememorou João Cândido, “eu dispunha de todos os poderes, como dispus dentro da revolta de todos os poderes do Brasil. Parei o Brasil. Durante seis dias parei o Brasil”. A crise chegou ao fim com a aprovação da anistia aos revoltosos e o fim dos castigos físicos na Marinha pelo Congresso. Mas os marinheiros foram traídos: após passarem o comando das embarcações, quebrou-se a anistia; foram retirados da Marinha, perseguidos, aprisionados, enviados para o desterro no Acre – onde passaram a ser escravizados – e mortos. O próprio João Cândido só escapou por sorte: na cela em que era mantido com outros 17 companheiros, semanas após a revolta, a carceragem derramava baldes e mais baldes de água com cal. À medida que a mistura evaporava na cela isolada, o óxido de cálcio penetra o sistema respiratório dos marinheiros. Quando finalmente abriram a cela na Ilha das Cobras, havia 16 cadáveres e dois marinheiros sobreviventes, em péssimo estado.
114 anos depois, na sua carta, embora reconhecendo que a chibata é “inaceitável, sob perspectiva alguma, e absolutamente incompatível com os caros preceitos morais observados pela sociedade contemporânea” e “repulsiva”, o comandante da Marinha, Marcos Olsen, diz que a revolta dos marinheiros é para Marinha “fato opróbrio”, “deplorável página da história nacional”, e “reprovável exemplo de conduta para o povo brasileiro”, um ato de “abjetos marinheiros que, fendendo hierarquia e disciplina, utilizaram equipamentos militares para chantagear a nação”.
Mais preocupante ainda, no entanto, é o fato do comandante estabelecer uma distorcida comparação da revolta de 1910 com o golpismo militar que ainda graceja no País – a arteirice e, como pretendo demonstrar, hipocrisia, não anulam a ironia do almirante ter a perspicácia, ao contrário do presidente Lula, de conectar fatos passados aos presentes. Diz Olsen: “incluir no Livro […] João Cândido Felisberto ou qualquer outro participante daquela deplorável página da história nacional, quando o patrimônio público foi destruído e o sangue de brasileiros inocentes derramado, seria o mesmo que transmitir à sociedade e, em particular, aos militares de hoje a mensagem de que é lícito recorrer às armas que lhes foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe […] enaltecer passagens afamadas pela subversão, ruptura de preceitos constitucionais organizadores e basilares das Forças Armadas e pelo descomedido emprego de violência de militares contra a vida de civis brasileiros é exaltar (sic) atributos morais e profissionais, que nada contribuirá (sic) ao pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado Democrático de Direito”.
Deixaria de notar a insofrível redação e a má escolha de palavras pelo comandante (“exaltar”?!, “que nada contribuirá”?!) se este estivesse tratando de episódios como o golpe militar de 1964 (“descomedido emprego de violência de militares contra a vida de civis”, “sangue de brasileiros inocentes derramado”) ou a intentona do 8 de janeiro (“ruptura de preceitos constitucionais organizadores e basilares das Forças Armadas”, “patrimônio público destruído”), não de uma rebelião negra contra o mesmo procedimento dispensado por Pilatos a Jesus. Ocorre que, acompanhando as outras Forças, a Marinha mantém a tradição de comemorar 1964 como uma “revolução”; e, também acompanhada das outras Forças, deu guarida ao 8 de janeiro, quando pressionou as instituições, por meio de nota conjunta em novembro de 2022, a manter os acampamentos golpistas intocados. Nota essa, é bom recordar, que defendia a liberdade dos golpistas acampados em instituições militares: a gritaria e quebradeira golpista hoje, mesmo que de alucinados civis, merece mais compaixão e defesa da Marinha que as costas e o gemido secular do marinheiro negro!
Seria racismo lacerar um negro?
É importante notar que Olsen, em sua carta, não está só igualando a justa rebelião contra a chibata aos golpistas; ele também mobiliza a hierarquia e a disciplina, como valores universais, acima das costas negras chibatadas. Acima, literalmente: que os marinheiros aguentassem o peso desses áureos valores até que, por convenção, eles pudessem se sustentar sem lacerar a pele negra!
O procedimento de desumanização geral que o comandante revela é bastante típico da mentalidade militar: o respeito à hierarquia, disciplina e coesão da Marinha está acima da vida do próprio marinheiro, ainda que em estado de paz, mesmo que tais valores pudessem ser – e seriam mais, de fato – perfeitamente preservados sem que costa nenhuma sentisse chicote algum. A coesão, assim, é só entre o açoite e a pele; a disciplina, a de suportar a tortura a que os subordinados devem ser submetidos; para enfim sustentar a manutenção da hierarquia entre os coturnos superiores e seus pescoços.
Observar tais coisas não é mero capricho analítico ou filosófico. Que esta seja a mentalidade do comando da Marinha – e, como mostrarei, também do Exército – implica num enorme risco não só para a própria tropa, para a civilização brasileira, para seu povo, mas também para qualquer concepção de Defesa nacional. Com que disposição um escravo defenderá um país que o escraviza? Com que disposição um esfomeado defenderá um país que não lhe alimenta? Com que disposição, enfim, mesmo um marinheiro profissional defenderá um país que o açoita? Em todos esses casos, o mais provável é que venha a ocorrer o contrário: que estes escravos, esfomeados e marinheiros eventualmente se rebelem contra esse estado de coisas, tal qual fez Cândido em 1910. Quando os comandantes tem tal obsessão com a atribuição de culpa aos revoltosos, mesmo após mais de 100 anos, revelam que sua defesa é voltada, precisamente, a preservar as mazelas de que eles são vítimas – caso contrário, partiriam em ataque às mazelas em si. Embora seja uma forma absurda de olhar ao País, é precisamente assim que pensa o grosso dos comandantes superiores de todas as Forças Armadas acerca de uma série de temas candentes, não só os estritamente militares: as reivindicações contra o racismo são uma tentativa de “dividir a sociedade” – mas não o racismo em si, que a divide muito além de qualquer tentativa. O problema da segurança pública nada tem a ver com a pobreza – portanto, a solução para a criminalidade é simplesmente a bala; o pobre é perenemente um inimigo em potencial, somente escapando de ser efetivamente inimigo se (e com sorte) aceitar sua própria miséria como fato dado tanto quanto os comandantes o fazem. As discussões em torno dos direitos sexuais, do feminismo, e a defesa do respeito às minorias são todas tentativas de desorganizar e transfigurar a Nação – não são simplesmente demonstrações de que a Nação é mais diversa que o que pretendia há algumas décadas, e do que seguem pretendendo os comandantes.
Ao fim e ao cabo, é este o sentimento basilar de doutrinas como a de Segurança Nacional, instaurada com a ditadura de 1964 e nunca seriamente revista, que vê no próprio povo a ameaça fundamental à segurança da Nação. Ao invés de defender a superação das contradições que podem levar o povo à revolta, a mentalidade militar é a de ver qualquer chispa de insurreição como um crime contra a Nação – Nação sem povo, portanto, essa que defendem; Nação não com os traços que tem, mas com os traços que eles, de cima para baixo, buscam impor a ela.
Mas há mais: se são fundamentais às organizações militares noções como a de hierarquia e disciplina, também são – ou deveriam ser – as noções de responsabilidade e comando. Se a pena aplicada ao marinheiro negro era a sucessão de chibatadas, por seu terrível ato de indisciplina, qual deveria ser a punição ao comandante que manda aplicar a punição arcaica, incorrendo na mais absurda irresponsabilidade – esta sim causadora do fracionamento da tropa – e demonstrando, assim, ser incapaz de assegurar a voz comando, a não ser pela mais atroz tortura? O comandante João Batista das Neves, afinal, não incorreu somente em desonra ao mandar chicotear o marinheiro Menezes; incorreu também em crime, na medida em que multiplicou por dez o castigo máximo previsto pela própria Marinha[1]. Ordens absurdas e ilegais não devem ser cumpridas: absurdas e ilegais em si, as chibatadas foram decuplicadas. Mas se João Cândido e seus companheiros enfrentaram a morte, a escravidão, a prisão ou uma vida de humilhações por seu inaceitável crime de rebelião (ainda que tivessem sido anistiados!), o comandante João Batista das Neves, justiçado quando tentou retomar o controle do navio Minas Gerais, teve como pagamento de seu crime a promoção post mortem a almirante. Não envergonha a Marcos Sampaio Olsen que um torturador criminoso como João Batista tenha alcançado sua patente por tais meios? São estes os “atributos morais e profissionais” que a Marinha busca transmitir hoje a seus componentes e ao povo brasileiro, o de que o crime merece a promoção e a traição a honra? Olsen escreveu que “‘resta notável diferença entre reconhecer um erro e enaltecer um heroísmo infundado”; aparentemente, a Marinha deixa de reconhecer o erro e enaltece a vilania, enquanto pisa a memória do herói. Pela própria lógica de Olsen, uma Marinha que não queira ser reconhecida como racista deveria retirar a promoção do criminoso comandante João Batista – mas é o próprio Olsen quem, ao invés disso, insiste em chamar os marinheiros de “abjetos”.
O comandante Olsen, por fim, garante que não se trata de racismo, mas de “fatos” ou “mérito”. “O que se colocou na discussão é que a posição da Marinha era de racismo, discriminadora. Absolutamente, não é isso. A Marinha é uma instituição que se posiciona pelo mérito”, disse ele. Méritos de João Batista: chicotear ilegalmente marinheiros negros. Prêmio: promoção a almirante. Méritos de João Cândido: organizar revolta contra medidas ilegais. Prêmio: promessas não cumpridas, prisão, tentativa de assassinato, desterro, perseguição em vida e na morte. Aqui é onde lé e cré se juntam: qual é a cor, no Brasil, cujo sangue pode se relativizar sob a sombra meritosa? Qual é a cor que permite que a concretude da laceração epidérmica seja atenuada pela subjetividade de “méritos” ou pela abstração de “disciplina” e “hierarquia”? Só uma cor: aquela dos tomados como coisa, objeto, inumanos, a cor negra; a cor dos homens em relação aos quais os valores tomam ares de homem, sujeito, criatura; tomam ares de humano, ares brancos. Chibatar um negro em defesa da hierarquia e da disciplina é dizer, simplesmente, que os valores, em toda sua carga abstrata, têm mais alma e coração que este negro de carne e osso: é desse tipo de coisificação dos homens e da humanização das coisas, almirante, que decorre o racismo a que a Marinha demonstra se apegar ainda hoje!
Sem povo não há Nação, e sem Nação não pode haver Forças Armadas; se estas últimas, em suposta defesa da segunda, tomam o primeiro como não-humano, não está claro que esta Nação defendida é restrita à indilarecável pele branca, e que estas Forças Armadas não passam, portanto, de uma gangue supremacista, uma Ku Klux Klan profissionalizada? Esta era a Marinha de 1910: é a esta Força que a Marinha de hoje prestará respeitos, enquanto tenta impedir homenagens a João Cândido? Sendo assim, em que medida as duas organizações diferem?
Não é só a Marinha
As contas abertas com o passado e o racismo, no entanto, não são problemas exclusivos da Marinha. Também são déficits do Exército Brasileiro, considerado, com pouca razão, mais avançado no que tange à questão racial.
O problema é tão profundo que envolve o próprio mito de criação da Arma. Desde 1994, por iniciativa do então ministro do Exército, Zenildo Gonzaga de Lucena, o Exército Brasileiro – em parte para se contrapor à Marinha – considera não ter nascido com a Independência, em 1822, mas sim 174 anos antes, na Batalha de Guararapes. A razão para o conflito ocorrido na Capitania de Pernambuco entre 1648 e 1649 ser reivindicado pelo Exército como data de sua fundação (Dia do Exército) está relacionada a quatro questões: primeiro, como já dito, concorrer com a Marinha, no sentido de reinvindicar maior antiguidade; segundo, estabelecer uma lógica em que a Nação nasce do Exército, e não o contrário – a página do Comando Militar do Nordeste afirma, por exemplo, que Guararapes foi “o “santuário e berço da nacionalidade e do Exército Brasileiro”; terceiro, mobilizar o mito do “combate ao estrangeiro”, neste caso holandês; por fim, um apelo ao mito da “união das três raças em armas, contra o invasor holandês”, já que houve, nesta batalha, comandantes e combatentes negros e indígenas (embora submetidos ao comando português). Há um aspecto, no entanto, que é central a tal narrativa mitológica: o preterimento do Quilombo dos Palmares.
De fato, se formos considerar os quatro elementos anteriores – “união das três raças” em armas, combate ao estrangeiro, o mito do berço da nacionalidade a partir desses fatores, e a reivindicação de uma antiguidade maior da força –, haveria uma série de episódios anteriores a Guararapes que poderiam ser mobilizados pelo Exército. Guararapes, no entanto, é evento contemporâneo a Palmares, e se liga à história de combates contra Palmares: aqui está o central da mitologia mobilizada três séculos depois.
Já na “Relação das Guerras Feitas aos Palmares de Pernambuco”, documento encaminhado ao governador D. Pedro de Almeida, a relação entre Guararapes e Palmares é estabelecida diretamente. A carta, que trata dos combates contra o Quilombo entre 1675 e 1678, é aberta com uma ode a Guararapes, e ao longo dela é revelado que as tropas e os comandantes de Guararapes – inclusive as de Henrique Dias, o comandante negro, e então sob o comando de Manuel Lopes, e as de Felipe Camarão e Diogo Camarão, comandantes indígenas – estiveram envolvidas na luta contra Palmares. Como Laura Pereza Mendes recupera em “O serviço de armas nas guerras contra Palmares”, o uso de elementos negros e indígenas no combate ou nas tentativas de paz com Palmares cumpria uma função tripla: além de serem soldados experimentados, sabiam melhor a língua falada em Palmares e “eram exemplos de como a ‘gente preta’ era tratada ‘debaixo da nossa obediência’ [a colonial]”. É dizer: o terço dos Henriques era instrumentalizado então com um certo argumento de representatividade frente aos palmarinos, com o fim de convencê-los à paz!
Leia também – João Cândido ainda apavora o comando da Marinha
A formação da República de Palmares é muito anterior à Batalha de Guararapes. Mas, ao contrário de Guarapes, Palmares efetivamente estabeleceu uma sociedade relativamente complexa, com estruturas sociais funcionais, economia própria e com longa permanência histórica. Como Guararapes, no Quilombo também se encontravam as “três raças”, e também estas estavam unidas pelo elemento militar. Ao optar por Guararapes como mito de criação, o Exército escolhe ignorar Palmares, priorizando, assim, na sua construção mitológica, as mesmas tropas que combateriam a “desordem” palmarina: o Exército Brasileiro afirma seu nascimento, e o nascimento da Nação que dele decorreria, em oposição frontal à resistência negra e à Nação negra – negra não num sentido racialmente estrito, já que este não era o caso do Quilombo; mas negra no sentido de negação ao Brasil da “ordem”, o Brasil da escravidão; o Brasil colonial; o Brasil em que o a integração do negro e o indígena em armas até era permitida, contanto que subordinados (à escravidão ou ao comando branco); o Brasil cujo norte era não só branco, mas português. O mito de Guararapes, assim, é a afirmação de uma nacionalidade decorrente do colonialismo, uma nacionalidade que “se liberta” do colonialismo numa progressão afirmativa que “supera” a dependência a longo prazo (e que se opõe ao elemento holandês, “invasor”, mas não ao português, “nativo”, “gente nossa”), não uma nacionalidade que só pode existir como tal no rompimento com o colonialismo. Certamente nossos generais opõem-se a um certo culturalismo estrito e ao “identitarismo”, mas não há culturalismo e identitarismo mais pronunciado que este.
Essa construção é fundamental na medida em que contrapõe, também, os elementos de “ordem” e “desordem” interna. A já citada Doutrina de Segurança Nacional estabelecida na ditadura tem seu gérmen, afinal, na escravatura: o negro escravizado era o “inimigo interno” de então, o perigo para o regime colonial e depois imperial. Talvez a mais importante figura a relacionar a questão da escravidão à da defesa tenha sido José Bonifácio, em sua “Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa”, escrita em 1823, em preparação para a Constituinte de 1824. Nessa carta, em que defende uma abolição “lenta, gradual e segura” da escravidão, sob argumentos morais intragáveis, Bonifácio faz uma precisa relação entre a escravidão e a defesa, argumentando que a permanência do escravismo significava a criação contínua de “inimigos domésticos […] que nada tem que perder, antes tudo que esperar [de] alguma revolução como a de S. Domingos [Revolução Haitiana]”. Apela, por fim: “Generosos cidadãos do Brasil, que amais a vossa Pátria, sabei que sem a abolição total do infame tráfico da escravatura Africana, e sem a emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará a sua independência nacional, e segurará e defenderá a sua liberal Constituição; nunca aperfeiçoará as raças existentes, e nunca formará, como imperiosamente o deve, um exército brioso, e uma marinha florescente. Sem liberdade individual não pode haver civilização nem sólida riqueza; não pode haver moralidade, e justiça; e sem estas filhas do Céu, não há nem pode haver brio, força e poder entre as Nações.” Um Bonifácio assustado com o Haiti assim defendia a “via reformista” para o problema da escravidão, que enfraquecia a Nação. Como sabemos, a abolição só viria em 1888, seis décadas depois.
Em boa medida, embora moralmente distorcidas, as considerações práticas de Bonifácio se revelariam corretas, ao menos do ponto de vista das classes dominantes, com o início da Guerra do Paraguai. Nos primeiros momentos da guerra, o Exército, aviltado pelo Império, demonstrou-se insuficiente; apelou-se, assim, à Guarda Nacional, às polícias e à campanha dos Voluntários da Pátria, num momento de euforia patriótica. À medida que as difíceis condições nos campos de batalha paraguaios se revelavam, o furor patriótico diminui, os voluntários rareiam, ao passo que crescia a demanda de soldados. Cresce, assim, a captura de homens, especialmente de escravos ou, ainda que libertos, advindos do mais baixo degrau social do Império, para servir no Paraguai, chegando-se mesmo à solução da simples compra de escravos pelo Império para serem convertidos em soldados no Paraguai.
O Paraguai demonstra, no final do século 19, a um Exército Brasileiro que hoje reivindica Guararapes como gérmen da nacionalidade, que a manutenção da escravatura era um impeditivo à Defesa nacional tanto quanto um impeditivo à modernização (ainda que conservadora) das bases econômicas do País. Assim como um país de escravizados não poderia ser um país de soldados, um país de escravizados não poderia estabelecer um mercado interno de monta, nem liberar o capital financeiro associado ao escravismo para o desenvolvimento industrial, o que prejudicava a Defesa também em outro aspecto, isto é, na sua modernização bélico-tecnológica. Algo que, notemos, Bonifácio já observava em 1823, em que pese seu conservadorismo na própria proposta da abolição. Além desses elementos, como Rodrigo Goyena Soares lembra em seu artigo “Os militares e os usos políticos do abolicionismo”, os setores que defendiam posturas social-darwinistas no século 19, proponentes da ideia de que o desenvolvimento econômico brasileiro dependia da importação de mão de obra europeia, seja na sua versão mais abertamente racista – da defesa de um “branqueamento” (ou, para usar o termo de Bonifácio, “aperfeiçoamento”) racial da Nação – ou culturalista – presente na ideia de que o imigrante europeu traria na bagagem um nível cultural superior, mais voltado à industrialização –, também viam na manutenção da escravatura um impeditivo. Por paradoxal que possa parecer, havia um sentido objetivo para que setores que defendiam a eugenia – bastante popular à época, não só no Brasil, mas também na Europa e Estados Unidos, como uma doutrina “científica” – defendessem também o fim da escravidão: para que houvesse um maior fluxo de imigrantes europeus, o trabalho retirado à força do negro escravizado tinha de ser interrompido.
No caso do Exército, essa questão não era nada desprezível. Como escreve Goyena, “o oficialato, não sem interpor críticas à classe dominante, advogava a ampliação do fluxo migratório europeu, em primeiro lugar, porque se acreditava que haveria, assim, uma purificação do sangue nacional em detrimento da escravatura, julgada preguiçosa e moralmente imprópria. O pano de fundo, todavia, era o prestígio da caserna. A defesa da imigração e as críticas ao trabalho servil davam-se a fim de enaltecer a corporação. Se atalhados pela obrigatoriedade e pela universalidade do serviço militar, a imigração e o declínio do cativeiro poderiam redundar numa recomposição das Forças Armadas, que, então, deixariam de ser percebidas como depósito dos socialmente indesejados ou como destino de último recurso.” Assim, não raro esse discurso modernizador (do Estado, da economia, e do próprio Exército, passando pela não desprezível questão do recrutamento) se coadunava com posições abertamente racistas. Goyena cita artigo da Tribuna Militar, para quem os escravos eram “uma raça preguiçosa, voluptuosa, sem energia por educação e herança, que só pode ser estimulada por algum aguilhão”.
Apesar de todas essas razões, o motivo fundamental do “abolicionismo militar” estava na luta pelo poder, como Goyena demonstra. Aqui houve uma aliança de duas vias; dos civis abolicionistas com os militares (cientes da importância de uma organização armada para o avanço de suas reformas) e dos militares em relação aos abolicionistas, na medida em que viam no fim da escravatura, além de todos os elementos já citados, também uma fonte de geração de crises políticas frente o Império e um aríete para o desmantelamento do sistema político e da burocracia imperial, em muito formada pela classe escravocrata. “Os meses que se seguiram à Abolição pareceram, pelo menos em parte, testemunhar o acerto da estratégia política castrense. A presença escravocrata nos gabinetes e na Câmara de Deputados esmoreceu sobremaneira. Em meados de junho de 1889, formou-se a última composição ministerial do Império, que não teve sequer uma figura ligada à antiga classe senhorial”, escreve Goyena. Em outras palavras, a abolição efetivamente serviu para excluir a fração escravocrata, em boa medida, do bloco do poder.
O abolicionismo seria usado ainda como ponto de geração de crises com o Império. Essa estratégia ficará bastante evidente durante os anos da Questão Militar (1883-87), em que uma questão corporativa – a contribuição dos militares ao montepio (Previdência) – vira elemento de disputa entre os militares e a monarquia. Em 1883, o tenente-coronel Sena Madureira escreve duros artigos em jornais contra a proposta, e é punido. No ano seguinte, o mesmo Sena Madureira promove uma visita do Dragão do Mar, o jangadeiro abolicionista Francisco do Nascimento, à Escola de Tiro do Rio de Janeiro. Mais uma vez é punido e enviado para o Rio Grande do Sul. Em 1885, outro oficial, o coronel Augusto da Cunha Matos, denuncia seu superior como corrupto. A polêmica se estabelece mais uma vez: Sena Madureira parte em sua defesa, assim como Deodoro da Fonseca. Em 1886, três anos antes da Proclamação da República, Deodoro será comemorado na Escola Militar da Praia Vermelha. No ano seguinte, é ovacionado pelos cadetes, junto a Sena Madureira, quando estes chegam ao Rio de Janeiro. O ministro da Guerra então, o civil Alfredo Chaves, é finalmente demitido, em 12 de fevereiro de 1887: por meio de polêmicas constantes, seja em relação à corrupção, à Previdência ou à escravidão, os militares derrubam um ministro civil. É neste contexto que o Clube Militar é fundado e Deodoro é escolhido como seu presidente. Nesta condição, envia à princesa regente, D. Isabel, uma carta exigindo que os soldados do Exército não fossem mais utilizados na captura de escravos. Como é sabido, Isabel assinará a abolição no ano seguinte, em 13 de maio de 1888, às portas da Proclamação.
O bloqueio das espadas
É o período posterior à Proclamação, de uma República comandada por militares, que dá provas de que o abolicionismo militar foi movido muito mais por razões econômicas e uma estratégia de conquista do poder que regido por quaisquer considerações humanitárias.
As facilidades criadas ainda pelo governo provisório, sob comando de Deodoro da Fonseca, para o influxo de imigrantes europeus são enormes. O Decreto 58-A, de 14 de dezembro de 1889 – isto é, um mês após a proclamação – concedia a todos os cidadãos estrangeiros residentes no Brasil na data da proclamação da República a nacionalidade brasileira, e a estendia aos que, após essa data, residissem no País por dois anos. Eram assegurados ainda “todos os direitos civis e políticos dos cidadãos natos” aos estrangeiros naturalizados, incluindo a possibilidade de “desempenhar todos os cargos públicos, exceto o de Chefe do Estado”. O influxo de imigrantes, especialmente europeus, é enorme: se considerarmos somente os anos que estiveram sob presidência militar direta (Deodoro, 1889-91; Floriano, 1891-94; e Hermes, 1910-14), chegaremos ao número de 1,3 milhões de imigrantes adentrando o Brasil, de acordo com o IBGE. Se compararmos estes nove anos sob administração militar com os 50 anos que vão de 1880 a 1930, constataremos que 33% do influxo migratório ocorrido no período se deu somente neste espaço de tempo em que militares ocuparam a presidência. Daí se poderá constatar o quão comprometida a caserna estava, afinal, com a concepção de branqueamento do povo brasileiro.

Mas não era só neste aspecto que o racismo castrense se manifestava: enquanto as campanhas para trazer europeus frutificavam, sem que o ex-escravo tivesse o mínimo de amparo estatal no pós-abolição, efetivamente se estabelecem medidas de bloqueio e repressão à população negra. O código penal de 1890, por exemplo, estabelece um capítulo específico aos crimes dos “vadios e capoeiras”, que em seu artigo 402 criminaliza “fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem”. Tratava-se também de um código bastante restritivo em termos políticos: greves poderiam ser enquadradas no artigo 206, com pena de prisão de um a três meses (dois a seis meses para os líderes), e seis meses a um ano no caso de haver violência; as sociedades secretas, proibidas, eram consideradas “a reunião, em dias certos e determinado lugar, de mais de sete pessoas que, sob juramento ou sem ele, se impuserem a obrigação de ocultar à autoridade pública o objeto da reunião, sua organização interna, e o pessoal de sua administração”; o estabelecimento de oficinas de impressão de livros “sem prévia licença da intendência ou Câmara Municipal do lugar, com declaração do nome do dono [etc]”, era punível com multa, bem como “afixar em lugares públicos, nas paredes e muros das casas, sem licença da autoridade competente, cartazes, estampas, desenhos [etc]”. A mendicância também era crime – um crime com cor num país que substituiu o trabalho escravo pela massa europeia chegada aos portos sem medidas de integração ou compensação. Quanto ao direito de votar e ser votado, a Constituição de 1891 reconhecia como eleitores os homens maiores de 21 anos, com exceção dos mendigos, analfabetos e praças: três categorias nas quais a população negra, dado o abandono pós-abolição, se via sobrerepresentada. Estes não poderiam tampouco ser eleitos, embora esse direito fosse reservado até ao estrangeiro com residência de dois anos no País.
Se o abolicionismo militar não era movido por teses social-darwinistas, o influxo dos imigrantes europeus certamente foi um deslize bastante profundo dos governos militares do início da República. Se era movido por sentimentos humanitários, estes governos certamente falharam enormemente em levá-los à esfera prática. O abolicionismo militar não só foi uma bem-sucedida e oportunista forma de acesso ao poder aos militares; foi também, assim como Guararapes, o gérmen da atitude militar contra o Brasil negro, que se mantém ainda hoje. E se a chibata que seguia mutilando negros em 1910 era da Marinha, a caneta de Hermes da Fonseca, que rompeu e traiu a anistia aos marinheiros negros, era do Exército: até nisso as Forças preferiram se unir.