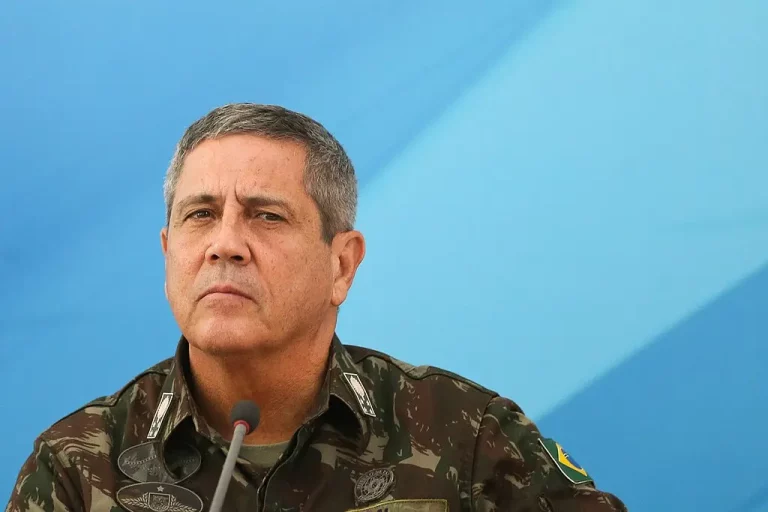O capitalismo, travestindo de ordem a morte e o sofrimento de milhões, tem servido como farsa de civilização aos bem-aventurados desde seu surgimento. Aos que, por sorte ou crimes históricos, não encontram-se à base da pirâmide, cabe viver até certo ponto como homem civilizado, livre das leis e dos riscos presentes na natureza. Mas para a esmagada maioria que sustenta o mundo com seus corpos, “é a luta darwiniana pela existência individual transposta da natureza para a sociedade com fúria potenciada. A posição natural do animal aparece, assim, como ponto culminante do desenvolvimento humano.”
O que Engels denunciara há mais de cem anos permanece atual, apesar das inúmeras transformações pelas quais passou a sociedade. As classes dominantes, ainda ocupando tronos que usurparam de deuses assassinados, tecem o fio da vida de cada ser humano, gerindo sóbria e racionalmente, com precisão matemática, o fluxo de almas ao Hades. Sua ordem, como dizia Galeano, “é a diuturna humilhação das maiorias, mas sempre é uma ordem – a tranquilidade de que a injustiça siga sendo injusta e a fome faminta.”
Em tempos de crise, no entanto, a farsa tende a perder suas cores, tornando-se transparente. Os cada vez mais inócuos apelos à normalidade institucional pouco ressoam entre os que conhecem de perto a morte severina – de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia – e estes buscam em outras figuras a legitimidade e confiança que perderam. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. A morte, praticamente desmascarada, ganha novos e fiéis adoradores; estes, cansados da passividade no tear capitalista, pensam recuperar sua soberania tornando-se braços armados do Capital. Veem no caos e na matança a chance de serem os heróis que nunca foram em suas curtas e medíocres vidas como servos de Mamon.
Todos os mortos levam a Roma
Tem sido fácil reconhecer os arautos brasileiros de Hades nas últimas semanas. A indiferença presidencial frente ao número crescente de vítimas do coronavírus tem feito ecoar o “E daí?” bolsonarista em nossos pesadelos, e a histeria dos poucos militantes governistas contra profissionais da saúde projetou sombras agourentas no concreto de Brasília. Mas à nova palavra da moda – “ucranizar” – não se tem dado a devida atenção. O significado do termo já está claro o suficiente para leitores de longa data da Revista, mas cabe refrescar-lhes a memória: ucranizar significa, em última instância, armar milícias neonazistas para a perseguição de minorias e adversários políticos, em meio a um desmantelamento cada vez mais violento do Estado nacional. O uso deste termo no Brasil assume cores ainda mais sinistras com o estabelecimento de um acampamento paramilitar nos arredores de Brasília. Exaltar o exemplo ucraniano implica exaltar o massacre de Odessa, no qual pelo menos cinquenta pessoas, incluindo mulheres e menores de idade, morreram dentro de um sindicato incendiado por militantes de extrema-direita. Os que promovem o exemplo ucraniano, assim como seus ídolos, não se contentam em assistir à morte inexorável de todos sob a matemática liberal, mas desejam levar os machados e tochas que selarão seus destinos.
Como de praxe, basta seguir a trilha de corpos para chegarmos a Roma. As milícias neonazistas ucranianas, hoje incorporadas ao Ministério do Interior e à Guarda Nacional de seu país, foram treinadas e financiadas por militares norte-americanos, e ironicamente retornam ao ninho para treinar supremacistas brancos na pátria da democracia e da liberdade. Os Estados Unidos da América, grande inspiração e amor não-correspondido de Jair Bolsonaro, têm testemunhado o crescimento irrefreável de organizações de extrema-direita, que atuam de forma cada vez mais agressiva e fantasiam com uma possível guerra civil iminente – preparando-se inclusive para iniciá-la se for necessário. Parece que até a nossos adversários apocalípticos falta originalidade, bastando-lhes importar mais uma vez o que receita o irmão do Norte.
“Como uns porcos famintos, anseiam pelo ouro”
Mas engana-se quem pensa que este é um ponto fora da curva civilizatória capitalista, principalmente no que tange nossa hemorrágica América Latina. O processo histórico que nos levou ao que convém chamar civilização construiu-se em cima de incontáveis pilhas de cadáveres: calcula-se que não menos de 70 milhões de indígenas viviam nas Américas quando estas foram invadidas pelos conquistadores europeus, restando apenas 3,5 milhões após 1 século e meio. Tamanho massacre teve como único fim o enriquecimento de assassinos; como vampiros, tornaram nosso sangue e riquezas maldição, sugando tudo a seus portos e legando-nos o eterno papel de subalternos.
A dita civilização europeia, reivindicando-se emissária de Cristo e do progresso, foi na verdade negação do que havia, desintegrando sociedades bastante desenvolvidas em ruínas irrecuperáveis. Tenochtitlán, magnífica cidade asteca construída sobre ilhas artificiais, com suas grandiosas pirâmides e aquedutos, foi arruinada pelos espanhóis, que legaram um grande lago ressecado e um país que levaria quatro séculos para alcançar o tamanho populacional de outrora. Os intelectuais nativos que não foram destroçados pela pólvora ou apodrecidos pela varíola foram levados para morrer nos altares pagãos que se erguiam para a colheita do ouro; os espanhóis, que diziam-se seguidores de Jesus, na verdade adoravam Mamon, e tornavam-se como animais a seus pés. “Como se fossem macacos, sentavam-se com gestos de prazer e levantavam o ouro, como se aquilo lhes renovasse e iluminasse o coração. É certo que desejam aquilo com grande sede. Os corpos deles se incham de uma fome furiosa por aquilo. Como uns porcos famintos, anseiam pelo ouro”, diz um texto náhuatl preservado no Códice Florentino. Ironicamente, eram estes mesmos porcos famintos que debatiam elegantemente a metafísica da alma indígena enquanto chafurdavam em suas tripas.
Os espanhóis não foram os únicos suínos, e tampouco foi sua fome somente pelo ouro: ansiavam por qualquer ídolo que pudessem adorar a troco de riqueza. O mesmo se repetiu com portugueses, ingleses, franceses e holandeses; o mesmo se repetiu em Ouro Preto, Ilhéus, Potosí e Havana; e o mesmo se repetiu com a prata, o açúcar, o cacau e o algodão. Tampouco nos falta exemplos na modernidade: são conhecidos os crimes cometidos pela nossa ditadura militar contra os indígenas brasileiros, que vão de bioterrorismo à criação de campos de concentração, e mesmo em nossos governos mais progressistas não deixou de avançar as cifras de mortos entre a população negra e periférica do país. A divisão internacional do trabalho nos tornou eternamente capatazes, gerenciando o sofrimento de nosso próprio povo a serviço de nossos senhores – antes europeus, hoje norte-americanos – e a morte nunca deixou de fazer parte do pacote.
As encarnações de Mamon
Entre os inúmeros dizeres eternizados de Jesus, encontra-se este: “ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.” (Mateus 6:24) Mamon não era uma divindade existente, mas a personificação e deificação do Dinheiro; Cristo já denunciava o fetichismo que faz do dinheiro um ídolo, com insondável e soberana vontade própria. Ao cristão não deveriam surpreender os mantras neoliberais, que proclamam a transcendência do deus-mercado e denunciam a blasfêmia que é colocá-lo sob rédeas, pois são expressão pura da idolatria capitalista.
Há, porém, uma expressão ainda mais pura do serviço a Mamon. Nas últimas semanas, Alex Jones, grande guru da extrema-direita conspiracionista americana, declarou estar pronto para “devorar seus próximos/vizinhos” no caso de uma guerra civil. Apesar de ter dito que era uma ironia, o argumento lidava com a possibilidade de faltar comida para sua família: Jones estaria pronto para enforcar, estripar e esfolar o seu próximo em busca de recursos. Não é impossível agradar a dois senhores por mera questão de prioridades; é impossível porque os dois senhores são fundamentalmente antagônicos. O reino de Deus é cooperação e altruísmo, pulsão de vida eternizada na máxima de Cristo: “ame a teu próximo como a ti mesmo”. Já o reino de Mamon é a barbárie sob o mármore, a competição cruel da lei da selva disfarçada em letra morta, eternizada na máxima de Jones: “devore o seu próximo”.
Conforme caem as cortinas, e o reino de Mamon se mostra como é, podemos rejeitar o domínio da morte que este representa, ou abraçá-lo e tornar-nos seus lacaios. Cristo virá, e dirá aos primeiros:
“Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver. (…) E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” (Mateus 25:34-36, 40)
São lançados no fogo os que, embotados por sua idolatria, não veem a imagem de Deus sofrendo ao seu redor, e deixam de alimentar os famintos, vestir os nus e hospedar os estrangeiros (Mt 25:41-46). Mas o que resta aos emissários demoníacos que, frente à Verdade, preferem degolar os famintos, roubar aos nus e exterminar os estrangeiros? Mateus não nos diz. Talvez até Cristo se surpreenda com tamanha decadência.