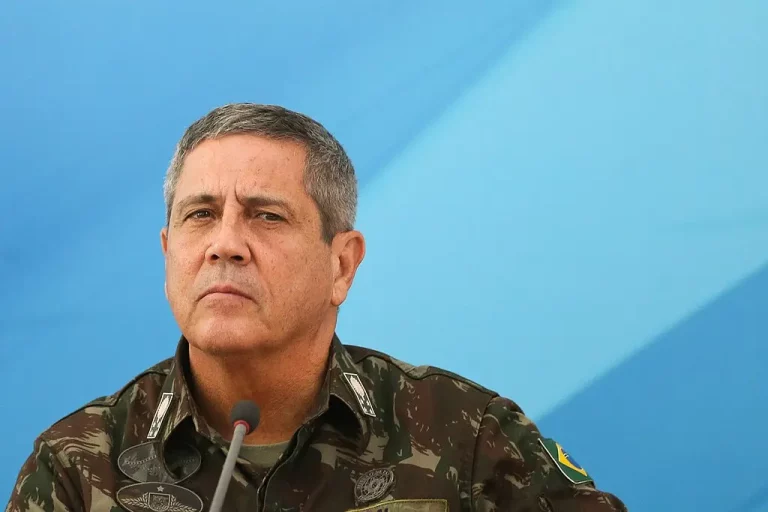Repórter itinerante em alguns dos principais jornais do Brasil, o baiano Leandro Fortes é um dos últimos soldados versados na arte de uma guerra que ele próprio acredita ter se “perdido deliberadamente”: o jornalismo reconhecido como atividade intelectual dentro das redações. Jornalista e escritor de pena afiada, Leandro, por pouco, não ingressou em outro front – ele quase foi cadete na Escola Preparatória de Cadetes do Ar.
Após mais de 30 anos de ofício de repórter, com passagem por O Globo, Estadão, Correio Braziliense, Época e Carta Capital, hoje Leandro combate na trincheira das mídias alternativas – ou, como ele prefere chamar, “alternativas à mídia”. É nelas que encontrou seu espaço de militância pelo bom jornalismo. É onde constrói sua resistência aos discursos hegemônicos da mídia comercial, que, segundo o jornalista, passou a “atuar de forma absolutamente criminosa” durante os governos Lula e Dilma. O histórico controle da narrativa por parte dessa mesma mídia agora se vê contestado, no governo Bolsonaro, ante o fenômeno das fake news nos meios digitais e um presidente da República hostil à imprensa.
Para contar um pouco de sua trajetória profissional e sua interpretação de como os meios de comunicação contribuíram para forjar o Brasil de Bolsonaro, Leandro Fortes concedeu uma entrevista exclusiva à Revista Opera.
Revista Opera: Em uma entrevista sua para o documentário O Mercado de Notícias (2014), você afirma: “Você só se torna um bom repórter depois de muitos anos trabalhando como repórter”. Quando você, Leandro, se percebeu um repórter de fato? Em que momento da sua vida veio esse estalo?
Leandro Fortes: Comecei no jornalismo em 1986. Eu tinha 19 anos e comecei trabalhando numa redação de um jornal pequeno lá de Salvador, que se chama Tribuna da Bahia. Um jornal pequeno, que até hoje existe e continua pequeno, pobre, meio precário, mas que foi uma escola muito importante para mim. Queria ser jornalista, mas tinha uma experiência militar. Tinha estudado numa escola militar, chamada Escola Preparatória de Cadetes do Ar, um internato em Barbacena onde fiz o Ensino Médio. Mas, ao longo desses três anos, eu percebi que não queria ser um militar. Eu gostava muito de escrever, era um jovem agitado com literatura. Não tinha nada a ver com a vida militar. Então, fui me preparando para fazer alguma coisa que tivesse a ver com o ambiente de conhecimento e leitura e me veio o estalo de que fazer Jornalismo talvez fosse a melhor opção. Eu gostava muito de notícia, revista, jornal.
Quando terminei o curso em Barbacena e voltei para a Bahia no final de 1984, fiz o vestibular, passei para a UFBA e fiz o curso de Jornalismo. Nele, comecei a me interessar profundamente pela atividade de reportagem. Tinha professores que eram jornalistas, e aquilo me animou muito. Consegui rapidamente me inserir nesse jornal como estagiário e lá fiquei trabalhando. Naquela época, era mais flexível – se tivesse um jeito, já virava repórter como estudante mesmo e já ia trabalhando. Ali me apaixonei pela profissão. O ambiente de redação me seduziu muito. Na hora que eu entrei na redação, vi aquele monte de máquina, as pessoas escrevendo, tinha uma fumaceira – o cigarro era permitido dentro das redações, e as pessoas fumavam todo o tempo. Era um ambiente superembaçado, que não tem nada a ver com as redações que substituíram esse modelo, que são as redações com computador, mais silenciosas e assépticas, onde proibiram o cigarro. Então, era uma coisa um pouco infernal. Gostei demais daquilo e me joguei de cabeça. Era muito jovem e comecei a aprender com os jornalistas mais antigos, mais velhos e experientes. Ali me percebi repórter e trabalhei como repórter por 30 anos. Depois dei um tempo disso, comecei a trabalhar com marketing digital. Hoje sou dono de uma agência em Brasília – CobraCriada – que trabalha com informação dentro do modelo de redes sociais. Temos uma equipe que produz conteúdos para clientes que desejam fazer sua comunicação além da mídia normal.
Revista Opera: Em uma live analisando o governo Bolsonaro, você disse que uma das premissas do jornalista é oferecer ao público as ferramentas intelectuais críticas para que ele possa criar um discernimento próprio sobre o mundo onde ele vive. Por esse critério, é possível afirmar que a maioria dos brasileiros já teve contato alguma vez com jornalismo de fato?
Leandro Fortes: Primeiro, deixa eu esclarecer de fato o que acho que é o trabalho de jornalista. É um trabalho muito difícil, complicado, que exige substância intelectual para ser feito. Basicamente o que nós fazemos, Gabriel? A gente entra no mundo real, capta uma série de informações, recolhe documentos, faz entrevistas, faz observações, anotações, papéis, planilhas, o diabo a quatro. Quando você tem tudo isso na mão, terá que aplicar um filtro crítico de observação, ou seja, depurar uma quantidade enorme de informações – algumas, às vezes, muito complexas – e criar as relações entre elas. Depois que você faz isso na sua cabeça, na sua estrutura mental, precisa transformar tudo num modelo, que é a linguagem jornalística, que, ao mesmo tempo, é complexa porque ela cuida de um encadeamento de informações – e não é qualquer um que sabe fazer isso, só os jornalistas –, e essa linguagem deve ser simples e concisa de tal forma que se torne acessível para a média das pessoas que vão ler. Essas pessoas que vão ler, assistir ou ouvir esses conteúdos sistematizados pelos jornalistas estão os esperando para entender o mundo no qual elas vivem. Mas, para isso, elas precisam receber essas informações de tal forma compartimentada para que possam discernir aquilo que está acontecendo.
Quando você começa a manipular informações e a massificá-las manipuladamente, você quebra esse acordo civilizatório entre jornalistas e seu público. Você começa a influenciar a cabeça das pessoas dentro do seu modelo e da forma de pensar do seu veículo de comunicação porque não deu a ela a oportunidade de fazer isso. Você só está massificando as informações e não as disseminando para que as pessoas possam ter um esclarecimento sobre o mundo em que vivem. Só que, por outro lado, há um problema. Para ter filtros pessoais para interpretar o mundo a partir de um conteúdo jornalístico, você tem que ter substância também. Mas, no Brasil, cada vez mais temos um déficit muito grave de leitura, e quem não lê não consegue acionar esses dispositivos, pois não tem, dentro da sua estrutura mental, as informações necessárias para criar esses filtros críticos. A pessoa não leu várias coisas, não observou várias coisas e não consegue estabelecer relações e equivalências. Ela recebe uma informação e a trata como verdade. Por que se faz tanto sucesso com fake news no WhatsApp? Porque o WhatsApp atingiu essa massa de população com absoluto déficit de leitura que nunca se informaram, nunca participaram de ações políticas e nunca se interessaram em destrinchar os fatores sociais. De repente, essas pessoas começaram a receber um mundo de informações facilmente digeríveis com filmes, memes, coisas engraçadinhas, uma violência disfarçada por arte gráfica e audiovisual. Elas começaram a absorver isso como quem nunca tinha absorvido nada.
Até então, toda a absorção que elas tinham do mundo vinha do Jornal Nacional, telenovelas e jogos de futebol. O acesso ao conhecimento era esse. O resto era vida cotidiana, o trabalho, a família. Não havia uma participação política de uma massa muito grande, até porque elas não se interessavam, e as informações que chegavam até elas eram muito tênues. De repente, elas começaram a se sentir parte do processo, mas da pior maneira possível, recebendo informações falsas, manipuladas e preconceituosas, que mexem nas suas engrenagens mais demoníacas. Seus demônios interiores mais violentos foram sendo suscitados e instigados pela extrema-direita. Antes, uma pessoa tratava seus preconceitos – o racismo, a xenofobia, a homofobia – de forma reservada e tinha vergonha de tratá-los em público por não ter segurança. Agora, ela passou a se sentir livre para expressar esses demônios sem nenhum filtro porque alguém estava dizendo para ela que não tinha nenhum problema. Uma das primeiras coisas que o Bolsonaro anunciou em seu discurso de posse era que ele estava vindo governar o Brasil para “acabar com o politicamente correto”. Esse parece um discurso muito interessante para boa parte da população que estava cansada de ser criminalizada por ser racista, por fazer piada de preto, de veado, de mulher, de deficiente físico. “Porra, era tão divertido e, de repente, eu não posso mais? Tinha que ficar em casa com medo, com vergonha, e, se falasse, tinha medo de alguém denunciar para a polícia.” Aí vem o cara que é o presidente da República e fala: “Olha, acabou o politicamente correto! Agora você pode botar seus demônios todos para fora”. E as pessoas começaram a botar.
Há um ponto de inflexão nisso que é interessante. Essa enorme massa de brasileiros desinformados, que gravitava em torno da TV Globo, foi estimulada a abandoná-la. O novo discurso da extrema-direita era de que a Globo fazia parte de uma estrutura social que “sempre apoiou a esquerda” e que estava detonando o bolsonarismo porque “é comunista”. Então, essa gente toda, que já tinha um cérebro já pequenininho fritado por esse bombardeio de fake news, abandonou a TV Globo, o que, a meu ver, foi pior ainda! Antes, pelo menos, assistindo ao noticiário e às novelas, eles tinham acesso a alguma informação. As novelas da Globo tinham um discurso bastante liberal do ponto de vista de costumes, em relação à homossexualidade e aborto. Os problemas passavam lá, e, querendo ou não, entrava alguma informação verdadeira nos telejornais de alguma matéria diferente, como do Cacco Barcellos, que é um puta repórter. Até isso, eles perderam! Essas pessoas passaram a se informar única e exclusivamente pelo WhatsApp, e é aí que mora o perigo. Por isso, o Bolsonaro oscila entre 35% e 40% de aprovação popular, que é justamente essa massa que só se informa hoje pelos canais do bolsonarismo. São pessoas de diversas faixas etárias, e você não consegue localizar muito bem onde elas estão, pois vão desde 16 anos até 80 anos. Estão em toda a parte da sociedade, em todos os estratos sociais – na periferia, na classe média, na alta sociedade –, e formam um monólito importante de todo governo fascista. Uma das características mais prementes do fascismo é de que ele trabalha com conteúdos irracionais. Um governo ou liderança fascista passa às pessoas agregadas a ele a sensação de que elas estão seguras porque ele está ali para resolver os problemas delas, com carta branca, inclusive, para resolvê-los de forma violenta, considerada necessária para enquadrar todos dentro de um novo sistema, do “novo homem”, da “nova humanidade”, conforme os preceitos fascistas costumam alardear. Esse é um dos nós que a gente tem na relação entre informação e a sociedade brasileira hoje.
Revista Opera: Já que você mencionou essa questão, vou perguntá-la agora. O bolsonarismo usa pautas de costumes para se posicionar como inimigo da Rede Globo, acusando a emissora até de ser “comunista” e “marxista cultural”. Ao mesmo tempo, a produção artística e o próprio jornalismo da Globo incorpora um discurso mais “liberal-progressista” nesses temas comportamentais. Estaríamos vendo uma replicação das “Guerras Culturais” dos EUA dos anos 1980 e a americanização da política brasileira?
Leandro Fortes: Acho que sim, guardadas as devidas proporções quanto às “guerras culturais” não só nos EUA, mas também na Europa naquela época. A Globo percebeu que se meteu numa enrascada. O baronato da mídia, junto com os grandes empresários e a classe dominante brasileira, vem tramando uma reversão do panorama econômico há muito tempo e conseguiu isso com o impeachment da Dilma e o golpe de 2016. Os planos dela foram retomados a partir do governo Michel Temer, que são de aplicação do modelo neoliberal no Brasil, talvez o mais selvagem já utilizado na história do mundo – de dissolução do Estado. É um pouco diferente até do que foi feito no Chile, que foi um processo de fragmentação do Estado, com a privatização e venda das estatais. Aqui está havendo uma destruição literal do Estado – às vezes, física –, e essas destruição física é comandada por um polo do governo Bolsonaro que é o do Paulo Guedes.
Ao mesmo tempo, a Globo está sob ataque do bolsonarismo por conta da sua pauta de liberdade de costumes, que ela sempre teve. A Globo sempre teve personagens homossexuais – às vezes, mais caricatos; às vezes, menos –, sempre tratou da lesbianidade, transexualidade, questão do aborto, de um monte de temas, pois a classe artística acaba influenciando a linha da TV Globo nessa parte de entretenimento. Mas na parte de jornalismo, ela sempre foi muito conservadora e foi uma das artífices – talvez a mais importante – do golpe de 2016 e jogou todas as fichas no Temer para eleger um candidato do PSDB e voltar ao que ela acreditava ser a normalidade do país em relação à mídia, que era o período até FHC, no qual o presidente da República se submetia como um cordeirinho aos interesses da Globo, que, no final das contas, eram os interesses do poder econômico no Brasil.
O bolsonarismo deu um nó nessa história porque eles queriam eleger o Alckmin e acabaram tendo que apoiar a eleição de um fascista – que não é só um fascista, mas um demente. Qualquer pessoa que observe o Bolsonaro falar, andar, se movimentar e discursar percebe que ele tem um gravíssimo problema mental, que é um pouco um problema de déficit cognitivo com traços de um psicopata. Ele não tem empatia, faz piadas de coisas horrorosa, faz comentários horrorosos e não parece ter sentimentos humanos. Ele se guia única e exclusivamente pelos seus interesses privados. Para isso, está fazendo o diabo com o país. Por que ele faz o diabo e, mesmo assim, continua no governo? Porque a mídia deu carta branca aos seus jornalistas, seus cães de guarda, para atacar o Bolsonaro no sentido dos maus modos. Tem matérias comentando que ele é grosso, sujo, porco, nojento, idiota, que faz estultices. Mas, ao mesmo tempo, essa mídia não pode atacar a agenda econômica porque essa agenda é dela! É dos bancos, dos rentistas, e essa esquizofrenia midiática acaba dando ao Bolsonaro o conforto de permanência no governo. Ele já descobriu há muito tempo que pode falar literalmente qualquer coisa que não partem para cima dele para impichá-lo. Há mais de 50 pedidos de impeachment na Câmara, mas nenhum vai para a pauta, pois, enquanto ele estiver com agenda econômica sendo tocada e enquanto tiver o poder de determinar ou não o andamento dessa agenda, ele vai continuar na presidência. É mais ou menos como Scheherazade e as 1.001 noites. A Scheherazade contava uma história toda noite para o xeque árabe, seu proprietário, para não morrer. Ela sempre deixava um finalzinho para outro dia e continuou por 1.001 noites contando uma história não terminava nunca. Enquanto ela fazia isso, permanecia viva com seu status e seus benefícios. É a mesma coisa que o Temer fez, prometendo e fazendo as coisas aos pouquinhos – por isso, não sofreu também um processo de impeachment. Bolsonaro dá sinais de que, se tirarem ele, a agenda econômica corre perigo porque há a possibilidade de a esquerda voltar ao poder. Aí, de novo, teríamos uma briga com os monopólios de mídia, com a classe dominante, com os militares. Bolsonaro joga com esse medo para manter, primeiro, o seu gado bem-tocado, alimentado e estimulado e não ter essa oposição midiática sob controle.
Revista Opera: No documentário O Mercado de Notícias (2014), você afirma que, durante os governos petistas, a imprensa brasileira passou a praticar “antijornalismo” e se aparelhou como uma “atividade partidária de oposição”. Você acredita que esse processo é particular da imprensa brasileira ou essa seria uma característica intrínseca à mídia comercial no capitalismo, em que os meios de comunicação sempre operam como legitimadores do poder econômico dominante?
Leandro Fortes: A imprensa no mundo todo sempre trabalhou dentro desses parâmetros de proximidade com o poder, de estabelecer narrativas com o poder e fazer oposição quando seus interesses são, de certa forma, agredidos. Interesses esses que sempre se coadunam com outras estruturas de poder. Quando eu dei essa entrevista, a gente vivia particularmente a questão dos governos do PT, em que a mídia atuava de forma absolutamente criminosa. Muitos jornalistas foram cooptados para essa atividade criminosa. Qual? Produzir conteúdo manipulado e mentiroso e massificá-los de tal forma que você manipulava a opinião pública contra um governo popular por conta das suas qualidades e não dos seus defeitos.
Eu lembro que a Folha de S. Paulo chegou a fazer uma matéria fazendo uma crítica feroz à distribuição de recursos da Comunicação Social do Palácio do Planalto a pequenos órgãos de imprensa pelo Brasil inteiro – pequenas rádios comunitárias, pequenos jornais, sites e blogs que estavam surgindo – porque isso não seria correto do ponto de vista privado. Ou seja, havia uma concepção da relação público-privado, que vem da história patrimonialista da relação da imprensa com o poder no Brasil. Achava-se que o dinheiro deveria continuar concentrado naqueles poucos veículos de comunicação que a vida inteira angariaram recursos da publicidade oficial, comandada pelo governo. Na hora em que se distribuiu um pouco dessa riqueza, houve uma reação violenta, pois essa redistribuição geraria um tipo de democratização para o qual a imprensa brasileira não se preparou. Ela sempre foi monopolista. Ela sempre trabalhou dentro de processos de oligopólios e sempre recebeu todo o dinheiro do Estado. Defendendo o Estado mínimo, mas mamando no Estado e tirando muito dinheiro.
E os governos do PT cometeram o erro de continuarem dando esse dinheiro. Para isso, você pensa: “Não, eu vou separar um bolo e vou distribuir um pouco para muita gente para termos outras vozes, inclusive que apoiassem o governo”. Porque ia todo o dinheiro para essa gente toda que dava pau, achacava, intimidava e chantageava o governo. Então, essa relação da mídia com o poder sempre foi incestuosa. O problema é que ela se tornou aguda demais nos governos do PT. A partir da posse do Lula em 2003 até o impeachment da Dilma em 2016, não houve paz no campo da mídia. Ela se aparelhou, se transformou, se bestializou, cooptou jornalistas que, inclusive, tinham históricos democráticos de luta contra a ditadura. Esses jornalistas foram cooptados por dinheiro e foram usados para massacrar, criar notícias mentirosas e distorcer informações para destruir o governo popular a mando dos seus patrões. Esse fato destruiu a profissão em si.
Transformou o jornalismo numa atividade subterrânea de serviçais, crápulas e canalhas. Nesse mesmo período, se você observar – sobretudo a partir do final dos anos 1990, mas algo que se acentuou muito nos governos do PT –, as grandes empresas de comunicação, que mamaram bilhões de recursos do governo federal, montaram uma porta de entrada para as redações para fazer o filtro ideológico em quem entrava lá. São os chamados cursinhos de trainee, muito festejados como uma coisa legal para o jovem entrar, dentro de um esquema de meritocracia. Ele faz um curso de um mês, visita zoológico, vai para a Amazônia, tem aula com jornalistas conceituados. Essa baboseira toda serve para o seguinte: você criava uma porta de entrada, vinham muitos jovens recém-formados em Jornalismo, e eles eram filtrados ideologicamente. De 100, você tirava 30 deles. Mas eram 30 jovens do suprassumo da ideologia liberal. Você pode ver: se tiver um negro, é a coisa mais rara do mundo. Eram 30 jovens brancos de classe média – um ou outro destoava, mas a massa era essa – com um pensamento superliberal, preconceituoso, anticomunista, anti-esquerdista, com uma visão de Estado mínimo, e dispostos – e esse é que é o grande perigo! – a qualquer coisa para ascender dentro das estruturas das redações. Para eles, foi dada essa carta branca: “Olha, isso aqui agora é meritocracia. O que você fizer vai depender da sua cultura aqui dentro”. Então, para crescer, esses meninos e meninas toparam fazer qualquer coisa! Basta você ver o que era feito na redação da Veja durante os governos do PT. Os repórteres que iam aparecendo lá eram cada vez mais truculentos e enlouquecidos para aparecer e fazer uma grande matéria, mesmo que mentirosa e escrota e que destruísse o Brasil, só para poder ascender dentro da redação. Temos casos clássicos ali dentro. Houve um repórter que invadiu um hotel em Brasília para colocar uma escuta no quarto onde o José Dirceu dormia. Houve repórter que inventava capas de revistas da Veja completamente sem sentido. Por quê? Porque, fazendo isso, se cacifava para crescer dentro daquela estrutura montada. Em pouco tempo, os ídolos do jornalismo brasileiro eram todos canalhas. Eram todos pessoas sem consciência social, ultraliberais, brancos com uma visão racista da sociedade, de apoio incondicional a essa história de Estado mínimo. Enfim, todos trabalhados ideologicamente para se transformarem em monstrinhos, que viraram monstros dentro da redação e hoje estão por aí, circulando essa ideologia.
De certa forma, os cursos de Jornalismo também acabaram se adaptando um pouco a isso. A profissão sofreu uma ruptura muito grave. Antes, ser jornalista era ser também um intelectual. A profissão do jornalismo era ligada à atividade intelectual. Quando eu era jovem e me apresentava como jornalista, aquilo causava um pequeno furor nos ambientes: “Pô, o cara é jornalista, ele é um pensador”. As pessoas começavam a fazer perguntas sobre o mundo: “Pô, você é jornalista? O que vai acontecer na China? O que vai acontecer na Rússia?”. Eu nem sabia, mas inventava as respostas porque fazia parte do nosso ambiente intelectual. Havia, junto com a vaidade do profissional, a vaidade intelectual, que exige algumas coisas para poder existir. Uma delas é que você tenha conhecimento. Outra é que você tenha filtros críticos. Outra é que você consiga estabelecer uma relação crítica entre o que você faz e as coisas que acontecem. Isso lhe dá tanto dignidade profissional, como dignidade pessoal. Você não fazia qualquer coisa ou aceitava qualquer ordem, e havia, dentro das redações, esse acordo tácito entre as diretorias – os “aquários”, como a gente chamava – e o reportariado, ou seja, esse aqui é um ambiente de intelectuais, de trabalhadores intelectualizados que têm discernimento crítico. Então, não adianta você querer impor qualquer coisa. Isso se perdeu deliberadamente. Isso foi um projeto de transformar o jornalismo numa atividade de tarefeiros. Essa coisa só começou a se reverter dentro de um gueto específico, que é esse do qual eu e você fazemos parte – as mídias alternativas, que eu costumo chamar “alternativas à mídia”. O conceito de mídia alternativa, que é um conceito de resistência, é uma força tão diferente a partir da Internet, dos sites, portais e blogs, que, na verdade, ele virou uma alternativa à mídia. Desde a Carta Capital, em que fui repórter por oito anos – minha última atividade como repórter –, eu sempre me senti uma alternativa à mídia. Se a mídia toda dava uma coisa, a gente na Carta dava outra. Aí começaram a surgir outros veículos de comunicação, sites, revistas eletrônicas, que começaram a dar outras coisas. Começaram a resgatar a atividade do Jornalismo não só por um único prisma, mas por vários. E dar voz a quem não tem voz, pois a mídia brasileira hoje só dá voz para quem é o dono da voz. A gente, felizmente, está conseguindo, através desse processo, melhorar esse aspecto da cobertura das reportagens e dar outro tipo de informação mais qualificada para o público brasileira.
Revista Opera: Em junho deste ano, o Estadão publicou um artigo intitulado “Nascidos um para o outro”, em que dizia que Lula e Bolsonaro são “siameses que enxergam o mundo da mesmíssima perspectiva”. Depois, em agosto, a Folha de S. Paulo lançou um editorial intitulado “Jair Rousseff”. Desde a eleição de 2018, jornalistas e comentaristas políticos apelam para um discurso de equivalência entre a esquerda e a extrema-direita e comparam Bolsonaro com Chávez, Maduro, Fidel, Kim Jong-un, Lênin, Mao Tsé-Tung etc. Que tipo de mistificações essas analogias tentam esconder?
Leandro Fortes: Isso é o que se chama “teoria da ferradura”, que diz que, quanto mais os extremos se distanciam do centro, mais eles se aproximam na ponta. É uma bobagem. A origem disso está numa narrativa dos anos 1950 e 1960, se não me engano, da obra da Hannah Arednt – As origens do totalitarismo – em que ela, pela primeira vez de forma sistematizada e, inclusive, contradizendo a si própria em outros escritos que ela vinha fazendo até então, criou uma equivalência totalitária entre o nazifascismo e o comunismo a partir do stalinismo. Isso criou um argumento universal dentro da direita ocidental de que o comunismo e o nazifascismo são a mesma coisa do ponto de vista totalitário, não importa quais fossem os objetivos de ambos os lados. Então, esquerda e direita acabariam se encontrando no seu radicalismo, o que é uma estultice. Outro dia, vi um professor de História falando isso numa entrevista nas redes sociais, fazendo essa equivalência. Isso virou uma narrativa, um lugar comum, mas é mentiroso e falacioso, pois essa equivalência não existe. Lembro que esse cara mostrou uma equivalência entre Mussolini e Fidel Castro! Um é líder de uma revolução popular e socialista que levou educação, saúde, segurança e uma série de benefícios para um povo. O outro criou um ambiente de assassinato, tortura, morte, desaparecimento, perseguição política e deu caldo de cultura para uma guerra mundial.
Essa equivalência é sempre feita de má fé, Gabriel. Ela não existe. Jair Bolsonaro e Lula? Isso é uma forçação de barra para poder alimentar os preconceitos que a classe média brasileira já tem, como quem lê o Estadão, em relação à esquerda brasileira e à esquerda em geral. Na verdade, eles querem dizer: “Vocês têm fugir de um e de outro e precisam eleger o nosso candidato de centro!”. E quem é o centro? É o PSDB, são os tucanos, o DEM. Então, fugindo deles, você cairia no candidato do Estadão, da Folha, da Globo. Você estabelece uma política de medo em relação à esquerda que, na cabeça dessas pessoas de cérebro pequenino que são bombardeadas por WhatsApp, gerou o conceito maluco de que “o nazismo é de esquerda”. Mexeram tanto com as engrenagens dos conceitos históricos que, na cabecinha dessa gente, o nazismo virou de esquerda, e eles dizem: “Opa, vamos colar que o nazismo é de esquerda porque essa narrativa é importante para a gente”. Muitos desses idiotas da extrema-direita, do gado bolsonarista, só continuam assistindo a filmes sobre a Segunda Guerra Mundial porque eles acham que os americanos estão combatendo a esquerda! (risos) Afinal, se o nazismo for de direita, eles vão dizer que os americanos são comunistas e não vão mais assistir a filmes americanos e de Segunda Guerra. “Pô, os caras estão matando a direita! Não é possível! Ah não, mas o nazismo é de esquerda. Então pode matar à vontade!” Entendeu qual é a lógica?
O fascismo trabalha muito com lógicas muito simples e conceitos irracionais porque isso é facilmente apreendido. Não precisa de filtro crítico. Você dá uma lógica muito simples, e o cara pensa: “Pô, é isso mesmo!”. E toca para frente. É assim que acontece na mídia brasileira. Essa equivalência é justamente esse tipo de manipulação: “Olha, Jair Bolsonaro e Lula são a mesma coisa porque eles são extremistas. Se você não gosta do Bolsonaro, você também não tem que votar no Lula porque ele é um extremista de esquerda. Ele é comunista”. É uma loucura! Achar que o PT é comunista é uma loucura, mas você tentar explicar isso é difícil porque esses conceitos do fascismo são muito binários. É preto e branco, é verde e vermelho, é bom e ruim, é comunista e fascista. Você não consegue estabelecer tons de cinza e nuances. Não tem como!
Para fazer isso, a pessoa precisa ter uma substância intelectual que ela não tem, e esse é um dos grandes erros apontados nos governos petistas, embora eu acho que é uma questão um pouco injusta porque você não tem, na verdade, como politizar um povo num recorte histórico de uma década. É muito pouco. Esse é o tempo de plantar sementes. O problema é que essas sementes não foram plantadas. As pessoas tiveram muito acesso a crédito, a consumo, a oportunidades de estudo no Ensino Superior. O Governo Federal fez a sua parte, criando universidades e institutos federais, mas não criou uma doutrina social em relação a essa distribuição, dizendo: “Olha, vocês estão recebendo isso, mas isso tem um preço não só financeiro, mas social”. Por exemplo, eu nunca entendi porque, nos governos do PT, não se criou uma obrigatoriedade de quem se formar em instituições federais tem que prestar serviços comunitários, ao menos, por dois anos. Obrigatoriamente porque você foi pago! Seus estudos que você fez de graça foram pagos pela população pobre. Então, tem que haver um retorno. Aquele Ciências sem Fronteiras mandou um contingente enorme de adolescentes de classe média para fazer turismo no exterior. Esses meninos voltaram e cagaram para o Brasil. Muitos nem voltaram e aproveitaram que aprenderam inglês, francês, espanhol e o cacete a quatro para se qualificar dentro da estrutura mental da meritocracia: “Eu mereço isso, estou aqui porque eu mereci!”. Não foi porque milhões de brasileiros financiaram para ele passar um ano e meio na Inglaterra, EUA, Austrália e Canadá. Essas pessoas voltaram, não prestaram contas nenhuma à sociedade e se transformaram, muitos deles, em ultrarreacionários.
Perfilaram, junto aos golpistas, nas manifestações de 2016 contra a Dilma, que criou o programa! Estavam lá de bandeirinha do Brasil, “Lula na cadeia”, “Dilma vagabunda”. É esse o nível. Você não tem como, em 13 anos, politizar a população. Isso é um processo. A não ser, é claro, num processo revolucionário que tem outros parâmetros de funcionamento. Mas, numa democracia liberal, você tem que plantar sementes. Uma semente que não foi plantada é aquela que a gente conversou no início da entrevista: não se mexeu na formação dos militares. Se tivessem mexido, por exemplo, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, onde eu estudei, que é Ensino Médio, pegando um contingente de 180 a 200 alunos por ano que aprenderiam outras coisas que não “guerra revolucionária”, anticomunismo, Doutrina de Segurança Nacional e cânticos louvando a tortura. Você aprenderia que houve um golpe em 1964, tortura, assassinato, que foi uma ruptura da democracia, uma quebra constitucional, que isso é crime e que os militares são parte do serviço público e servem à população. E qual é o problema que temos? É que as Forças Armadas são, desde sempre, um exército de ocupação que trabalha, desde a sua origem, como braço armado, como manu militari, da elite econômica brasileira, das classes dominantes, para oprimir a população. Não se conseguiu inverter essa lógica. Se você planta as sementes para isso, esse processo vai ter que começar lá para frente e vai demorar. Eu provavelmente não estarei vivo para isso, mas você, que é jovem, talvez veja esse momento do Brasil em que os militares vão ser educados para a democracia e não para a opressão. Esse é um dos fatores. Outro é utilizar os instrumentos de universidades federais para gerar serviços e conhecimento para a população pobre do país, para quem paga os impostos que bancam os estudos de quem faz escolas públicas.
Revista Opera: Nesta década de 2010, sobretudo com a eleição de Donald Trump e a vitória do Brexit no Reino Unido, há um movimento dos meios de comunicação tradicionais de se reafirmarem como portadores da “verdade dos fatos”, em contraposição ao perigo das fake news. Esse fenômeno das fake news consiste realmente em uma disrupção em relação à mídia tradicional ou são parte do processo de crise desses meios de comunicação? A dicotomia “jornalismo profissional convencional x redes de fake news” é tão bem-definida assim?
Leandro Fortes: A invenção das fake news não é do período da Internet. Fake news virou uma expressão em inglês usada de forma um pouco generalizada, mas a produção de notícias falsas para manipulação do público é uma tradição da imprensa mundial, sobretudo a americana. Ela foi adaptada e readaptada para várias situações na história política do planeta, inclusive nas experiências socialistas da URSS e da Europa Oriental, como foi amplamente estimulada e aperfeiçoada durante a Guerra Fria. A diferença é que isso era feito de uma forma organizada entre a mídia e o poder. Era um trabalho conjunto, feito de modo sistematizado para alcançar objetivos específicos. Com as redes sociais e a abertura que a Internet provocou na produção de conteúdo individual, percebeu-se que as fake news, além de ser um instrumento poderoso da mídia e dos governos para manipular a população, também eram um grande negócio. Então, o que se criou foi um modelo de negócios muito poderoso que teve seu ápice na eleição de Donald Trump nos EUA com a estrutura montada pelo Steve Bannon e pela Cambridge Analytica. Aquilo virou um negócio bilionário, e as pessoas perceberam que podiam ganhar muito dinheiro porque é barato fazer – basta você ter boas cabeças criativas pensantes –, e o público-alvo é praticamente o planeta inteiro, sete bilhões de pessoas. Você tem a melhor oportunidade de negócios que o mundo já teve.
Quem percebeu primeiro isso por outra ótica foi o Mark Zuckerberg com o Facebook. As redes sociais são ambientes naturais de produção de notícias falsas, embora se esteja sempre buscando mecanismos para controlar isso. Mas a produção de fake news como modelo de negócios transformou não só a comunicação, atingindo o coração da mídia tradicional, como modificou as relações políticas em muitos países – nos EUA, Brasil, América Latina toda. A Operação Lava Jato e as operações da CIA, FBI e Departamento de Estado americano para destruir as democracias mais à esquerda nos anos 2000 foram feitas a partir também da produção de fake news sistemáticas institucionais, trabalhadas para desmoralizar e assassinar reputações de lideranças populares de modo que elas não pudessem mais voltar ao poder diante do massacre midiático interno, sobretudo via WhatsApp. Isso tudo para criar o campo fértil para operações como essa da Lava Jato, em que montaram um sistema judicial para colocar na prisão essas pessoas e criminalizar a política. Então, o resultado mais imediato dessas ações foi a criminalização da política e a ascensão de “antipolíticos” ao poder em vários países, sendo o Brasil um deles.
Isso passou a falsa impressão de que era uma revolução. Na verdade, era uma involução gravíssima. Retrocedemos muitíssimo em quase todos os aspectos, não só político, mas também econômicos, sociais e morais. A própria relação das pessoas com a religião foi atingida com a ascensão dessas igrejas neopentecostais, que são fábricas permanentes de mentiras. Se você parar para pensar, a própria discussão sobre a Bíblia é totalmente fantasiosa, e ela, por si só, é a manipulação de mentes e corações de pessoas quase sempre ignorantes – dominadas pelo medo do inferno, demônio, infâmia, exclusão – e que já são assombradas por demônios, anjos e coisas semelhantes E aí você enfia nessas pessoas o medo do comunismo, de que elas vão perder o pouquinho que elas têm, medo de que os filhos vão ser levados embora pelo Estado. Enfim, o medo, o medo, o medo… Você aciona seus demônios internos todos e, aí sim, eles são organizados, agrupados, sistematizados e utilizados pelas redes de fakes news de acordo com as circunstâncias. Aquilo gera um supernegócio, que tem dado muito certo. Só que agora o mundo está tendo que, de certa forma, se mobilizar para reagir a isso porque está passando de todos os limites. Já se fala que as redes sociais, a informação massiva de fake news, podem gerar uma animosidade tal entre grupos diferentes a ponto de provocar, por exemplo, uma guerra civil. É nisso que o Bolsonaro aposta muito, colocando a população uma contra a outra, sobretudo em relação ao uso de cloroquina e de máscara. É um trabalho que, claro, vem de um psicopata com problemas de demência bastante visíveis, mas que é todo sistematizado para funcionar a favor desse governo. Enquanto ele estiver fazendo isso, a agenda econômica de destruição da indústria nacional, da soberania nacional, segue sendo tocada quase que sem oposição.
Revista Opera: Historicamente, o jornalismo internacional brasileiro esteve limitado – até pela falta de recursos – à republicação de matérias das agências de notícias ou de reportagens traduzidas de jornais americanos. O investimento dos grandes jornais nessa editoria sempre foi reduzido. Poderia ser ou ter sido diferente?
Leandro Fortes: Vou te contar qual é o grande problema dessa editoria desde sempre. As editorias internacionais, tocadas dentro das redações no Brasil, eram basicamente o que a gente chamava de “tropicalização de informações” de jornais e agências estrangeiras. Pegava-se as informações que chegavam antigamente pelo telex das agências internacionais – Reuters, AP, EFE –, traduzia, recortava, fazia o que chamávamos de “let press”, colocava numa lauda, mandava para a diagramação e botava lá: “com agências internacionais”. Então, nada mais era um cozidão de tudo que as agências faziam. Havia – como ainda há – correspondentes internacionais. O problema é que o correspondente internacional, dentro das estruturas de redação de jornais, revistas e televisões da mídia brasileira, era uma sinecura. Era um prêmio que o sujeito recebia por bom comportamento, por ter trabalhado direitinho a vida toda vinculado ao patrão, obedecendo todas as ordens, ou por ter tido um momento brilhante da carreira que melhorou a vida da redação ou deu status ao jornal. O cara ganhava esse prêmio: “Você será correspondente em Paris, em Washington, Tóquio, Berlim etc.”. Aí o que essas pessoas faziam? Como era uma sinecura, elas estavam indo para lá receber um prêmio e não para trabalhar. Então, muitos poucos se dedicavam a aprender o idioma de forma correta para poder se embrenhar em produzir matérias.
O que muita gente fazia, principalmente antes da Internet? Passava a semana comprando jornais, levava para casa, pegava aquelas matérias muito localizadas que ninguém lia no Brasil – nem sabia que existiam – e produzia matérias em cima delas. E botava o nome dele lá: “fulano de tal de Paris, fulano de tal de Washington, fulano de tal de Nova York”. Fazia, por exemplo, uma supermatéria sobre a cena artística de Nova York, a periferia de Paris, a migração árabe em Berlim, mas era tudo chupado do noticiário local. Ele pegava, no máximo, umas aspas de alguém e “tropicalizava” aquela informação estrangeira. Essa picaretagem durou anos e anos, e isso gerou uma cobertura incipiente, um “copia e cola” do que as agências faziam, sem nenhuma grandiosidade. Se você pega, por exemplo, a correspondente da TV Globo que está em Roma desde o Papa Venâncio I (risos), a Ilze Scamparini. Ela faz a mesma matéria há 40 anos! Ela entra no Vaticano e diz que “o Papa disse”, “o Papa falou”, “a Igreja reagiu”… Uma coisa hiper-aleatória! Mas eu nunca vi uma matéria dela sobre os escândalos do Vaticano, as negociatas no Banco do Vaticano, os casos de pedofilia no Vaticano, a proteção do Vaticano aos casos… Não! Ela está sempre a reboque do que o noticiário mundial está fazendo.
Teve uma coisa muito engraçada e não sei você se lembra disso. Quando rolou um ataque terrorista, a Globo mandou sua correspondente de Londres, Cecília Malan, para Paris. Aí, uma hora ela entrou ao vivo e perguntaram: “Cecília, e as novidades?”. Ela respondeu: “Não sei! Eu estou sem Internet!” (risos). Ou seja, a repórter nem é mais repórter. Quer dizer, ela pegava informações na Internet e passava ao público brasileiro uma coisa que eu posso ver sem a Cecília Malan me falar. Ela nem precisava estar lá. Podia estar em Mogi Mirim, em Uruguaiana, em Boipeba (risos). Não importa! Ela estava no centro de Paris e não se movimentou fisicamente porque não sabe, não aprendeu, não disseram para ela como é, que ela tem que falar com as pessoas. Conversar com a polícia, com o ser humano ali do lado, com o dono da loja. Não! Ela ficou perdida e nervosa: “Não consigo porque estou sem Internet!”. É disso que eu falo: houve uma degradação tão grave na profissão jornalística que ela, de certa forma, se perdeu. Por isso, a gente está tentando recuperar isso dentro de outros parâmetros e outros modelos, como é o caso dos veículos independentes como este aqui no Brasil.
Revista Opera: Durante o governo Lula, os grandes jornais criticaram duramente o Itamaraty pela proximidade com os governos bolivarianos na América Latina e pela assinatura do acordo nuclear com Irã, mediado junto à Turquia. Você acredita que a política externa de cooperação Sul-Sul, encabeçada pelo chanceler Celso Amorim, gerou como reação a reafirmação de uma cobertura jornalística internacional mais americanizada e eurocêntrica?
Leandro Fortes: Sim, muito mais reacionária. A aproximação do Brasil nos governos Lula e Dilma com o governos latino-americanos, sobretudo de esquerda, e os governos árabes e da África gerou um desconforto profundo na elite do Itamaraty, que é o suprassumo da elite reacionária brasileira. Os diplomatas brasileiros são historicamente os representantes mais elitistas da classe dominante brasileira. Nunca se interessaram minimamente pelo que acontece no Brasil. Têm um desprezo e nojo pela vida mundana do país e vivem encastelados num sistema que os colocava no exterior, em rapapés, festas, coquetéis, protocolos em línguas estrangeiras e outras frescuras. De repente, eles foram obrigados a mexer com a realidade. Lembro que o Celso Amorim modificou a formação do Itamaraty. Criou um sistema que não é exatamente um sistema de cotas, mas que dava oportunidade para negros estudarem para fazer o concurso a partir de bolsas do Itamaraty. Obrigaram jovens diplomatas a estudar a realidade brasileira e do mundo por outros vieses – pelo viés da esquerda, dos movimentos populares, das revoluções sociais. Inclusive, o Brasil abriu embaixadas nos países do Oriente Médio e da África e teve, na América Latina, uma relação realmente diplomática de troca de conhecimento e informações e cooperação internacional. Isso incomodou muito o Itamaraty, mas, sobretudo, as elites brasileiras.
O reflexo imediato, é claro, foi uma cobertura ultra-enviesada da mídia brasileira contra o governo brasileiro em relação a essas coisas, ao contrário do que fazia, por exemplo, a BBC de Londres, que fez matérias superinteressantes sobre essas novas relações. O Brasil se inseriu como um player internacional como nunca havia se inserido. Passou a ter relevância mundial e a ser o país emergente mais importante do mundo. Passou a ter assento nos grandes fóruns e a ser respeitado como um país de relevância geopolítica. Isso incomodou profundamente a mídia e todos aqueles que apoiavam os governos anteriores quando o Brasil era uma bosta, um país de merda, uma piada, o que voltou a ser depois do golpe de 2016. Virou de novo um país irrelevante, uma república de bananas, um lugar onde se mata, se tortura, se persegue negros, se destrói o meio ambiente, não se respeitam os direitos humanos, onde se mata homossexuais mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Voltou a ser um país de merda, economicamente dependente. Voltamos à periferia do sistema capitalista de uma forma mais humilhante do que estávamos antes. Eu costumo dizer que os governos do PT, com todos os problemas que tiveram – menores do que os benefícios que trouxeram –, foi um lapso civilizatório. O Brasil era um país de merda até o primeiro governo Lula e voltou a ser depois do golpe de 2016. Nesse período dos governos do PT, houve, como nunca antes na história – como gosta de dizer o Lula –, uma mudança muito pequena, mas muito importante, da superestrutura do Estado a favor da população. As pessoas passaram a se alimentar com frequência, a ter acesso ao ensino público, ao conhecimento, ao ensino profissionalizante. Passaram a conhecer melhor o país e a ter acesso a bens de consumo que nunca tiveram antes, a ter acesso a crédito, o que nunca tiveram antes num país que se diz capitalista. Essa pequena mudança, que não mexeu em quase nada nos privilégios dessa gente, foi considerada uma “ação comunista” quando veio o golpe de 2016. Dar consumo e comida às pessoas era “comunismo”. Criar conselhos populares para resolverem sobre suas próprias vidas eram os “sovietes”, coisas que iam destruir a família e Deus. Enfim, esse discurso udenista que sempre serve para golpear as instituições e golpear, sobretudo, as populações mais pobres do Brasil.
Revista Opera: Você mais de uma vez elogiou o trabalho de formação política promovido por jovens comunicadores no YouTube, como Jones Manoel e Laura Sabino. O que há de diferente na conjuntura atual que propicia o crescimento de alcance desses personagens e de outros comunicadores de esquerda?
Leandro Fortes: Foi bom você ter me perguntado isso porque eu também me pergunto. Ainda não tenho uma avaliação concluída, mas tenho uma ótima impressão. Tanto que eu comecei a me enfronhar nisso. Sempre tive uma formação de esquerda, mas nunca me incluí no marxismo de forma muito assertiva. Li Marx quando era mais jovem. Sou formado há mais de 30 anos e, na faculdade, naquele burburinho da redemocratização e do fim da ditadura, comecei a me interessar por marxismo. Li muito, votei em comunistas já, mas nunca me interessei em fazer militância comunista. Sempre fui um esquerdista independente. Também não sou petista, mas sempre lutei com o PT, assim como com o PCB e o PCdoB.
Do início do governo Bolsonaro para cá – pelo menos, eu e muitos amigos -, temos percebido que o modelo tradicional de política brasileira não funciona mais. Isso porque nós estamos vivendo uma crise do capitalismo em que as subcrises e as consequências são muito agudas do ponto de vista socioeconômico – mais até do que político. Há uma produção contínua de miséria, e cada vez mais o abismo social está se tornando mais profundo em níveis de desigualdade que não conseguem mais ser resolvidos pelo discurso da esquerda liberal e o discurso eleitoral em si de que é possível, chegando à Presidência da República, resolver tudo. É verdade: chegaram e veio um golpe que rapidamente destruiu tudo. Sem nenhuma comoção popular, sem nenhuma reação popular. Nada! Foi como tirar o doce da mão de uma criança. Isso significa que a sociedade não está preparada para esses ataques. A única forma de prepará-las é criar, dentro de uma estrutura que vejo hoje como do pensamento marxista: de conscientização sobre a luta de classes para definir um outro parâmetro para a política nacional.
Eu vejo hoje que o único parâmetro é uma revolução social, é a Revolução Brasileira. É, de fato, estabelecer o objetivo de ter no Brasil um regime socialista. Acho que tem que ser socialista! Temos que pensar, é claro, dentro das circunstâncias nacionais, do histórico nacional, das características e singularidades do povo brasileiro e da América Latina, mas já passou da hora de modificar essa estrutura, pois, do jeito que está, não funciona. Não funciona porque é feito para não funcionar! O conceito de ditadura do proletariado é muito mal compreendido, porque as pessoas têm muito pouca leitura, e o nome “ditadura” estabelece outra relação na cabeça de quem não tem esse conhecimento. Mas a ditadura do capital tem provocado basicamente miséria, desigualdade social e infelicidade. Somos um povo infeliz porque nós só existimos se temos para consumir. Para ter, é preciso dinheiro, e nós não temos dinheiro. As pessoas passam maior parte do seu tempo infelizes e frustradas porque o mundo diz que você só é feliz se tiver e, como você não pode ter, você é infeliz. Você precisa se submeter a um sistema de superexploração do seu trabalho que não vai lhe dar essa felicidade nunca, a não ser que você faça parte desse pequeno grupo de 1% da população – os capitalistas que detêm os meios de produção. As pessoas acham que estão ganhando um pouquinho mais no serviço público e são burgueses. Não são! São trabalhadores que podem, a qualquer momento, ser jogados na pobreza.
Só que, para a pessoa entender isso, você tem que criar um processo político demorado de conscientização de classe que começa a ter as sementes plantadas por essa nova geração de youtubers que estão explicando o que significa isso. Não há nenhum problema em ser comunista, ler marxismo e imaginar uma sociedade igualitária. Isso não vai fazer de você um demônio. Que não há nenhum problema, inclusive, que você seja religioso. Eu, por exemplo, defendo um marxismo ateu e acho a religião é um problema gravíssimo como é o capitalismo, mas o Jones Manoel defende que a gente tem que trabalhar com a religiosidade das pessoas dentro da luta de classes e da estruturação de uma nova política que leve a uma Revolução Brasileira, modificando completamente as relações de poder e trabalho no Brasil para trazer, aí sim, felicidade. Para que as pessoas não sejam obrigadas a só serem felizes se tiverem dinheiro para consumir. Isso está destruindo as pessoas. Basta você olhar em volta como há pessoas infelizes porque não têm o novo iPhone ou tênis Nike de última geração, não conseguiu comprar a câmera ou o computador mais caro do mundo e que já ficou obsoleto. Cada vez mais o capitalismo trabalha com obsolescência programada, e as coisas vão se acabando. Isso vai destruindo o meio ambiente e as relações pessoais. Enfim, a gente tem que modificar isso porque está todo mundo infeliz!
Então, não tem problema em começarmos a discutir a questão da Revolução Brasileira e estabelecer no país uma nova forma de relações de poder entre a população e os governos, de criar maneiras de a população participar muito mais das decisões de governo que afetam sua vida pessoal. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, é preciso romper na cabeça das pessoas o medo que elas têm do socialismo, da esquerda, dos pensamentos mais vinculados ao marxismo ou comunismo. Essa discussão que foi interditada no fim dos anos 1990, e ficaram com vergonha – você vê que os partidos comunistas se dissolveram. De repente, eu comecei a perceber que apareceu a Sabrina Fernandes, Laura Sabino e Jones Manoel. Conheci outras figuras, como o professor Alysson Mascaro. Voltei a conversar com velhos comunistas. As pessoas estão empolgadas com eles porque se voltou a falar de novo disso. Não é num viés de luta armada. Não são grupos que estão se preparando para tomar o poder. São pessoas que estão intelectualmente interagindo com outras para discutir outro modelo de vida que vai trazer, a meu ver, mais satisfação, mais felicidade, mais igualdade social e mais tranquilidade para se viver. É isso que todo mundo quer, afinal.