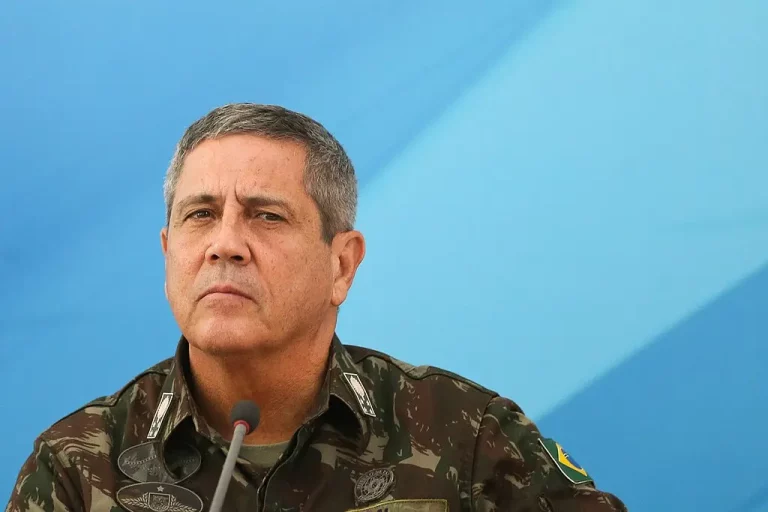Passei os primeiros dias desse começo de 2021 estudando a produção de Jessé Souza. Tenho apreço pela crítica do patrimonialismo e do liberalismo produzida pelo sociólogo – ainda que esteja longe de manter concordância integral. A releitura dos livros de Jessé, contudo, lembrou-me de algo que me incomoda desde 2014, quando tive o primeiro contato com o autor, a partir do livro A ralé brasileira: o sociólogo usa uma estética de grande inovador/descobridor do novo e é uma tragédia, para usar um termo até simpático, quando comenta qualquer tema relacionado ao marxismo.
O Brasil tem uma longa e poderosa tradição crítica na teoria social e na reflexão sociológica. Não é difícil apontar pensadoras e pensadores que inovaram nas ciências humanas e são reconhecidos na América Latina e no mundo por sua grande contribuição teórica. Aliado a isso, até o golpe de 1964, a tradição das ciências humanas com horizonte crítico estava intimamente ligada ao movimento comunista, o PCB e/ou a proposta de Revolução Brasileira, conjugando com felizes resultados a reflexão teórica e a ação política, forjando uma práxis que ajudou o brasileiro a conhecer melhor o Brasil.
Era o tempo de Alberto Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré, Alvaro Vieira Pinto, Alberto Passos Guimaraes, Franklin de Oliveira, Érico Sachs, Josué de Castro e tantos outros imortalizados nas décadas seguintes, como Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra, Theotônio dos Santos, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Lélia Gonzalez, Heleieth Saffioti etc. A lista de grandes intelectuais brasileiros seria imensa e corro, pelo esquecimento, forte risco de injustiça. Com uma cultura e um legado tão rico, colocar-se no papel de inovador na produção científica e criador de um novo instrumental teórico de compreensão do Brasil é uma tarefa ousada e desafiadora.
Acho saudável, necessário e recomendável ousadia e intenção de inovação na reflexão teórica. Um dos maiores problemas do academicismo que parasita nas universidades é a tendência à repetição do já dito, ruminando até a náusea aspectos tópicos da produção de tal ou qual autor – normalmente europeu ou estadunidense – como se isso fosse o auge da ciência. Mas quem ousa inovar corre sempre o risco de criar uma caricatura de si mesmo, uma espécie de profeta do óbvio, o descobridor da roda.
Em muitos aspectos, a produção de Jessé Souza se configura como um eterno descobrimento da roda, oferece a boa nova que não é muito boa e muito menos nova. Na escrita do autor, sempre falta algo para descobrir, um segredo para revelar, uma mitificação para ser destruída e ninguém antes dele percebeu isso – ao menos totalmente.
Não tenho qualquer intenção de fazer uma avaliação global da produção de Jessé e dizer se existe algo de inovador nas suas reflexões, fazendo avançar a fronteira do conhecimento nas ciências humanas. Farei algo bem mais simples e humilde: mostrarei, antes de entrar no tema do marxismo, alguns momentos onde a gana de se apresentar como criador do novo produz só a enésima descoberta da roda.
No interessante livro A ralé brasileira, Jessé debate o processo de inclusão/exclusão das classes trabalhadoras, em particular da fração de classe que ele chama de ralé, e diz que todos até hoje pensaram o processo de inclusão como um derivado automático da expansão do mercado e da modernização capitalista. Diz o autor:
“A inclusão das classes inferiores no Brasil foi sempre percebida — até pelos melhores como Florestan Fernandes — como algo que o mercado em expansão acabaria por incluir como que por mágica. Os esforços assistencialistas de ontem e de hoje, que são fundamentais (é melhor que existam do que não), mas insuficientes, nunca tocam no ponto principal por serem iniciativas condenadas ao curto prazo. Essa é a diferença que explica efetivamente a distância social de sociedades modernas periféricas como a brasileira e sociedades modernas centrais como Alemanha, França ou Holanda” (SOUZA, 2009, p. 401 – grifos nossos).
É inteiramente falso afirmar que o processo de modernização capitalista e expansão do mercado sempre foi percebido como solução para “inclusão” das classes populares a algo próximo de um padrão ideal de cidadania. Essa afirmação grandiloquente, altissonante, significa na prática dizer que em décadas ninguém antes de Jessé percebeu que acumulação capitalista na condição periférica não significa, necessariamente, qualquer melhora das condições de vida, existência e reprodução das classes trabalhadoras.
No trecho, o autor não oferece qualquer prova de sua afirmação espetacular. É uma questão de fé: você acredita ou não nas palavras de Jessé. Em segundo lugar, é igualmente falso dizer que Florestan Fernandes, na totalidade de sua obra, pensava que a expansão do mercado iria “incluir por mágica”. Florestan sempre foi um autor muito qualificado para pensar em algo como “incluir por mágica”.
Aliás, seria estranho pressupor que o mesmo Florestan Fernandes que adere ao marxismo revolucionário e se torna um militante após o golpe de 1964 iria acreditar que o capitalismo resolveria qualquer problema fundamental do povo trabalhador. Em outro momento do mesmo livro, numa nota de rodapé, Jessé comenta de novo sobre Florestan e diz:
“O limite da análise de Florestan, que não tinha os desenvolvimentos da teoria social a que temos acesso hoje, foi confundir determinação de classe e de raça contribuindo para a continuação do grande imbróglio da ciência social crítica brasileira até hoje.” (SOUZA, 2009, p. 454 – grifos nossos).
Se Florestan tivesse morrido nos anos de 1950, talvez e com muita generosidade, poderíamos concordar – ainda que parcialmente – com Jessé e sua “crítica” de que o autor confundia determinação de raça e classe. Mas Florestan só morreu em 1995 e passou décadas produzindo. Basta abrir o livro Significado do protesto negro, por exemplo, e ver como Jessé é pouco responsável no trato da obra de Florestan:
“Esse dilema liga entre si luta de classes e luta de raças (uma não esgota a outra e, tampouco, uma não se esgota na outra). Ao se classificar socialmente, o negro adquire uma situação de classe proletária. No entanto, continua a ser negro e a sofrer discriminação e violências […] Além disso, mesmo onde negros e brancos conviviam fraternalmente, nem por isso os brancos sentiram-se obrigados a dar solidariedade ativa aos porta-vozes e às manifestações da rebelião negra […] De um lado, é imperativo que a classe defina a sua órbita, tendo em vista a composição multirracial das populações em que são recrutados os trabalhadores. Todos os trabalhadores possuem as mesmas exigências diante do capital. Todavia, há um acréscimo: existem trabalhadores que possuem exigências diferenciais, e é imperativo que encontrem espaço dentro das reivindicações de classe e das lutas de classes. Indo além, em uma sociedade multirracial, na qual a morfologia da sociedade de classes ainda não fundiu todas as diferenças existentes entre os trabalhadores, a raça também é um fator revolucionário específico. Por isso, existem duas polaridades, que não se contrapõem, mas se interpenetram como elementos explosivos – a classe e a raça.” (FERNANDES, [1988], 2017, p.84-85 – grifos nossos).
Não vou me estender mais na obra de Florestan. Para quem quiser uma abordagem realmente qualificada da produção do nosso maior sociólogo, recomendo o artigo do professor Lincoln Secco que, dentre outras coisas, registra muito bem as continuidades e rupturas na obra de Florestan.
A escolha de Florestan como o grande exemplo do pensador que chegou perto da verdade, mas não completou o caminho, tem um sentido evidente: no senso comum da cultura brasileira, com razão, Florestan é conhecido como o nosso maior sociólogo. Quando Jessé diz que está fazendo uma descoberta que nem Florestan alcançou, o parcial elogio ao autor de A revolução burguesa no Brasil é, na realidade, um autoelogio de Jessé para Jessé. E nada contra, em princípio, a autoelogios. O problema, nesse caso, é que o autoelogio é imerecido.
Voltando um pouco à reflexão, na primeira citação que fizemos de Jessé, ele diz que “a inclusão das classes inferiores no Brasil foi sempre percebida como algo que o mercado em expansão acabaria por incluir como que por mágica”. Essa afirmação só pode ser feito a partir de suas premissas: ignorância total da história do pensamento social brasileiro e/ou artifício retórico para se auto elogiar e colocar-se como o descobridor do novo. O primeiro caso não é do de nosso sociólogo. Ele é alguém muito qualificado para ser ignorante.
Mostrar a falsidade do artifício retórico é fácil. Vamos pegar aquele que era o “teórico marxista mais importante dos anos 1950” [1]: Nelson Werneck Sodré. No final dessa década, Sodré lançou uma das obras mais famosas e lidas até o golpe empresarial-militar de 1964, que deixou marcas indeléveis na cultura e na política nacional: Introdução à Revolução Brasileira. Nessa obra, Sodré dedica um capítulo a debater a questão racial, chamado A miscigenação e a sociedade, e busca refutar duas interpretações de muita força à época: no Brasil não existiria problema racial, dado que a miscigenação ou a progressiva miscigenação acabaria com o problema racial – em suma, o mito da democracia racial –; e a ideia de que a modernização capitalista, por si só, iria acabar com o problema do racismo, compreendido apenas como uma reminiscência da sociedade colonial.
Sodré vai paulatinamente inserindo o problema racial na longa duração histórica brasileira, suas relações de classe e estruturas econômicas, políticas e culturais, para arrematar com um raciocínio muito preciso e atual:
“O sonho ingênuo de muitos é que a miscigenação resulte, finalmente, na predominância dos traços arianos e tremem de ira patriótica quando algum observador estrangeiro ainda persiste na afirmação de que o Brasil é um país de negros. A transição, demasiado lenta, dos negros, numa sociedade aparentemente aristocrática a outra, tendo alterado aspectos a cuja importância devemos atenção, não contribuiu de forma alguma para criar o ambiente em que os preconceitos gerados e mantidos por tão longo tempo tendessem ao desaparecimento. Muito ao contrário, concorreu para que eles persistissem, apenas disfarçados, para que se alimentassem em novas fontes, para que se tornassem mais velados do que ostensivos” (SODRÉ, 1967, p. 160).
Como se pode ver, Sodré, sem negar as mudanças e transformações, destaca as permanências no processo de dominação da população negra e diz que a modernização capitalista não apresenta, inevitavelmente, qualquer elemento emancipador do racismo e da miséria do proletariado negro.
É possível ainda citar outra obra paradigmática, A revolução brasileira (primeira edição de 1966) de Caio Prado Jr., onde o autor, por um caminho diferente de Sodré, coloca que a massa marginal do país, os miseráveis e deserdados, não serão redimidos – na linguagem de Jessé, “incluídos” – por um mero desenvolvimento capitalista, mas sim por transformações direcionadas, reformas de estrutura, inscritas no programa que apresenta da Revolução Brasileira.
As obras citadas de Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Jr. – poderíamos, friso, citar muitos outros, como Alberto Guerreiro Ramos e Alberto Passos Guimarães, por exemplo – foram escritas há mais de 50 anos. No século XXI, porém, Jessé descobre a roda! Mesmo com esses elementos, em A ralé brasileira, o autor ainda é mais comedido e “cuidadoso”. Na sua produção posterior é que a ânsia de se apresentar como profeta do novo alcance ares de caricatura. Vejamos.
No A elite do atraso, Jessé já começa anunciado “uma sociabilidade que tendeu a se perpetuar no tempo, precisamente porque nunca foi efetivamente compreendida nem criticada” (2017, p. 09). Jessé vai oferecer a compreensão e a crítica, desvelando os mecanismos de dominação da “elite do dinheiro”, colocando luz no que “ninguém percebe” (2017, p. 13) e, finalmente, criticando as teorias da modernização emanadas dos EUA, tarefa que mesmo “pensadores mais críticos e talentosos” (2017, p. 16) nunca conseguiram fazer – cita como exemplo de pensadores críticos e talentosos Pierre Bourdieu e Jürgen Habermas, intelectuais do norte global.
Como é perceptível, já nas primeiras páginas, Jessé apresenta uma ambição gigantesca. Mas ele se empolga e diz que sua tese é que “as ciências sociais no mundo todo ainda estão sob o domínio total – na área da produção científica dominante – ou sob domínio parcial – na área da produção científica crítica – do paradigma da teoria da modernização” (2017, p. 17). Nosso autor não apenas é um inovador nas ciências humanas brasileiras, mas no mundo todo!
Jessé passa as páginas seguintes do livro anunciando sua nova “descoberta” de uma interpretação totalizadora do que é o Brasil, muito superior às explicações parciais como a de Celso Furtado – segundo o autor – e avançando a partir dos que chegaram mais perto, como Florestan Fernandes e Gilberto Freyre. Mesmo apresentando a proposta do seu livro com autoelogios desde o prefácio até todos os capítulos, Jessé faz uma autocrítica e peço que prestem atenção no que ele diz:
“Eu próprio, em meus textos e pesquisas sobre as classes populares, tendi a cometer o engano contrário ao enfatizar a socialização familiar diferencial como o fator central da construção tornada invisível das classes sociais no mundo moderno. Posto que esse mecanismo gere preconceitos ‘independente da cor’, tendi a encarar o racismo de cor como uma ferida e um ataque ‘adicional’ às classes populares.” (2017, p. 82 – grifos nossos).
Em seguida a essa autocrítica, arremata Jessé que “em países como o nosso, não há como separar […] o preconceito de classe do preconceito de raça” (2007, p. 82). A partir dessa constatação, o autor vai apresentando toda uma argumentação sobre a escravidão como instituição definidora da formação do Brasil e do povo brasileiro, marcando de maneira permanente nossa morfologia social e as relações de classe. Mas a escravidão como a chave analítica central para entender o Brasil nunca foi pensada, percebida. Jessé será o primeiro a denunciar uma herança “que foi tornada invisível, e portanto, nunca conscientizada”; na sequência de mais essa afirmação grandiloquente, volta para Florestan Fernandes e com tom de superioridade paternal afirma: “como foi e é possível tamanho ódio em circunstâncias modernas, circunstâncias essas que o nobre Florestan Fernandes imaginava que poderia, por si só, redimir a classe dos abandonados? ” (2017, p. 106-107).
Três elementos centrais a serem colocados. Primeiro, e talvez o mais importante, a tese da escravidão como elemento central na formação do Brasil e da sua estrutura de classes, pensando o escravagismo brasileiro não como prolongamento da realidade portuguesa, mas uma particularidade nacional inserida no processo global de acumulação primitiva de capital, não é absolutamente nenhuma novidade. O citado livro de Caio Prado Jr, A revolução brasileira, um dos livros mais lidos nos anos de 1960 e um dos mais conhecidos das ciências humanas no Brasil, tem como argumento principal que o Brasil não tem quaisquer restos ou relações feudais ou semifeudais, mas sim resquícios, heranças não superadas da escravidão, determinando a realidade nacional.
Com caminhos, conclusões e formas diferentes, o debate sobre a importância da escravidão na formação do Brasil e no seu presente – e, em consequência, no projeto emancipador de futuro – comparece em praticamente todos os grandes autores do debate nacional nos anos 50, 60, 70 e 80. Aliado a isso, bastava abrir qualquer uma das principais obras de Lélia Gonzalez e Clóvis Moura para saber que a tese central de Jessé para explicar o Brasil não é nenhuma novidade. O autor consegue passar ao largo até do debate mais recente temporalmente sobre modo de produção escravista colonial, levantado pelo polêmico e instigante livro de Jacob Gorender, O escravismo colonial (publicado originalmente em 1985).
Em segundo lugar, Jessé afirma ser o primeiro a fazer uma crítica sistemática da teoria da modernização – eu usaria o plural: teorias da modernização – emanadas do centro do capitalismo. Outra afirmação absurda, recheada de apagamento histórico e autoelogio imerecido. O próprio Florestan Fernandes, tão citado por Jessé, é um duro e qualificado crítico das teorias da modernização após 1964.
O ponto alto das críticas às teorias da modernização propagadas pelo centro do capitalismo é a Teoria Marxista da Dependência (TMD). Toda obra de Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini e Vânia Bambirra – para ficar apenas nos brasileiros, sem focar, por exemplo, em André Gunder Frank – visa desvelar os mecanismos de dominação burguesa e imperialista inscritos em leituras teóricas e propostas de ação políticas fundamentadas no colonialismo cultural, obliterando as particularidades e formas específicas de acumulação capitalista e dominação política na periferia do sistema.
A TMD não é uma “explicação econômica” do subdesenvolvimento, mas uma crítica da economia política desde a periferia do sistema, lastreando-se na abordagem marxiana e buscando captar a totalidade da forma de ser do capitalismo dependente. Mesmo destacando toda genialidade e gigantismo do empreendimento da TMD, cabe pontuar que por uma série de fatores históricos e conjunturais, como a Revolução Cubana, a produção das ciências sociais na América Latina durante os anos de 1960 e 1970 vivia seu ponto alto, e que mesmo fora do quadro teórico da TMD, como na obra do grande Agustin Cuevas, tínhamos a produção de um instrumental teórico totalmente crítico e criativo frente às teorias da modernização e paradigmas teóricos submissos ao colonialismo cultural.
É no mínimo irônico que Jessé, na busca de mostrar que ninguém criticou as teorias da modernização, busque seus exemplos em Pierre Bourdieu e Jürgen Habermas, negando-se a debater com qualquer um dos principais pensadores/as da América Latina e particularmente do Brasil que produziram sobre o tema. É estranho um tipo de sociologia que pretende ajudar a compreender o Brasil ignorando quase completamente a sociologia brasileira!
Convido a conferir, a título de exemplo, o belíssimo trabalho de Fernando Correa Prado “A ideologia do desenvolvimento e a controvérsia da dependência no Brasil” (Lutas anticapital, 2020) e a informativa pesquisa de Claudia Wasserman “A teoria da dependência: do nacional desenvolvimentismo ao neoliberalismo” (FGV, 2017). Essas duas obras que oferecem uma introdução qualificada ao debate e conseguem expressar o tamanho do apagamento histórico e difusão da ignorância teórica realizada por Jessé Souza.
Ainda nesse ponto, destaco que não se trata de uma mera cobrança acadêmica de debate. As reflexões teóricas e críticas sobre as teorias da modernização do imperialismo têm um solo histórico-concreto: experiências de vias alternativas de “desenvolvimento”, seja as derrotas, como o Chile da Unidade Popular, as em curso, como Cuba socialista, ou as que buscam seu caminho com todos os limites, como os processos bolivarianos na Venezuela e Bolívia. Ignorar essa história não é questão acadêmica, mas um problema político com consequências táticas e estratégicas.
Por fim, Jessé, como vimos acima, fala do racismo e da desumanização da população negra como um problema invisível e nunca conscientizado – além de fazer uma autocrítica por desconsiderar em trabalhos passados a importância do determinante racial na dominação política e estrutura de classes. Nas palavras do autor, repetindo: “em países como o nosso, não há como separar […] o preconceito de classe do preconceito de raça”.
É como se o movimento negro brasileiro não existisse. Jessé esquece expressões como o Movimento Negro Unificado (MNU) e a importância do protesto negro na Constituição de 1988 e no processo de reorganização das esquerdas após o fim da ditadura empresarial-militar. Para estudar um pequeno exemplo desses debates nos anos de 1980, basta conferir o livro de Florestan Fernandes citado acima.
Para além da omissão da história real da luta antirracista nacional, a autocrítica de Jessé é chamativa. O autor descobriu no seu livro, publicado em 2017, que não é possível, no Brasil, traçar uma barreira bem demarcada entre raça e classe na conformação e reprodução das classes do trabalho. Uma grande descoberta, sem dúvidas. Tem apenas um problema. Explico em três atos.
Nelson Werneck Sodré, no já citado Introdução à revolução brasileira, diz:
“É por isso que nos preocupamos em frisar, anteriormente, dois aspectos essenciais: o problema das relações de raça não pode ser entendido e interpretado sem a compreensão do quadro das relações de classe, e que o elemento negro e aquele que conserva, pela miscigenação, as suas características exteriores, em destaque a da pigmentação, ficaram relegados, através das transformações porque passamos, à classe que fornece o trabalho.” (SODRÉ, 1967, p. 157).
Rui Facó, importante jornalista, pensador e militante comunista, em 1960, afirmava que:
“Legalmente, constitucionalmente [brancos e homens de cor] têm os mesmos direitos e oportunidades. Na prática, o negro, os mulatos encontram no Brasil numerosas limitações. É impossível dizer onde estas são impostas por motivos de ordem racial ou de classe. Porque a quase totalidade da população negra do Brasil pertence às camadas proletárias ou semiproletárias.” (FACÓ, 1960, p. 23-4).
Já Clovis Moura, num livro publicado originalmente em 1994:
“O Negro foi obrigado a disputar a sua sobrevivência social, cultural e mesmo biológica em uma sociedade secularmente racista, na qual as técnicas de seleção profissional, cultural, política e étnica são feitas para que ele permaneça imobilizado nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas. Podemos dizer que os problemas de raça e classe se imbricam nesse processo de competição do Negro pois o interesse das classes dominantes é vê-lo marginalizado para baixar os salários dos trabalhadores no seu conjunto.” (MOURA, 2020, p. 215).
Basicamente, o que Jessé, em 2017, apresentou como descoberta e autocrítica, é pão comido, reflexão mais que conhecida, na sociologia crítica brasileira. A conclusão que se impõe é inequívoca: Jessé Souza assume um estilo de exposição e escrita onde ele busca o tempo todo mostrar-se como inovador, o melhor, o mais criativo, o guerreiro solitário da crítica social no Brasil. Quando busca apresentar suas “novidades”, temos, na imensa maioria dos casos, uma caricatura de algo conhecido – na teoria e na luta política – há décadas. Claro, alguém pode falar que não adianta algo existir e está isolado das massas e destacar o importante papel que cumpre Jessé como divulgador público, didático e com escrita acessível.
É um argumento forte, todavia, ele contém um salto lógico. É possível ser didático, acessível e escrever para o grande público sem inventar novidade onde não há ou fazer afirmações erradas sobre outros autores e se colocar como gênio continuador que fará a correção. Jessé, inegavelmente, é um intelectual público que sabe comunicar e, como diz o dito popular, “vender seu peixe”. O problema é que na hora de vender o peixe, ele começou a criar muitas histórias de pescador.
O marxismo de Jessé Souza: um caso de irresponsabilidade intelectual
Mostrar essa estética de grande novidade na obra de Jessé foi importante para explicar seu procedimento com o marxismo. Tendo esse problema em mente, Jessé opera a partir de dois procedimentos frente ao marxismo. O primeiro é ignorar muitos teóricos marxistas e sua produção. Não debater, não citar, não questionar, fingir que nunca existiu. Se alguém conhecer a obra de Florestan Fernandes pelas mãos de Jessé Souza, dificilmente saberá que Florestan era um marxista, revolucionário e defensor do socialismo. Esse primeiro procedimento, focado no apagamento, já foi brevemente explorado na primeira parte desse escrito.
Em A ralé brasileira, Jessé diz que tanto o “economicismo liberal” quanto o “marxismo tradicional” […] “percebe a realidade das classes sociais apenas ‘economicamente’”, no primeiro caso como produto da ‘renda’ diferencial dos indivíduos e no segundo, como ‘lugar na produção’” (2009, p. 18). Em seguida, passa a apresentar “sua” visão de classes sociais, inspirada diretamente na produção de Pierre Bourdieu.
Primeiro, não sabemos o que é esse “marxismo tradicional” de que Jessé fala. O tradicional, como adjetivo, designa qual marxismo? É um qualificativo de tipo temporal ou demarca uma corrente ou vertente específica do marxismo? Simplesmente não existe resposta. Jessé também não explica o que é “lugar na produção” na visão marxista – seja na obra de Marx e Engels ou de alguma corrente marxista importante – e muito menos cita algum trabalho que busque debater as diversas teorias das classes sociais na tradição marxista.
Em outro momento do A ralé brasileira, Jessé diz que a visão marxista de luta de classes é “antiga e anacrônica”, cultivando “imagens da esfera pública e da revolução política” e que “deixamos de ver a ‘luta de classes’, cotidiana, mais invisível e menos barulhenta, mas não menos insidiosa, que se reproduz sem que ninguém se dê conta” (2009, p. 24). Agora o marxismo tem uma visão antiga e anacrônica da luta de classes e ainda é culpado por turvar a visão da “verdadeira” luta de classes. Mas por qual motivo o marxismo defende uma visão antiga e anacrônica? Jessé, de novo, não explica, mas fica subtendido que ele se refere ao suposto caráter economicista do marxismo, compreendendo classe “apenas” como o lugar que o indivíduo ocupa nas “relações de produção”, não percebendo, segundo Jessé, a ordem simbólica e moral específica do capitalismo.
O autor, porém, não demonstra durante todo livro o suposto economicismo do marxismo. Opera, na prática, com uma tautologia: o marxismo é economicista, porquê sim, logo, é anacrônico, antigo etc. A visão correta da compreensão das classes sociais e sua dinâmica, para o autor, é essa:
“Onde reside, no raciocínio acima, a ‘cegueira’ da percepção economicista do mundo? Reside em literalmente não ‘ver’ o mais importante, que é a transferência de ‘valores imateriais’ na reprodução das classes sociais e de seus privilégios no tempo. Reside em não perceber que, mesmo nas classes altas, que monopolizam o poder econômico, os filhos só terão a mesma vida privilegiada dos pais se herdarem também o ‘estilo de vida’, a ‘naturalidade’ para se comportar em reuniões sociais, o que é aprendido desde tenra idade na própria casa com amigos e visitas dos pais, ao aprender o que é ‘de bom tom’, ao aprender a não serem ‘over’ na demonstração de riqueza como os ‘novos ricos’ e ‘emergentes’ etc” (2009, p. 19).
Basicamente, Jessé considera que a socialização familiar diferencial, com transmissão – ou não – de elementos simbólicos, emocionais e afins, é fundamental na conformação das classes sociais e na competição social na ordem burguesa. A “grande descoberta” do autor, ruminando Pierre Bourdieu, é que elementos como concentração para o estudo, prospecção de futuro, habilidade de liderança e outras, não são inatos, dados naturais dos seres humanos, mas “bens simbólicos” que são assimilados ou não de acordo com o capital cultural disponível na família e no meio social do sujeito.
A distribuição desigual desses “bens simbólicos” é fundamental na explicação das desigualdades e é apagado pelo economicismo marxista e liberal, segundo nosso autor.
É rigorosamente falso a ausência de estudos, em toda tradição marxista, dos mecanismos de socialização familiar e circulação de bens simbólicos no processo de reprodução das classes sociais e da estratificação social (e não é preciso usar o conceito de “bens simbólicos” ou “capital cultural” para tratar do tema). Bastaria Jessé abrir alguns trabalhos de Florestan Fernandes, Clóvis Moura e Octavio Ianni – para ficar apenas em três exemplos nacionais – para termos a dimensão do quanto é questionável essa afirmação. Um pequeno exemplo de um marxista não acadêmico.
Em 1918, Lênin escreve seu famoso livro A revolução proletária e o renegado kautsky. O líder bolchevique debate como mesmo após a tomada do poder político, a burguesia continua sendo uma classe poderosa, com capacidade de ação política e organização. Diz Lênin sobre o poder da burguesia no pós-revolução:
“Ainda durante muito tempo depois da revolução, os exploradores conservam inevitavelmente uma série de enormes vantagens factuais: mantém o dinheiro […], certos bens móveis, muitas vezes significativos, conservam relações, os hábitos de organização e de administração, o conhecimento de todos os ‘segredos’ (costumes, processos, meios, possibilidades) da administração, conservam uma instrução mais elevada, a proximidade com o pessoal técnico superior (que vive e pensa à maneira burguesa), conservam (e isso é muito importante) uma experiência infinitamente superior na arte militar, e assim por diante” (LENIN, 2019, p. 88).
Lênin está descrevendo um poder político da burguesia fundamentado no numa série de processos e relações sociais que Jessé Souza chamaria, em poucas palavras, de “capital cultural” – ainda que a visão de Lênin seja pautada pelo problema do poder político e a de Jessé, a dimensão da estratificação social. Aliás, durante todo período de 1919-22, Lênin desenvolve uma série de reflexões importantíssimas sobre as transformações culturais, ideológicas e simbólicas no processo revolucionário e as permanências a partir de costumes, hábitos, conservação de relações sociais no âmbito familiar etc. – convido o leitor a travar contato com o livro Lênin e a revolução de Outubro: textos no calor da hora (Expressão Popular, 2017).
Como já disse, mesmo com toda essa argumentação descuidada e pouco séria, Jessé é mais comedido no A ralé brasileira. Em A elite do atraso, o autor continua denunciando os conflitos e a dominação social “oculta” e diz que “a direita demonizou o marxismo e a noção de luta de classes” e a esquerda “banalizou e simplificou o que já era simplista em Marx”, e completa dizendo que por isso, a tarefa – isto é, a tarefa de Jessé de revelar a dinâmica real das classes e sua luta – “não é fácil” (2017, p. 84).
Por qual motivo a categoria de luta de classes em Marx é simplista? Jessé não diz, mas fica subtendido, a partir de uma leitura das entrelinhas, que é pelo suposto economicismo. O economicismo, também nesse livro, não é demonstrado. Temos, novamente, uma tautologia. Na prática, quem não rumina Pierre Bourdieu, falando em diversos tipos de capital, é economicista para Jessé. Um pouco a frente, isso fica claro quando o autor escreve que “o capital cultural é tão indispensável para reprodução do capitalismo quanto o capital econômico” (2017, p. 91). Jessé usa capital econômico e cultural pela lavra de Bourdieu e, como sabemos, o conceito de “capital econômico” do sociólogo francês não é o mesmo que a categoria de capital na crítica da economia política de Marx. E, novamente, é inútil procurar no livro uma análise dessa diferença e uma demonstração do porquê a abordagem de Bourdieu seria melhor.
A saga de Jessé contra o marxismo ganha ares melodramáticos quando ele diz que “infelizmente, a leitura de esquerda, influenciada pelo marxismo, não é muito melhor que a leitura liberal da renda como fator determinante” (2017, p. 87). Na mesma página, um parágrafo abaixo, diz que “a leitura inspirada pelo marxismo e dominante nas esquerdas entre nós concentra-se na produção e na ocupação”. Note, Jessé afirma, sem medo e sem pudor, que a leitura marxista das classes sociais é dominante entre as esquerdas brasileiras. Não conheço nenhum outro autor sério que afirme isso ou uma pesquisa empírica que fundamente tal afirmação. No debate nacional, até onde me consta, só a extrema direita olavista, pela chave do “marxismo cultural”, afirma uma dominância do marxismo nos partidos de esquerda.
Ainda na mesma página, completa e arremata Jessé:
“Ao mesmo tempo, as versões marxista e liberal compartilham do mesmo ponto de partida. Ambos são economicistas, ou seja, estão firmemente convencidas de que a única motivação do comportamento humano é, em última instância, econômica, o que é uma grande bobagem. A versão marxista de perceber as classes, apenas de um pouco melhor que a versão liberal, não consegue explicar o principal: por que algumas pessoas escolhem certo tipo de ocupação ou de lugar na produção? O vínculo genético para na ocupação. Parte dela como dado absoluto e não explica o principal: por que alguns indivíduos que pertencem a algumas classes desempenham secularmente certo tipo de função nas relações produtivas?” (2017, p. 87-88 – grifos nossos).
Esse trecho tem três vetores principais. Primeiro, a mesma afirmação nunca demonstrada sobre o economicismo do marxismo; em segundo lugar, uma pseudo questão. Não é um questionamento teórico sério inquirir porquê algumas pessoas escolhem certos tipos de ocupação. Que pessoas? Em qual conjunto histórico e social? Essa pergunta, em abstrato, abre uma possibilidade para uma série de considerações infinitas e variadas como especulação probabilística. Jessé, provavelmente, diria que é a dinâmica de socialização familiar e transmissão do capital cultural. Pois bem, minha mãe é semi-analfabeta, minha irmã só terminou o ensino médio e todo meu círculo familiar, amigos da infância e adolescência e vizinhos, são de pessoas com ensino médio incompleto ou completo. Eu sou mestre e escritor. Isso prova que eu refutei a “teoria” de Jessé Souza? Não é minha socialização familiar e capital cultural transmitido que explica minha vida profissional hoje. Essa questão é pouco séria.
O terceiro vetor é um bom questionamento. É muito importante se perguntar porque alguns indivíduos e classes desempenham secularmente o mesmo papel social. O problema é Jessé pressupor que o marxismo não explica ou tenta explicar o tema. Praticamente todos os livros que citamos na primeira parte desse escrito abordam o tema. Mas qual é a explicação de Jessé? Esse ponto é muito importante e mostra como o culturalismo do nosso sociólogo o levou a um beco sem saída. Peço muito atenção a esse trecho a seguir:
“As classes sociais só podem ser adequadamente percebidas, portanto, como um fenômeno, antes de tudo, sociocultural e não apenas econômico. Sociocultural posto que o pertencimento de classe é um aprendizado que possibilita, em um caso, o sucesso, e, em outros, o fracasso social. São os estímulos que a criança de classe média recebe em casa para o hábito de leitura, para a imaginação, o reforço constante de sua capacidade e autoestima, que fazem com que os filhos dessa classe sejam destinados ao sucesso escolar e depois ao sucesso profissional no mercado de trabalho. Os filhos dos trabalhadores precários, sem os mesmos estímulos ao espírito e que brincam com o carrinho de mão do pai servente de pedreiro, aprendem a ser efetivamente, pela identificação com aquém ama, trabalhadores manuais desqualificados” (2017, p. 88)
Note, segundo Jessé, as classes são “antes de tudo”, um fenômeno sociocultural. Essa dimensão sociocultural se expressa na transmissão de “bens simbólicos”, como hábito de leitura e outros, que formam um aprendizado que possibilita um sucesso na escola e depois no mercado de trabalho. Os filhos da classe trabalhadora, com outro aprendizado e sem acesso a esses “bens simbólicos”, fracassam na escola e no mercado de trabalho. Essa explicação tem uma infinidade de problemas, mas vamos focar apenas no principal.
Fica claro que Jessé pensa na dinâmica de classe como uma disputa que passa pela escola e se define no mercado de trabalho. Para uma família de classe média, isso pode até fazer algum sentido. Se um sujeito X, filho de um contador que ganha 6 mil por mês, não se formar e/ou conseguir um trabalho com nível de renda igual ou superior, ele tendencialmente não vai reproduzir sua posição de classe vinda da família. Pode acontecer o que no marxismo chamamos de processo de proletarização.
O problema dessa explicação é a burguesia. Me parece que ninguém em sã consciência vai dizer que o que definiu o lugar social de burguês dos herdeiros de Roberto Marinho – para ficar num exemplo – foi seu sucesso na escola e no “mercado de trabalho”. Herdeiros da Família Marinho, na prática, nunca participaram do mercado de trabalho. Eles são administradores de um dos maiores grupos econômicos da América Latina, que herdaram. É lógico que eles, no processo de socialização, tiveram acesso a um “capital cultural” que a maioria dos trabalhadores e da classe média não tem. Mas não é o capital cultural que permitiu a Roberto Irineu Marinho, presidente da Rede Globo, ser quem é – ele teve acesso a esse “capital cultural” por ser filho de um Marinho.
A não ser que Jessé trabalhe a ideia de que esse capital cultural herdado é que permitiu à Família Marinho “administrar bem” os negócios da família e não entrar em falência, perdendo sua condição de burguesia. Nesse caso, entra pela janela a lenda da meritocracia: a partir da condição privilegiada – isto é, o capital cultural propício para o sucesso -, a reprodução da condição de classe foi fruto de uma competição exitosa ou no mínimo de uma boa gestão do “capital cultural” herdado. Nesse sentido, o estudo que mostra que as famílias ricas de Florença que são as mesmas há 600 anos, deve levar à conclusão de que temos um caso de uma competição eternamente ganha ou de um exímio exemplo de gestão do capital cultural herdado de geração em geração.
Como Jessé resolve esse problema que salta à vista? Ele diz que “até o muito rico e poderoso tem que possuir um tipo de capital cultural quase sempre ligado ao gosto estético para que possa ter acesso às relações importantes com seus pares – em uma espécie de solidariedade de privilégios – que são fundamentais para o bom andamento dos negócios”; mas e quando não existe esse capital cultural? O autor responde afirmando que “um rico que só tem dinheiro, como um rico bronco, é malvisto pelos pares e está sujeito a amizades e casamentos – principal forma de consolidar e aumentar fortunas em vez de fragmentá-las – menos vantajosos” (2017, p. 94). Antes de prosseguir com a explicação, vamos nos deter nessa parte.
O autor mobiliza aqui cenas clássicas de filmes, novelas da Rede Globo e mexicanas. Quem nunca viu a cena de um filme/novela que conta a história de uma ou um novo rico que não é bem aceito pelos seus pares por causa da sua origem humilde e seus gostos não refinados? Todos nós já vimos isso no cinema, em alguma personagem Helena das novelas da Globo ou numa das Marias da cantora Thalía. O sociólogo opera diretamente com um senso comum fantasiado de ciência.
Jessé desconsidera um dado básico da economia capitalista: o distanciamento cada vez maior entre propriedade e gestão do capital, com fundos, corretoras e bancos de investimento assumindo a gerência de empreendimentos a partir de CEOs. E a complexa e intricada rede de gestão e expansão do capital é reduzida a uma imagem televisiva de dois ricos acertando o casamento dos filhos. Na prática, uma parte significativa da classe dominante vive como rentista a partir do retorno de títulos públicos, cotas de ações, lucro de fundos de investimentos etc.
Em segundo lugar, Jessé diz que esse “refino” e “bom gosto”, são “fundamentais para o bom andamento dos negócios”. O que é isso? O nível de retorno nos investimentos em títulos do tesouro dependem do “bom gosto” e “refino” dos especuladores? A própria frase, com sentido de reflexão sociológica, “bom andamento dos negócios”, não diz absolutamente nada.
Jessé mobiliza a imagem do “rico que só tem dinheiro, um rico bronco”. É uma imagem de valor sociológico nulo, ligada diretamente às representações da indústria cultural – como o filme Família Buscapé. Alguém aqui poderia citar jogadores de futebol ou cantores como “novos ricos, broncos”, mas essas pessoas estão longe de representarem o núcleo da classe dominante de qualquer país. A não ser que alguém considere que Neymar tem a mesma função econômica, política, ideológica e institucional no Brasil que a família Setúbal (dona do Banco Itaú) ou a Família Marinho.
Aliado a isso, ainda no estilo “sociologia família Buscapé”, Jessé diz que casamentos e amizades são a principal forma de aumentar e consolidar fortunas, ao invés de fragmentá-las. Essa afirmação é um coelho tirado da cartola para sustentar a tese do caráter “antes de tudo, sociocultural” das classes e do “capital cultural” como fator central da dinâmica de classes. Tem, novamente, valor sociológico nulo, pois não é demonstrada. O autor não fundamenta, não indica nenhum estudo, que prove sua argumentação. Segue amparada, como em toda essa “argumentação”, no senso comum produzido pela indústria cultural. A precariedade desse “argumento” é percebida, talvez inconscientemente, até pelo próprio Jessé quando, na mesma página da citação acima, um parágrafo abaixo, coloca que “na verdade, o capital econômico e mais importante está concentrado de modo crescente – nas condições da atual dominância do capital financeiro – nas mãos de muito poucos” (2017, p. 94).
Se o capital está concentrado nas mãos de “muito poucos” não deve ser o casamento e as amizades o fator capaz de aumentar e consolidar fortunas, dado os limites próprios das possibilidades de casamentos e conexões de amizade em grupos reduzidos de “muito poucos”. A afirmação é uma contradição lógica com toda argumentação anterior. Mas tem algo mais perturbador que escapa nesse trecho. O que significa precisamente a frase “o capital econômico e mais importante”? Mais importante em quê? Na reprodução das classes? Mais importante que o capital cultural? E essa “condição de atual dominância do capital financeiro”, o que significa na “teoria” de Jessé das classes sociais? O processo de reprodução da burguesia é igual ao período fordista do capitalismo ou a “dominância do capital financeiro” traz transformações? Se sim, quais? Entenda quem puder!
Na continuidade do raciocínio, apesar de colocar que “embora todas as classes tenham sua posição relativa de poder e prestígio determinada, em grande medida pela conjunção peculiar desses três capitais fundamentais” – a saber, o capital social, econômico e cultural -, temos uma relativa exceção, pois “abaixo da elite econômica a grande luta é, na verdade, por acesso ao capital cultural” e, em conclusão, o único capital que o “capitalismo logrou em grau muito variável efetivamente democratizar”, foi o capital cultural, mas no Brasil, essa democratização ficou restrita apenas à “classe média” (2007, p. 94-95).
Aqui temos outra variação. Antes era o capital cultural o determinante, agora é a conjunção dos três capitais onde, vejam só, o capital econômico aparece no mesmo status teórico de importância que o capital cultural, mas essa dinâmica não é para todas as classes, pois “abaixo da elite econômica a grande luta é por acesso… ao capital cultural” que, nesse caso, volta a ser determinante, na “competição” entre classe média e trabalhadora, mas não o é para “elite”.
O autor vai, volta, retorna, se contradiz, torce e estica sua “teoria” e simplesmente não consegue explicar a reprodução da condição burguesa – ou de classe dominante – pela sua compreensão de classe “antes de tudo, sociocultural”. O nível de confusão é tão grande que Jessé Souza refuta Jessé Souza. Um parágrafo depois de dizer que “abaixo da elite econômica” é o capital cultural o determinante, o autor diz:
“Afinal, o capital econômico se torna cada dia mais concentrado e é transmitido ‘pelo sangue’ – a marca mais perfeita do privilégio injusto – como ele foi desde os tempos imemoriais. Como o conhecimento, daí o seu caráter de capital impessoal, é tão indispensável à reprodução do capitalismo como o capital econômico, o capital impessoal e fundamental que sobra para a disputa das outras classes entre si é o capital cultural” (2017, p. 95 – grifos nossos).
Veja bem, o capital econômico é cada dia mais concentrado. Na página 94 temos a mesma afirmação, mas a responsabilidade é debitada à condição de “dominância do capital financeiro”, mas sua transmissão é assim desde os “tempos imemoriais”, contudo, a tal “dominância do capital financeiro” não impacta nessa transmissão? Impacta apenas na concentração? Por quê? Embora sem resposta, prosseguimos. O autor nos diz que o que “sobra” na disputa entre as outras classes é o capital cultural, logo, o que garante realmente a condição burguesa é o capital econômico. Porém, se mudarmos o prisma do olhar? Se o “capital econômico” é o que de fato garante a condição burguesa, não estando em disputa com as classes médias e trabalhadoras, isso significa que o fundamento de todo edifício, o que garante as condições gerais de “disputa”, é a monopolização do “capital econômico”, o ponto central da estrutura de classes, não o “capital cultural”.
E depois de várias e várias voltas, ainda que sem uma teoria da acumulação capitalista, Jessé descobre que é a propriedade privada dos meios de produção transformada em capital, isto é, valor em processo de valorização, que estrutura a condição burguesa, e seu negativo, os sem propriedade com infinitas possibilidades de ocupação na divisão social do trabalho.
Um exame exaustivo da página 84 até a 107 do livro A elite do atraso vai mostrar todo esforço, no fim inútil, para tentar encaixar a teoria na explicação da condição burguesa e aporias cada vez mais gritantes e grotescas. É esse autor, senhoras e senhores, que diz que a teoria da luta de classes em Marx é “simplista” e que pretende descartar, com poucas frases, o marxismo como “economicista”.
Caminhando para conclusão, vamos passar por outro livro de Jessé. Em 2018, o autor lança A tolice da inteligência brasileira, onde Jessé pretende ensinar a intelectualidade nacional a pensar e esclarecer o povo sobre a manipulação que sofre pela elite. Novamente, em algumas passagens do livro, trata de Marx e do marxismo. Defende ampliar “a ideia de ‘capital’ de sua conotação meramente econômica, que possuía em Marx, para englobar tudo aquilo que pré-decide o acesso a todos os bens e recursos escassos que cada um de nós deseja” (2018, p. 85). Como já dito nesse escrito, Jessé trata a categoria de capital em Marx como se fosse o mesmo que capital em Pierre Bourdieu. O autor vai de livro em livro repetindo o mesmo “erro”. Ou ele tem um conhecimento precário da obra de Marx, não quis informar seu leitor da diferença, ou opera com pouca honestidade intelectual. Fica ao gosto de cada um decidir.
Em outro momento do livro, Jessé diz novamente que o marxismo tem um “economicismo implícito” e agora a justificativa não é mais pensar as classes apenas como o “lugar na produção”, mas “construir as realidades simbólicas como epifenômeno de interesses materiais ao imaginar que possam existir realidades materiais não mediadas simbolicamente” e em seguida, diz que o marxismo não desenvolveu um “aparato conceitual que ‘dê conta’ de compreender a dominação social, ao contrário de Max Weber, na sua sociologia das religiões”, segundo o autor (2018, p. 115).
Na continuidade do “raciocínio”, Jessé se empolga. Diz que desse erro dos marxistas, isto é, desconsiderar a dimensão simbólica. etc., vem essa “mania um pouco ridícula dos marxistas de sempre procurarem ‘consciência de classe’ e ‘atores revolucionários’” e diz que os marxistas imaginam que a exploração é apenas uma “exploração econômica” que “basta ser mencionada para ser compreendida” (2018, p. 116). Depois dessa verborragia, tem um aparente contraponto. Coloca que “isso não significa que não existam belas análises políticas marxistas como as do próprio Marx, muito especialmente em relação aos estudos das lutas de classe na França do século XIX”, porém, em seguida a esse aparente elogio, diz que “elas decorrem da genialidade pessoal de Marx, não das categorias e de um quadro de referência teórico refinado que pode ser aplicado a diversos contextos concretos” (2018, p. 116).
Conclui a caricatura do marxismo dessa forma:
“Tanto que, até hoje, quando um marxista quer falar de política, usa quase sempre o ‘bonapartismo’ como conceito central, quando em Marx ele era utilizado para análise de um caso de exceção. Esticam o conceito de tal modo que fazem realidades simbólicas complexas e díspares caberem em seu estreito leito” (2018, p. 116).
Aqui peço permissão ao leitor/a para subir um pouco o tom. Jessé escreve um livro com a pretensão de orientar toda a intelectualidade brasileira. Nesse caminho, porém, continua tratando de forma irresponsável, desleixada e infantil o marxismo, fazendo afirmações que não demonstra, como dizer que o marxismo pensa “as realidades simbólicas como epifenômeno de interesses materiais”. Pega um senso comum tosco, preguiçoso e da moda contra o marxismo, a mesma ladainha há 30 anos, dizendo que o marxismo é economicista, teleológico e que ignora temas como cultura e subjetividade, e repete como grande novidade. Jessé não teve nem a criatividade de inventar novas caricaturas. Mastiga e vomita o senso comum acadêmico contra o marxismo formado nos anos de 1990.
Em seguida, faz uma caricatura sobre o debate marxista de consciência de classes e repete com Marx o mesmo procedimento que fez com Florestan Fernandes: um pseudo elogio, dizendo que Marx fazia belas análises, como as sobre a França, mas isso decorre da “genialidade individual” e não das categorias e quadro de referência teórica. Nosso autor inventa que é possível fazer “belas análises” mesmo com tudo errado: categorias e quadro de referência teórica – isto é, a concepção teórico-metodológica.
Em conclusão a isso, cria um espantalho com o debate sobre bonapartismo e ele mesmo refuta seu próprio espantalho, num procedimento que só pode despertar risos. O tratamento de Jessé é muito mais que apagamento de grandes pensadoras/es marxistas e uma simplificação absurda dos debates nessa corrente teórico-política, é uma expressão verdadeira de desonestidade no debate intelectual. Não existe um confronto e uma crítica real ao marxismo. Mas um espantalho permanente para o autor, no fim de tudo, olhar-se no espelho e dizer: existe alguém mais inteligente do que eu? – talvez o espelho responde: não mestre, só Florestan Fernandes chegou perto, mas não lhe alcança.
Jessé é um autor com visível talento teórico. Poderia contribuir para avançar o debate sobre a dinâmica de classes e suas lutas no Brasil e estabelecer um diálogo crítico com o marxismo. Escolheu o caminho da autopromoção, caricatura e baixa seriedade. É uma pena. Mas não é surpresa. Resta acompanhar a saga do nosso Ícaro tropical na esperança de um dia acontecer um debate sério com o marxismo.