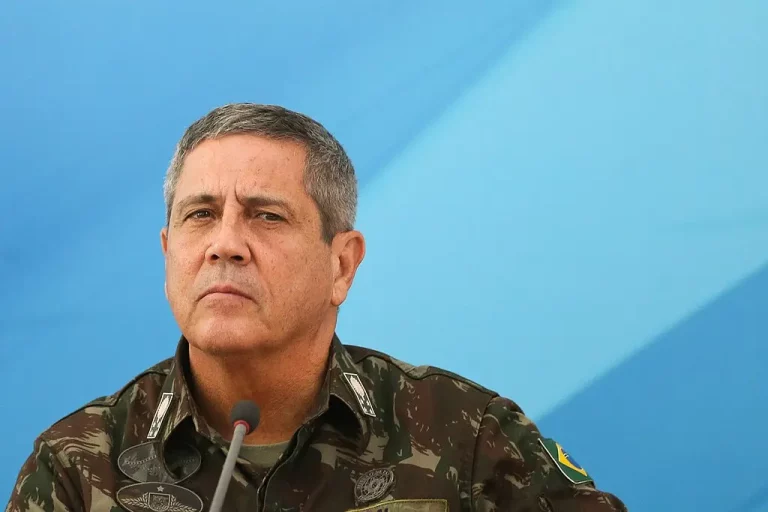Nos últimos anos, uma profusão de intelectuais lançaram obras imprescindíveis sobre a história do movimento comunista, traduzidas em dezenas de países. A escolha da derrota: as elites francesas na década de 1930, de Annie Lacroix Riz, O socialismo traído: por trás do colapso da União Soviética, de Roger Keeran e Thomas Kenny, e Vida cotidiana e terror na Rússia de Stálin: 1934-1941, de Robert Thurston, são alguns exemplos possíveis. Ainda assim, nenhuma dessas obras foi publicada no Brasil.
Poderia citar vários outros exemplos de relevantes ensaios de uma corrente historiográfica e política dos últimos 30 anos, que busca repensar os consensos, mitos e teses erguidos no entrevero da Guerra Fria. Desta produção, no entanto, só temos no Brasil algumas obras de Wendy Goldman e de Domenico Losurdo.
A discussão sobre a história do movimento comunista, no Brasil, ainda é residual. Na academia, tome-se como exemplo que o número de grupos ou laboratórios de pesquisa e estudos dedicado ao tema na academia não passam de 30. Os especialistas são poucos. Na centro-esquerda institucional (PT, PCdoB, PDT, PSB) não existe – com exceção do PCdoB – uma preocupação sistemática quanto ao debate da história das experiências socialistas. No campo radical (PCB, PSTU, PCR e PSOL) o debate e a preocupação existem, mas não são massivos e penam para tomar a esfera pública. No PSOL, maior e mais estruturado partido desse campo, quase não se vê esforços amplos nesse sentido.
Se este é o cenário, parece claro que tanto nas ciências sociais quanto na discussão política brasileira o que ainda nos orienta sobre a história do movimento comunista internacional é um vazio profundo e a ignorância. É a partir desse espaço vazio que aparece uma oportunidade para que cresça, sem defesa ou contra-ataque, a ossatura da ideologia liberal e anticomunista que, quase sozinha, apresenta um balanço histórico do século 20.
A Guerra Fria ofereceu aos intelectuais anticomunistas do ocidente a oportunidade de construir uma visão dicotômica entre democracia liberal e socialismo/comunismo. No essencial, esse discurso vai no sentido de alegar que o século passado fora marcado pela divisão entre os valores liberais e os comunistas, as democracias ocidentais e a “cortina de ferro”, uma luta entre o bem e o mal. As experiências socialistas seriam descritas como ceifadoras das liberdades individuais e da democracia política, e semeadoras de fome, atraso, desabastecimento e ineficiência econômica. O liberalismo, por outro lado, seria o garantidor das liberdades individuais, defensor da democracia política e arrimo de um padrão de vida superior e inaudito. O comunismo seria aproximado ao nazismo, o maior exemplo de horror da história recente da humanidade.
Esse balanço histórico, feito pelas potências capitalistas ocidentais no contexto da Guerra Fria, foi tão forte no passado que até hoje tem uma dimensão de verdade autoevidente. Não foi possível, nos últimos trinta anos, se afirmar marxista sem ser obrigado a proferir palavras envergonhadas sobre os “erros” do passado aqui ou ali – dentro da esquerda ou fora dela. Em muitos espaços, somente com esse autoflagelo é possível ao marxista conseguir algum grau de respeitabilidade.
Nessa mea culpa mecânica, no entanto, mora um senso comum liberal e anticomunista que é bastante útil para dois espectros políticos aparentemente antagônicos, mas ao mesmo tempo complementares. Conservadores, liberais e afins, como apologistas diretos da ordem, reproduzem esse balanço ideológico do século 20 para bloquear quaisquer reflexões e iniciativas políticas socialistas. A esquerda, que em tese se contrapõe à ordem, encontra nos liberais, sociais-democratas e desenvolvimentistas uma posição passível de ser caracterizada como apologia indireta à ordem capitalista. O resultado é a reprodução desse senso comum para se legitimar como única esquerda possível: uma esquerda responsável e moderna, uma esquerda atualizada para o século 21. Isso só contribui, de facto, para bloquear a possibilidade e a construção de um horizonte político socialista. Os dois grupos, em última instância, atuam como intelectuais da ordem.
A classe dominante global sistematicamente iguala nazismo e “comunismo” soviético. O ponto mais sofisticado dessa operação é o livro de Hannah Arendt As origens do totalitarismo (1951). Por meio do argumento de totalitarismo, é possível, sem quaisquer problemas, realizar uma série de comparações formalistas e falsas entre os supostos extremos – com o nazismo sendo o auge da extrema-direita e comunismo o auge da extrema-esquerda – a fim de legitimar uma “terceira via”. Da categoria mais refinada de totalitarismo até a vulgarização do viral na internet conhecido como “teoria da ferradura”. A ideia de que os “extremos” são todos iguais e se encontram, está apenas a um passo de nós.
O Brasil dos últimos tempos é farto de exemplos dessa atitude em meios de comunicação voltados para o campo da esquerda. O liberalismo presente dentro do guarda-chuva do progressismo permite que esse discurso ganhe alcance e legitimidade acima dos pontos críticos da “extrema-esquerda” e dos seus “radicalismos”. Nesse escopo, é possível encontrar frequentemente intelectuais comparando os métodos do bolsonarismo e aqueles da Revolução Cultural chinesa. A Coreia do Norte não fica de fora, sendo caracterizada como o Brasil que o bolsonarismo quer, exceto que à direita, em matérias de revistas de esquerda. A era inaugurada pela eleição de Jair Bolsonaro no ano passado é bastante frutífera para o gênero de crítica anticomunista realizado pela esquerda progressista e gera até mesmo comparações entre a concepção conservadora de família do bolsonarismo e de Olavo de Carvalho com uma suposta concepção conservadora do stalinismo.
A despeito dos possíveis méritos acadêmicos e jornalísticos dos exemplos citados, é certo que todos se baseiam no balanço dominante para fazer “análises” formalistas e, portanto, necessariamente forçadas e simplistas com vistas a equiparar supostos “extremos”. O questionamento a esse tipo de comparação absurda é recebido com o argumento de que é necessário fazer a devida “autocrítica” e repudiar os “erros do passado”. Nisso, a autocrítica, um importante elemento na dialética marxista e fundamental na avaliação estratégica e organizacional, é reduzida, na prática, a aceitar o balanço histórico da ideologia dominante.
Um observador atento irá se perguntar: por que comparar o bolsonarismo com a Revolução Cultural e não com o macarthismo? Qual o sentido de tentar assimilar a defesa reacionária da família feita pela extrema-direita com o “stalinismo” – seja lá o que for tomado por stalinismo pelo locutor – e não com a tradição cristã conservadora das Marchas da Família com Deus Pela Liberdade? E por qual razão comparar Bolsonaro e seus vassalos com Hugo Chávez e Lênin e não com o Patria y Libertad e o ditador chileno Augusto Pinochet? E mais, qual a necessidade de analogias pouco consistentes para o entendimento de um fenômeno histórico?
Quando as constantes cobranças por “autocrítica” e por “reconhecer” os erros do passado exigem adesão direta ao balanço dominante, elas geram o efeito contrário: impedem um balanço crítico da história do movimento comunista no século 20. O dirigente comunista italiano Palmiro Togliatti, ao deparar com o discurso soviético no xx Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, afirmou que antes todos os méritos e qualidades eram atribuídos a Stálin, agora todos os erros e brutalidades eram também atribuídos ao dirigente soviético – em um movimento do culto positivo ao culto negativo de sua personalidade. Tanto em um caso como no outro estamos bem longe de uma análise marxista.
Nesse contexto histórico-político, surgiram marxistas que descartavam tanto o investimento historiográfico quanto o legado do século 20 com as caracterizações do socialismo passado como mero capitalismo de estado. Ao mesmo tempo, muitos outros assumiram uma postura de defesa acrítica do legado do movimento comunista. Esse tipo de louvação objetificadora, além de equivocada, impede que o movimento aprenda com suas falhas. Assim, um pêndulo se forma entre o idealismo de esquerda que afirma “nunca ter existido um socialismo de verdade” e uma leitura religiosa do marxismo dedicada a tratar como perfeitas as experiências do século passado. Apenas a crítica radical pode combater o anticomunismo progressista ou conservador.
O tipo de balanço histórico do século 20 necessário – e que ganha novo fôlego nos dias atuais – é uma espécie de grito da hegemonia liberal. Com o fim da União Soviética e do Movimento Terceiro-Mundista, como diria o ideólogo do imperialismo Francis Fukuyama, parecia que tínhamos chegado ao fim da história. A história, porém, não acabou. A decadência do Ocidente, fundamentado no comando dos Estados Unidos e tendo como principais sócios a União Europeia e o Japão, provoca um profundo mal-estar nas fileiras liberais de esquerda e direita. Há que se destacar que o mal-estar é potencializado porque o maior promotor dessa decadência, a China, além de ser um país “oriental”, tem no seu comando um partido que se considera comunista.
A confusão entre a autocrítica e o anticomunismo de base liberal dentro de amplos setores da esquerda brasileira e mundial não é apenas um erro teórico. É também um reflexo, no sentido lukacsiano, de interesses de classe muito concretos. O que se afirma e reafirma é uma defesa da ordem com ares de esquerda ou de direita. O alargamento de horizontes socialistas na luta política passa pela construção de um novo balanço histórico, não só do século 20, como da modernidade burguesa em sua totalidade.
Para combater a ideologia dominante, é necessário escovar a história à contrapelo, criticando duramente todos e cada um dos nossos erros, mas valorizando o nosso legado emancipatório sem cair no anticomunismo. Criar, a partir de um esforço intelectual e militante, uma historiografia dos de baixo que busca recontar a história da modernidade pelo ponto de vista dos explorados e dos oprimidos. Um esforço que é, também, acadêmico, mas que vai muito além dos muros da universidade.
O verdadeiro sentido da noção corrente de “autocrítica” é uma arma da classe dominante para promover a liquidação da identidade e história comunista. É também uma forma de aprisionar o comunismo no século passado, onde a história teria supostamente se findado.
A teoria da luta de classes exige o resgate de nossa história. Na guerra, tem mais chance de vencer aquele que for destruindo as principais armas do inimigo. Nunca é demais lembrar que os intelectuais da burguesia não têm compromisso em fazer um balanço histórico equilibrado e sério que destaque, por exemplo, as contribuições e os objetivos emancipatórios do comunismo. Como diz um belo ditado africano, “até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas continuarão a glorificar o caçador”.