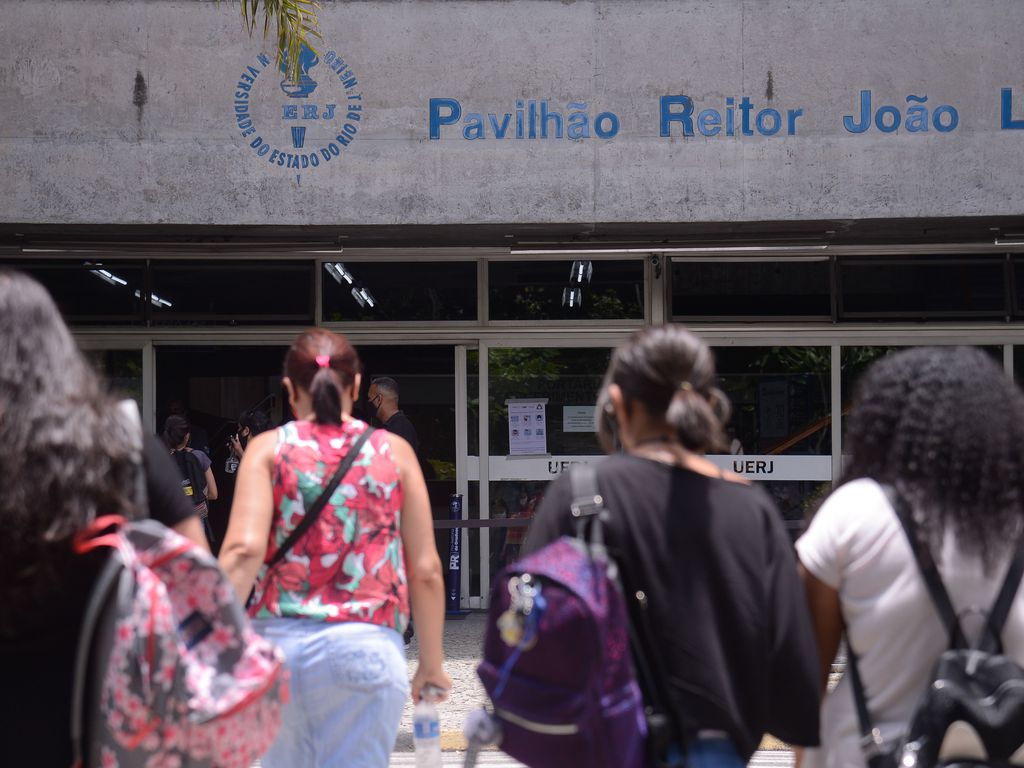Uma histórica bandeira do movimento estudantil latino-americano volta à tona agora no Peru em contexto eleitoral porque um dos candidatos, Pedro Castillo, a ergueu: o livre acesso à educação superior. Sim: poder cursar uma universidade pública sem vestibular nem outro requisito além da conclusão do ensino médio.
Parece utópico e inatingível, mas só em países excessivamente acostumados a desigualdades e privilégios – não tanto econômicos, mas, sobretudo, de direitos e oportunidades. Em sociedades mais ou menos parecidas com uma república democrática (Argentina e Uruguai, por exemplo), o livre ingresso é realidade consolidada; no México, algumas universidades adotam esse critério e o governo se responsabiliza por alocar nelas ou onde existam vagas os estudantes reprovados nos exames de ingresso das outras. Esses exemplos mostram que isso não compromete a qualidade do ensino e da pesquisa (os três países se destacam positivamente em tais quesitos) nem demanda um nível europeu de riqueza que eles não têm. A nação que decide fazer isso, faz.
Se o único efeito dessa medida fosse garantir a cada estudante a profissão que escolheu, ela já estaria justificada. Mas ela transcende a dimensão individual, ao promover um salto no perfil intelectual e profissional de um país – inclusive dos que não chegam a se formar, mas frequentam por 2 ou 3 anos o ambiente universitário. O nível cultural das populações argentina e uruguaia – mais baixo hoje que décadas atrás, porém mais alto que o do resto do continente – se explica, em parte, por essa democratização. E a imigração de estudantes oriundos de países que lhes fecham as portas da universidade é um dos fatores que tornam Buenos Aires a capital da América Latina. Um dos maiores contingentes, senão o maior, é precisamente de peruanos.
A contrario sensu, a restrição do acesso ao ensino superior traz uma perda incalculável ao país que não aproveita o potencial de jovens ávidos de conhecimento e oportunidades – aspecto que tem particular força no Peru, onde, apesar de dificuldades materiais dramáticas, fatores socioculturais tornam a juventude menos permeável à lumpenização que grassa no Brasil e mesmo na Argentina, promovida pelo sistema com total cumplicidade de sua ala esquerda.
Quanto custaria o livre ingresso no Brasil? Muito menos que a riqueza potencialmente gerada a médio prazo pelo salto de qualificação intelectual que ele implicaria. E, conforme calcularam Marta Salomon e Luciana Constantino na Folha de São Paulo em 12.04.2004, o mesmo ou menos, também, que o Fies/Prouni. Fez-se no Brasil dos últimos anos algo similar (mas piorado aqui pela incubação de monopólios financeirizados que não havia lá) à opção preferencial pelo ensino privado levada a cabo no próprio Peru nos anos 80/90, quando motivações bélicas determinaram o desinvestimento nas universidades públicas – então um foco de contestação política, sobretudo armada – e o incentivo às particulares. O resultado disso, que o Peru colhe hoje e está na raiz da reabertura da questão, é um impasse no qual a Superintendência Nacional de Educação Superior Universitária (Sunedu) determina o fechamento de 1/3 das universidades do país (50 de 145) pela falta de requisitos mínimos de qualidade, mas a máfia do ensino privado lança mão de todos os recursos, no Congresso ou fora dele, para manter seu negócio.
Esse será o cenário no Brasil em 10 ou 20 anos, se tivermos a sorte de uma ação saneadora como a da agência peruana. E tudo porque em lugar de cumprir o programa histórico da esquerda latino-americana ou, no mínimo, retomar a bandeira que mobilizou o movimento estudantil brasileiro em seu ápice, nos anos 60 (fim da prelimitação de vagas e transformação do vestibular num exame de suficiência), nosso sedizente governo de esquerda ou centro-esquerda de 2003-16 oPTou por fomentar monopólios, endividar estudantes, precarizar ao máximo o trabalho docente, promover (com as exceções que confirmam a regra e absorvem parte pequena das matrículas) uma formação abaixo de medíocre e – por último, mas não menos importante – criar uma estrutura de corrupção via “doações” eleitorais de universidades privadas que poderia render uma investigação do porte da Lava-Jato se alguém se dispusesse a tanto. Isso no setor privado.
No estatal, subsiste, por efeito da mesma política, a estrutura de poucas e prelimitadas vagas discentes e docentes. Para edulcorar esse crime contra a juventude e o país, lançou-se mão, no Brasil, das cotas. Uma distribuição supostamente mais justa de vagas escassas ao preço de não se tocar na injustificável escassez. Algo como fazer reforma agrária em minifúndios deixando todas as grandes estâncias intactas. Ou restringir a redistribuição de terras à minúscula área plantada da fazenda quando a parte mantida improdutiva é muito maior.
Um curso qualquer de uma universidade federal que admitia 40 alunos por semestre – número não só aquém da demanda estudantil, mas desprovido também de qualquer relação com a necessidade de profissionais projetada pelo Estado, organizações sociais e/ou empresas – continua admitindo os mesmos 40, agora com o asterisco de que 20 devem provir de escolas públicas (o que, na maioria dos cursos, nem representou novidade) e 8 ou 10 dentre esses 20 devem ser “pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência”.
A secular sonegação do acesso à educação pública (primária, secundária e superior) pelo Estado brasileiro é um problema geral (atinge toda a população) com dimensões particulares (afeta de forma desproporcional os não-brancos e, claro, os deficientes de todas as cores). Mas a existência dessa secundária dimensão do problema não significa que a solução deva ser também segmentada. Ao contrário: ela passa pela afirmação de um direito universal, essa coisa velha e dispendiosa odiada pela direita dura tanto quanto pelo pós-modernismo de viés liberal ou socialdemocrata.
Também aqui, há lições a colher do que ocorre hoje no Peru, onde a grande maioria desfavorecida da população é composta pela soma de indígenas e seus descendentes auto e heteropercebidos como tal (“cholos”) e há uma significativa minoria negra, mas a juventude, para desgosto do establishment acadêmico e das agências estadunidenses, não parece disposta a trocar esse e outros direitos universais por migalha alguma, ainda que vinculada a um critério que simbolicamente a favoreceria e materialmente continuaria a prejudica-la (porque no Brasil, a imensa maioria dos “pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência” – como a dos brancos ou de qualquer segmento – continua barrada da universidade pela prelimitação de vagas, ainda que supostamente “representada” pelos pouquíssimos que entram).
E não é acidental que – assim como o peronismo em 1953, quando o instituiu na Argentina – o partido que prega hoje, no Peru, o livre ingresso no ensino superior não tenha muita proximidade com a categoria dos docentes universitários (embora sim com os do ensino básico) e mantenha uma relação de atrito com os membros dela que lá exerceram maior influência e poder políticos nos últimos 20 anos. Em toda a América Latina, a distorção ideológica pós-modernista importada sobretudo dos EUA (mas também da Europa), com suas concepções atomizadas, se conjuga a interesses materiais e conveniências de modo a tornar o corpus docente refratário à abertura social sob a forma do direito universal em questão.
É compreensível que, para alguém confinado desde sempre na caverna platônica da universidade brasileira ou estadunidense de acesso restrito, o ingresso livre soe como uma quimera e as cotas pareçam, por isso, a solução que conjuga viabilidade e justiça. Mas é intelectual e moralmente estarrecedor que gente formada na Argentina as promova no Brasil (refiro-me, particularmente, à sra. Rita Segato, uma de suas principais impulsoras aqui a partir da UnB) ou onde quer que seja.
A par disso, a primeira e consciente estratégia de todas as corporações do setor público estatutário brasileiro é manter parco o número de seus próprios membros. Isso possibilita o controle férreo da seleção dos ingressantes pelos que lá já estão, numa lógica de guilda; e facilita ganhos materiais diminuindo o impacto no orçamento e a resistência dos governos. Há anos, um amigo ouviu de juízes queixosos da sobrecarga de trabalho que eles preferiam tal situação à abertura de vagas, pois não queriam que acontecesse com sua categoria o mesmo que com professores (da educação básica) e policiais – paradigmas da miséria salarial no Rio Grande do Sul, onde se deu a anedota.
Por fim, os docentes das universidades estatais de ponta (as federais e as paulistas, como mínimo) cultivam a ilusão egoísta de se manter imunes à degradação do ensino básico mediante o singelo recurso de fechar a porta. Abri-la, ou melhor, arromba-la, poderia até fazer cair, no imediato, o nível do corpo discente das universidades brasileiras (não sei se também das peruanas). Mas as obrigaria a se envolver com os problemas da educação básica, favorecendo, ao menos no campo da probabilidade, a recuperação desta – ademais de por à prova o que se ensina nos cursos de pedagogia e licenciaturas.
Mas, para tudo isso – para uma reforma social tão moderada, que um vizinho terceiro-mundista nosso realizou 68 anos atrás – , se faz necessária a opção política antissistema que recém surge no Peru e que o Brasil não tem, e nem parece caber na estreita institucionalidade brasileira de hoje.