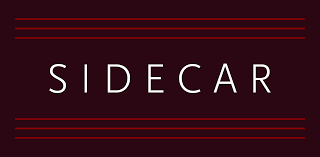“Agência” pode ser a palavra da década até agora. Quando aplicado no contexto da guerra na Ucrânia, o termo é geralmente usado como uma forma de seguirmos o exemplo dos próprios ucranianos – mantendo silêncio sobre as conversações de paz, enviando mais armas e apoiando os objetivos extremistas do governo de Kiev. John Feffer, diretor da Foreign Policy in Focus, descreveu os que apelam à diplomacia como “cegos e arrogantes”, instando-os a “ouvir os nossos irmãos e irmãs progressistas na Ucrânia” em vez de “um conjunto de princípios abstratos”. Escrevendo na Foreign Policy, Alexey Kovalev condenou a “visão distorcida do mundo” dos ativistas pacifistas, para quem “os ucranianos não têm poder de decisão e a Rússia é vítima de uma guerra por procuração”. Para estes comentaristas, não há necessidade de desemaranhar o complexo contexto histórico ou de ponderar os contraditórios interesses ucranianos em disputa; podemos simplesmente desligar os nossos cérebros e confiar todas as decisões aos que estão sendo atacados. Este discurso é predominante em todo o espectro ideológico, incluindo na esquerda. Na melhor das hipóteses, tem funcionado como uma trapaça intelectual para escamotear as complexidades do conflito; na pior das hipóteses, tem impedido o debate e silenciado a dissidência. Quais são os seus pressupostos subjacentes? E será que a sua imagem da Ucrânia corresponde à realidade?
Os comentaristas pró-guerra tendem a ver a “opinião ucraniana” como uma entidade monolítica, personificada por aqueles que se opõem às negociações com Moscou e defendem o combate até que as fronteiras do país sejam restauradas de acordo com as linhas anteriores a 2014. Esta concepção é particularmente proeminente nos EUA e no Reino Unido, onde as culturas políticas marciais alimentaram as imagens públicas de um povo ucraniano unificado que “nunca se renderá“, independentemente do preço a se pagar. Após uma recente visita a hospitais militares em Lviv e Kiev, Boris Johnson escreveu que os ucranianos feridos “não querem hinos para a juventude perdida ou lamentações sobre a lástima da guerra. Querem continuar matando russos e expulsando o invasor da sua terra”. Qualquer ocidental que os contraponha é acusado de ser condescendente ou indiferente.
É verdade que a maioria das pesquisas mostra um público ucraniano que apoia esmagadoramente a continuação do esforço de guerra – o que não é surpreendente numa nação que sofreu uma agressão injustificável do seu vizinho. Mas essas pesquisas excluem frequentemente as pessoas que vivem nas zonas ocupadas pelos russos ou controladas pelos separatistas, bem como os milhões de pessoas que fugiram do país, muitas delas do sul e do leste da Ucrânia. Estudos mais abrangentes sugerem que os ucranianos estão, de fato, divididos quanto à questão do cessar-fogo, quando estes dados demográficos são tidos em conta. O apoio a um cessar-fogo é significativo entre a população refugiada, chegando a atingir cerca de 40% nas regiões mais afetadas pela guerra.
Na Crimeia, o separatismo – entendido como o desejo de se juntar à Rússia, ou que se forme um Estado independente – havia caído em desuso desde o colapso da União Soviética. Pode não ter tido uma maioria em 2014, quando Putin utilizou um referendo duvidoso para justificar a tomada do território. No entanto, uma série de pesquisas desde então mostra que a maioria dos crimeios estão satisfeitos em fazer parte da Rússia. Este fato está provavelmente relacionado com a retaliação ucraniana contra a região após 2014, que incluiu o corte do abastecimento de água e a criação de uma escassez crônica para os seus residentes. Embora a anexação de 2014 tenha sido um ato de agressão puro e simples, seria difícil argumentar que uma reincorporação militar da região pela Ucrânia também seria legítima. Seria certamente contrária à vontade do povo, ou à sua “agência”. (De acordo com o governo de Zelensky, pelo menos 200 mil crimeios enfrentariam acusações de cooperação com o inimigo caso o território fosse recapturado por Kiev).
A situação é mais complicada no Donbass – mas mesmo lá, “ouvir” os ucranianos implica em algumas dificuldades. Quando entrevistei duas comunistas em Donetsk no outono passado, Svetlana e Katia, ambas me disseram que os ataques ucranianos, que as suas comunidades têm sofrido desde a eclosão da guerra civil em 2014, tinham piorado significativamente desde o início da invasão russa. “Isto deve-se principalmente ao fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia”, disse Katia. “Já não há lugares seguros em Donetsk”. Svetlana recordou um incidente em que um bombardeio matou uma jovem e a sua avó no centro da cidade, e desabafou suas frustrações em relação à infraestrutura da cidade, constantemente devastada. Quando falei com ela, as forças ucranianas tinham acabado de bombardear a estrutura de abastecimento de água local. “Sempre que os nossos trabalhadores arrumam alguma coisa, no dia seguinte é totalmente destruída”.
Embora nenhuma das duas tivesse qualquer amor pela Rússia ou pela invasão de Putin, explicaram como acontecimentos como estes – em conjunto com aquilo que Katia descreveu como uma “Donbassofobia” de longa data e cada vez mais acentuada na parte ocidental do país – as tinham deixado fora de sincronia com o sentimento nacional geral. Ambas eram favoráveis a conversas de paz e ao fim dos combates, mesmo que estivessem pessimistas quanto à sua concretização. Há boas razões para pensar que as opiniões de Svetlana e Katia não são únicas. No Donbass, a opinião pública sobre o resultado político mais desejável – quer seja a autonomia dentro da Ucrânia, a absorção pela Rússia ou a independência total – é fluida. Em 2021, uma maioria parecia favorecer algum tipo de separação da Ucrânia; e as últimas grandes pesquisas, realizadas em janeiro de 2022, revelaram que pouco mais de 50% dos entrevistados tanto nas áreas controladas por Kiev e quanto nas separatistas concordaram com a afirmação “Não importa em que país eu viva: tudo o que eu quero é um bom salário e uma boa pensão”. Este sentimento pode muito bem ter evoluído ao longo dos meses subsequentes de guerra sangrenta.
Há também os muitos ucranianos que não querem combater. Após a invasão, o governo ucraniano imediatamente proibiu os homens com idade entre 18 e 60 anos de saírem do país. Muitos dos que tentaram fugir foram detidos pelas autoridades, separados das suas famílias e enviados de volta para serem recrutados. Desde então, muitos ucranianos têm desafiado a lei, recorrendo a esquemas engenhosos – muitas vezes caros, outras vezes envolvendo risco de vida – para atravessar a fronteira. Milhares enfrentam processos penais por esse motivo e centenas já foram condenados. Um funcionário ucraniano revelou em junho que a Guarda Fronteiriça detinha até vinte homens que tentavam fazer a travessia ilegal por dia, enquanto a BBC descobriu recentemente que 20 mil homens fugiram para evitar o recrutamento desde a invasão.
Os que ainda se encontram na Ucrânia têm feito grandes esforços para não serem recrutados, mantendo-se afastados das ruas, recorrendo ao suborno e consultando canais de Telegram criados para ajudar as pessoas a evitar os recrutadores militares, alguns dos quais com mais de 100 mil membros. Os relatórios sugerem que os recrutas mais recentes são majoritariamente pobres, ao passo que os que têm dinheiro têm cada vez mais conseguido comprar a sua saída do país. Uma petição contra as estratégias agressivas de recrutamento recebeu mais de 25 mil assinaturas no ano passado, ultrapassando o número necessário para obter uma resposta oficial do presidente. Nada disto ilustra, nas palavras de Condoleezza Rice e Robert Gates, uma imagem de um “parceiro determinado” que está “disposto a suportar as consequências da guerra”, nem de um povo que “não teme uma guerra longa, mas sim uma guerra inconclusiva”, como observou um antigo oficial da CIA. Também não indica uma população que vê de maneira unânime as conversas de paz e as concessões como males maiores do que um derramamento de sangue prolongado.
Há, na verdade, um número considerável de ucranianos que acreditam que mesmo uma paz “ruim” é melhor do que uma “boa” guerra. Após a invasão, políticos proeminentes e figuras midiáticas apelaram a negociações e, em um caso, à rendição pura e simples. Deveríamos ter-lhes dado ouvidos simplesmente devido à sua nacionalidade? Ou, na verdade, à minoria da população que apoia ativamente a Rússia? Os ucranianos de esquerda que se opõem à diplomacia e a um cessar-fogo são por vezes citados na imprensa ocidental e apontados como um paradigma para os seus camaradas ocidentais; mas as suas opiniões não são unânimes. Volodymyr Chemerys, o respeitado defensor dos direitos humanos que desempenhou um papel de liderança em várias revoluções ucranianas e que se opôs firmemente à invasão realizada por Moscou, tem apelado a Zelensky para negociar desde o início da invasão. Quando o entrevistei no ano passado, ele queixou-se de que “vários pequenos grupos que se intitulam ou chamavam a si próprios de ‘esquerda’, na realidade, tornaram-se agentes a serviço das autoridades de Kiev, apoiando o imperialismo e a guerra, negando a existência do nazismo na Ucrânia, regozijando-se com as repressões contra os ativistas de esquerda e com a proibição dos partidos de esquerda”. Grupos marxistas, como a Frente dos Trabalhadores da Ucrânia, e ativistas proeminentes, como os irmãos Kononovich, assumiram posições semelhantes contra a guerra. Ouvir as vozes ucranianas, dada a sua diversidade, é mais complicado do que sugerem os comentaristas ocidentais pró-guerra. É inevitavelmente seletivo e exige um exercício de discernimento político para decidir entre pontos de vista contraditórios. Como poderia não ser?
Há também o fato óbvio de que a “agência” de uma população, ou aquilo a que normalmente chamamos de opinião pública, não é imutável. É influenciada por uma série de fatores e está sujeita a manipulações externas. As opiniões dos ucranianos sobre a guerra surgiram em meio a um clima de intenso patriotismo e de repressão governamental intensificada, com pacifistas e esquerdistas enfrentando processos, prisões e até tortura por causa de suas opiniões políticas. Os partidos da oposição foram banidos em massa e os meios de comunicação foram fechados ou colocados sob o controle do governo, tendo o parlamento ucraniano votado recentemente pelo reforço do sistema de censura estatal.
Como me disse o ativista pacifista Ruslan Kotsaba – agora nos EUA, depois de ter sido perseguido pelas suas opiniões anti-guerra – “todas as figuras da oposição que anteriormente promoviam a resolução pacífica do conflito com a Rússia fugiram ou estão na prisão”, num esforço que dava às conversas de paz um ar de “jogar a favor de Putin” ou de “trabalho de agentes inimigos”. Quando visitou a Ucrânia em março, Anatol Lieven descobriu que os ucranianos dispostos a ceder a Crimeia como parte de um acordo negociado não se atreviam a divulgarem seus pontos de vista oficialmente. O “consenso” belicoso no país reflete esta dinâmica. Com as posições não conformistas marginalizadas pelos meios de comunicação social e pela classe política, a opinião das massas é moldada pelos funcionários de Kiev.
Esta maleabilidade é talvez mais bem ilustrada pelas atitudes ucranianas em relação à OTAN – outra questão frequentemente citada pelos falcões ocidentais que defendem o “direito soberano” do país de aderir à aliança. Até 2014, apenas uma minoria da população manifestou o seu apoio à adesão (uma parte maior favoreceu uma aliança militar com a Rússia em vários momentos desde a dissolução da URSS). Historicamente, uma vasta maioria dos ucranianos tem visto a OTAN como uma ameaça. A tentativa de George W. Bush de atrair o país para o pacto militar foi recebida com protestos furiosos que viram bandeiras americanas incendiadas nas ruas de Kiev. Telegramas diplomáticos publicados pelo WikiLeaks revelaram que os funcionários ucranianos, incomodados com tamanha oposição, se juntaram aos seus homólogos americanos e da OTAN para sublinhar a necessidade de “campanhas de educação pública” para persuadir a população ucraniana. Isto foi uma violação tão clara da agência ucraniana quanto possível – no entanto, dificilmente encontraremos comentaristas do establishment, na época ou desde então, que tenham se oposto a isso com base nesses argumentos.
Ao longo de toda a guerra, a “agência” ucraniana só foi invocada pelos governos ocidentais quando estava de acordo com os seus interesses geopolíticos, e firmemente ignorada quando não estava. Os Estados da OTAN e os seus meios de comunicação dependentes têm estado, em várias ocasiões, mais do que dispostos a desafiar a liderança ucraniana. Durante meses após a invasão, Zelensky apelou, tanto em público como em privado, ao apoio ocidental nas negociações com Moscou, mas sem sucesso. Mesmo após a descoberta dos crimes de guerra cometidos em Bucha, insistiu que “não tínhamos outra alternativa” senão a diplomacia. Em maio de 2022, uma maioria de ucranianos entrevistados pelo National Democratic Institute – uma entidade quasi governamental ligada ao Partido Democrata dos EUA – era favorável a conversas de paz. No entanto, curiosamente, aqueles que insistiam que o Ocidente se submetesse aos desejos ucranianos não amplificaram os apelos de Zelensky. Não expressaram qualquer indignação perante esta negação da sua agência e ignoraram o fato bem corroborado de que os governos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha trabalharam para destruir uma tentativa de acordo de paz que ele estava negociando. Em vez disso, passaram meses argumentando contra uma solução negociada e a favor de uma vitória militar total. Mostraram-se dispostos a ignorar o presidente e o povo ucraniano na busca deste objetivo, independentemente dos riscos envolvidos.
Durante quase dois anos, a agência ucraniana só tem contado quando isso significa prolongar a guerra – não quando pode significar acabar com ela. Também não se aplica aos interesses das multinacionais ocidentais sobre os recursos naturais da Ucrânia, nem aos planos da União Europeia de utilizar a dívida nacional e os custos de reconstrução do país – que aumentam a cada semana de guerra – para impor sobre ele uma terapia de choque neoliberal. Poucos invocaram a soberania e o poder nacional quando os EUA e a Europa pressionaram os líderes ucranianos a aplicarem uma austeridade brutal ao seu próprio povo e a abrirem as suas terras agrícolas à propriedade estrangeira. Hoje, os relatórios sugerem que Washington pode finalmente estar em vias de empurrar Kiev para conversas de paz, mas agora contra a vontade de Zelensky, cuja veemente oposição ao compromisso já não se coaduna com a visão evolutiva de Washington da guerra como uma causa perdida que está desviando recursos de um futuro confronto com a China. Em todos os casos, os comentaristas ocidentais não tiveram qualquer escrúpulo em passar por cima da sagrada autonomia da Ucrânia. Parece que certas formas de interferência externa – nomeadamente, as que provêm do hegemon mundial e das suas antenas – são consideradas inteiramente legítimas.
Em um país há muito tempo cindido como a Ucrânia, cujas linhas de divisão se aprofundaram após anos de guerra civil, a opinião pública é complexa e diferenciada. Que os entusiastas da guerra ocidentais se recusem a reconhecer este fato e não demonstrem qualquer interesse pelas opiniões de ucranianos como Svetlana e Katia não é especialmente surpreendente. À semelhança de outros conceitos que migraram da política identitária liberal para a arena internacional, como o “Westsplaining” [“explicação ocidental”, em tradução livre; derivado de “mansplaining” (explicação masculina): a tendência de homens explicarem a mulheres temas que elas dominam] e a epistemologia do ponto de vista, a invocação seletiva da “agência” nunca pretendeu refletir as nuances do pensamento ucraniano. Na maior parte das vezes, estes chavões são utilizados para as enfraquecer. O resultado é um discurso político sufocado e uma visão rigidamente conformista da guerra, por parte de analistas de direita e de esquerda.
O que está em causa é mais do que a Ucrânia, por maior que esta seja. Antes mesmo de esta guerra terminar, está em formação outro conflito de grandes potências entre os EUA e a China. Mais uma vez, a “agência” e as “vozes” dos que são pegos no meio – desta vez na ilha de Taiwan – estão sendo usados para convencer os ocidentais bem-intencionados a apoiar a política externa agressiva de Washington, embora sejam essas mesmas pessoas as que mais sofrerão com a sua imprudência.
Neste ponto, deveríamos parar para pensar se a “opinião pública” – mutável, instável, sujeita a pressões ideológicas e circunstanciais – pode ser um ponto de referência credível para a esquerda. Também deveríamos questionar a sensatez de fundamentar as nossas posições políticas em certas identidades ou experiências consideradas como detentoras de uma autoridade epistêmica particular. Em questões de guerra e paz, o nosso julgamento político deve ser informado pelo “público”; mas, tal como na esfera doméstica, isto só pode ser feito reconhecendo a sua heterogeneidade e questionando os fatores complexos que dão origem à “opinião da maioria”. Pedir-nos que sigamos esta última acriticamente pode ser simplesmente uma questão de conveniência política para Washington e seus subsidiários, mas vindo de pessoas de esquerda, é uma exigência de covardia intelectual.
(*) Branko Marcetic é colaborador da Jacobin e autor de “Yesterday’s Man: the Case Against Joe Biden”.
(*) Tradução de Raul Chiliani