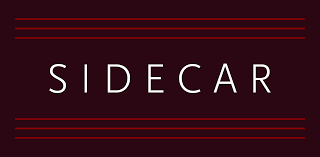Não foi por pouco. A reeleição de Donald Trump pode não entrar para os livros de história como uma vitória esmagadora: medida pela parcela do voto popular ou do colégio eleitoral, suas margens estão dentro da média histórica. Mas, mesmo assim, sua vitória é decisiva. Em 2020, foram sete estados-pêndulos nos quais a margem foi inferior a três pontos. Seis deles foram para Biden. Nesta eleição, Trump venceu em todos os sete. Em quase todos os milhares de condados do país, ele melhorou seus números em relação aos de 2020.
O resultado se ajusta de forma estranha à retórica do Partido Democrata, na qual todo tipo de concessão foi justificada como parte de uma ampla frente contra o fascismo. Até mesmo na concepção, a base de classe dessa estratégia era mais um union sacrée (união sagrada) do que um Front Populaire (frente popular). No que tange ao histórico norte-americano, a campanha de Harris parecia aspirar a algo como o projeto de 1972 de Nixon por uma “nova maioria”. Sem dúvida, os democratas de hoje não têm a arrogância e a agilidade de “Tricky Dick”. Mas, como ele, eles imaginaram construir uma coalizão que abrangesse a AFL-CIO (Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais), a associação de lobbystas Business Roundtable e o movimento neoconservador (nascido em 1972, decadente em 2024). Assim como Nixon, Biden procurou reforçar o apoio interno aos custos da hegemonia internacional dos EUA administrando doses homeopáticas de nacionalismo econômico. Ambas os governos equilibraram reduções nos compromissos militares dos EUA (Vietnã na época, Afeganistão agora) com apoio redobrado a autoridades regionais brutais (o Xá na época, Mohammad bin Salman agora).
A busca por uma ampla maioria centrista exige um antagonista capaz de ser enquadrado totalmente fora da corrente mainstream nacional. George McGovern – apesar de ser filho de um pastor da Dakota do Sul e, ainda por cima, um herói de guerra – forneceu a base necessária para esse apelo. Um dos motivos foi o fato de sua plataforma de fato exigir uma reordenação radical da sociedade americana: corte de um terço dos gastos militares, redistribuição por meio de uma tributação acentuada de heranças e ganhos de capital. Durante o verão de 1972, segundo a Business Week , “até mesmo aqueles que se diziam democratas de longa data falavam em ‘abrir contas bancárias na Suíça’ e apoiar o presidente Nixon em novembro”. As críticas de caráter nacional também não eram atraentes para muitas pessoas que não tinham depósitos no exterior, principalmente se trabalhassem nas fábricas de armamentos que McGovern ameaçava fechar.
Donald Trump não é George McGovern. A tentativa de retratá-lo como um estranho ao mundo político fracassou, porque não há nada minimamente antiamericano nele. Seu DNA político o liga diretamente a Nixon, por meio de echt-americanos como Roy Cohn e Pat Buchanan. As coisas sobre ele que supostamente são um fator de ruptura – racismo, xenofobia, misoginia – só podem ser vistas como fora da corrente mainstream americana por alguém com o aparato mental de uma criança ingênua. O slogan “Make America Great Again” foi extraído de Ronald Reagan, um herói americano que zombou dos pobres por passarem fome, comparou os diplomatas africanos a macacos e (seguindo o conselho de Pat Buchanan) proclamou que a Waffen SS era “vítima, tanto quanto as vítimas dos campos de concentração”. A ideia de que Trump poderia ser relegado às margens, fazendo com que os representassem de Reagan apoiassem Harris, nunca fez sentido para quem já não se opunha a Trump.
Os democratas estavam preparados para uma eleição acirrada, ou mesmo para uma derrota no colégio eleitoral que poderia ser contrastada por um amplo voto popular anti-Trump. Mas a abordagem da “coalizão de todas as forças democráticas” os deixou singularmente despreparados para uma derrota popular. Entre o núcleo mais rígido dos ideólogos do partido, a resposta foi uma mudança abrupta do chauvinismo para o antiamericanismo. Como disse Rebecca Solnit: “Nosso erro foi pensar que vivíamos em um país melhor do que o nosso”. O New York Times descreveu a eleição como “uma conquista da nação não pela força, mas com uma autorização”.
Se a vitória democrática de Trump embaralhou a noção da resistência, a composição de classe de sua maioria eleitoral perturbou as narrativas autocongratulatórias em torno do “Bidenomics”. Durante o verão, enquanto a senilidade de Biden passava de segredo aberto para notícia de primeira página, um dos principais arquitetos da política do governo usou a economia como um salva-vidas. Sobre a economia dos EUA, ela tuitou:
“atualmente está quase perfeita. Enquanto atravessamos o momento político mais difícil para os democratas em minha vida, apenas um alerta para não esquecermos que este governo apresentou uma nova forma de economia. Ela está fazendo maravilhas e, aconteça o que acontecer, não deve mudar.”
Naquele momento, “aconteça o que acontecer” se referia a se Biden seria substituído ou não por Harris. As palavras agora têm um significado mais profundo, já que dois terços dos eleitores disseram aos pesquisadores de boca-de-urna que a economia “não estava boa” ou “estava ruim”, e os eleitores que priorizaram a economia votaram esmagadoramente em Trump. Após a eleição, Bernie Sanders observou que “não deveria ser surpresa que um Partido Democrata que abandonou as pessoas da classe trabalhadora descobrisse que a classe trabalhadora os abandonou”. Outros negaram que os democratas tivessem abandonado a classe trabalhadora, mas concordaram que a classe trabalhadora havia abandonado o partido, seja porque desejava positivamente o fascismo ou, de forma mais caridosa, porque havia sido submetida a informações errôneas sobre o estado da economia.
Não acho que seja possível dizer com confiança que Harris perdeu por causa da economia, muito menos que ela ou outro democrata poderia ter vencido com uma retórica econômica diferente. Mas não é legítimo afirmar que os trabalhadores que rejeitaram Harris estavam ignorando a realidade econômica objetiva. Como o próprio Conselho de Assessores Econômicos de Biden observou no mês passado, “a participação dos trabalhadores na renda nacional foi atingida durante a pandemia de inflação”, o que fez com que a participação do trabalho – “um importante indicador de como o bolo econômico é dividido” – fosse menor em 2024 do que no governo Trump. Talvez a coisa mais segura a se dizer é que a classe trabalhadora, como classe, não fez nada. A votação é uma evidência de desalinhamento, não de realinhamento: os eleitores abaixo de US$ 100.000/ano se dividiram basicamente ao meio.
Qual foi a contrapartida da elite ao desalinhamento dos votos da classe trabalhadora? Harris venceu entre os eleitores com renda familiar acima de US$ 100.000, mas esse é um grupo bastante grande, equivalente a mais de um terço das famílias. Ela venceu com margens semelhantes entre os que ganham mais de US$ 200.000, um grupo mais seleto, equivalente a pouco mais de 10% de todos os domicílios. Esse grupo também é aproximadamente equivalente aos 10% das famílias americanas que possuem 93% do setor de ações, que foi o maior vencedor do boom de Biden. Esse mesmo decil superior, de acordo com um estudo de Thomas Ferguson e Servaas Storm, capturou 59% do aumento geral da riqueza das famílias criado desde 2019. Por sua vez, essa explosão de riqueza definiu o padrão para um boom de consumo altamente desigual, com os 10% mais ricos das famílias dos EUA respondendo por 36,6% do aumento geral do consumo entre 2020 e 2023. Se adicionarmos o próximo decil mais rico, os 20% das famílias mais ricas serão responsáveis por mais da metade do aumento.
A posição marxista característica tem sido a de que a classe é uma relação, não um percentil de renda, muito menos a posse de um diploma. Nesse contexto, é relevante o fato de Trump ter recebido o apoio de importantes setores do capital americano, cujas preocupações têm menos a ver com a quantidade de dinheiro que possuem (muito para contar, não importa qual partido governe) e mais a ver com poder e primazia. Durante o verão, o New York Times informou que “as empresas de construção não sindicalizadas estão furiosas com as regras que exigem acordos entre empreiteiras e sindicatos em grandes projetos federais”. O lobby das criptomoedas, trabalhando em nome de um “setor” cuja própria existência requer políticos amigáveis, gastou quase tanto em eleições federais em 2024 quanto todos os outros setores corporativos juntos. De modo mais geral, uma fração significativa do Vale do Silício decidiu que o “techlash” foi longe demais.
Essas forças estão mais publicamente associadas a Trump, mas estão bem representadas no Partido Democrata por figuras como David Shor, o pesquisador que disse certa vez que “foi inteligente da parte de Obama tentar se aproximar do setor de tecnologia… e os democratas cometeram um enorme erro ao voltar atrás”. De acordo com o NYT, a campanha de Harris deu à empresa de consultoria de Shor, a Blue Rose Research, “poder de definição de agenda” sobre um orçamento de US$ 700 milhões, grande parte dele arrecadado com a área de tecnologia. A maior parte do dinheiro das criptomoedas foi para os republicanos, mas o suficiente foi para os democratas para que Chuck Schumer proclamasse em um evento chamado “Crypto4Harris” (CriptoPorHarris) que “as criptomoedas vieram para ficar, não importa o que aconteça… todos nós acreditamos no futuro das criptomoedas”. Para a maior parte da sociedade, o desalinhamento de classes significa polarização. No entanto, nos níveis mais altos da economia, aqueles com dinheiro suficiente para proteger suas apostas se preparam para ter sucesso em qualquer eventualidade.
Dito isso, nenhuma das opções é, do ponto de vista do capital, ideal. Durante o verão, a Business Roundtable (composta por 200 executivos de grandes corporações) se reuniu com ambas as campanhas. Trump disse ao grupo que “gostaria de reduzir a alíquota de impostos corporativos”, além de aumentar ainda mais a produção de petróleo. O emissário de Biden, Jeff Zients, disse que a “ênfase dos democratas em alianças globais” e seu respeito pela independência do banco central “fomentaram o tipo de confiança em todo o mundo que permitiu que o capitalismo dos EUA prosperasse”. O próprio Antonio Gramsci não poderia ter escrito um exemplo melhor da escolha entre o interesse restrito do capital em maximizar seus lucros e seus interesses “hegemônicos” mais amplos. Paul Heideman, escrevendo em 2021, observou na mesma linha que a “peregrinação à direita do Partido Republicano também produziu algumas externalidades negativas para o capital, desde a incerteza desnecessária em torno da dívida nacional até a devoção ao governo da minoria que está ameaçando a legitimidade de um sistema político que tem funcionado notavelmente bem para as empresas ricas desde o século XIX”. O exemplo mais dramático desse último aspecto foi o incidente de 6 de janeiro, que uniu brevemente a comunidade empresarial organizada, com exceção das pequenas empresas, em um clima de horror.
Sob essa perspectiva, o fato de Trump ter conquistado a maioria popular simplifica a vida das empresas americanas. Quanto à independência do banco central, se a Business Roundtable não está especialmente preocupada com isso neste momento, pode ser porque eles se lembram de 2019. Durante todo aquele ano, Trump reclamou do presidente do Federal Reserve, tuitando em um momento: “Quem é nosso maior inimigo, Jay Powell ou o presidente Xi?”. Mas quando ele perguntou ao seu círculo íntimo se poderia demitir Powell legalmente, eles lhe disseram imediata e inequivocamente que não. De acordo com o correspondente do Fed do Wall Street Journal, até mesmo alguém como o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos Larry Kudlow – uma personalidade televisiva e “lealista insinuante” – sabia que demitir Powell, ou mesmo o boato disso, “aceleraria a queda dos mercados”. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin – leal o suficiente para permanecer em seu cargo durante todo o primeiro mandato de Trump – trocava mensagens de texto regularmente com o presidente do Fed e “deixou claro que apoiava Powell”. Quando Trump apareceu na Business Roundtable no verão de 2024, ele trouxe Kudlow – um lembrete para os executivos do freio de emergência que eles haviam puxado tão facilmente na última vez que o “populismo econômico” de Trump ameaçou escapar do reino da retórica.
Os capitalistas já foram enganados pela complacência antes, inclusive em relação a Trump, e é seguro presumir que seu estilo imprevisível e personalista criará novas tensões com setores importantes da comunidade empresarial. A reação eufórica de Wall Street à eleição sugere que “o mercado” não acredita que Trump esteja falando sério sobre deportações em massa e tarifas punitivas. Mas mesmo que ele não vá tão longe quanto promete, qualquer medida séria na direção do nacionalismo econômico terá efeitos diferenciados sobre os negócios, que podem se transformar em fraturas políticas. O mesmo pode ocorrer com relação ao déficit orçamentário, principalmente se a inflação voltar.
O maior risco é provavelmente a relação atlântica. A OTAN, como explicou um de seus fundadores, não se originou de um “cálculo estritamente militar”, mas refletiu uma preocupação mais ampla sobre “se nosso tipo de sociedade poderia continuar com a democracia destruída na Europa e nossas oportunidades de expansão econômica reduzidas”. Mesmo em 1949, não foi fácil para o governo Truman convencer a comunidade empresarial americana de que sua prosperidade dependia de garantias de segurança transcontinentais. É possível que, se o debate fosse reaberto, todos acabariam decidindo que o antigo credo internacionalista corporativo continua tão convincente como sempre. Mas, seja qual for a solução, a mera reabertura do debate em si pode tornar mais claras as fraturas dentro da classe capitalista.
Jamelle Bouie, colunista do NYT, proclamou que “a maioria de nós provavelmente morrerá vivendo na ordem política que emergirá desta eleição”. Sem sermos reféns da sorte, podemos dizer que essa afirmação é errônea. A ideia de uma ordem política, mencionada por Bouie, foi introduzida no estudo da política americana por Arthur Schlesinger, Jr., cujo primeiro volume sobre a era do New Deal foi intitulado The Crisis of the Old Order (A crise da velha ordem). Para o segundo volume, The Coming of the New Deal (A chegada do New Deal), Schlesinger escolheu uma epígrafe de Maquiavel: “Não há nada mais difícil de realizar, nem mais duvidoso de sucesso, nem mais perigoso de manejar, do que fundar uma nova ordem de coisas”.
Tanto a Era de Roosevelt quanto a era antecessora se basearam em alinhamentos de classe duradouros. O Sistema de 1896 baseou-se na consolidação do capital corporativo em um movimento de fusão histórico mundial e foi garantido nas urnas – não uma, mas várias vezes – com o apoio de trabalhadores industriais que acreditavam ter interesse no desenvolvimento industrial protegido por tarifas. A ordem do New Deal representou a incorporação do trabalho organizado como um parceiro júnior por trás das empresas que se beneficiariam, ou pelo menos poderiam tolerar, a combinação sem precedentes de Roosevelt de livre comércio, bem-estar social e legalidade sindical. Mesmo a era fraturada do neoliberalismo foi precedida, na década de 1970, por uma mobilização sem precedentes na qual, como disse Thomas Edsall, “as empresas refinaram sua capacidade de agir como classe, submergindo os instintos competitivos em favor da ação conjunta e cooperativa na arena legislativa”.
A hegemonia é mais do que uma sensação, e o realinhamento crítico não é apenas um nome chique para uma noite eleitoral dramática. Pode ser que um dia seja possível interpretar 2024 como um estágio na formação de uma nova ordem política. Mas isso dependerá do que acontecerá em seguida: o que Trump fará com sua vitória e como todos os outros reagirão às forças nacionais e internacionais desencadeadas por seu segundo governo.