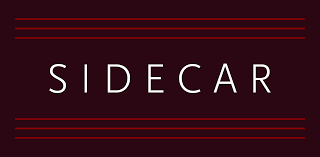Uma das muitas contradições no reino ideológico que permeia o Vale do Silício e de seus satélites é entre a fé na descentralização e a paixão pela “liderança” corporativa. Identificar as empresas pelos sobrenomes de seus principais executivos – Altman para a OpenAI, Ellison para a Oracle, Zuckerberg para a Meta – tornou-se uma linguagem comum no setor. Na imprensa especializada, prevalece a sensação de que esses nomes servem como sinônimos em vez de metonímias, como se o indivíduo que lidera a corporação também fosse o eixo sobre o qual gira seu sucesso ou fracasso. As aquisições mal sucedidas, as violações de segurança e os desafios de monetização do Yahoo ao longo da década de 2010 foram indelevelmente associados à sua CEO, Marissa Mayer. O retorno triunfante de uma Apple quase falida no final dos anos 90 foi atribuído ao lendário golpe de Steve Jobs na diretoria da empresa.
Os CEOs nem sempre ocuparam um lugar tão privilegiado na cultura corporativa global. Os líderes corporativos já foram tão anônimos para o público “quanto suas secretárias, motoristas e engraxates”, de acordo com o professor da Harvard Business School, Rakesh Khurana. Em seu estudo de 2002, “Searching for a Corporate Saviour: The Irrational Quest for Charismatic CEOs”, Khurana descreve a mudança da função prática e simbólica dessas figuras desde o final do século XIX. Os titãs originais da indústria – os Carnegies e os Rockefellers, Henry Ford, Charles Eastman e outros – ganharam notoriedade pública por sua construção de impérios, inovações técnicas e gerenciais, esforços filantrópicos e agitações anti-trabalhistas. Eles personificavam um tipo tipicamente burguês de autoridade carismática weberiana, em que o acúmulo de riqueza era visto como uma recompensa divinamente ordenada por sua excepcional ética de trabalho. No entanto, em meados do século XX, essa imagem foi transformada, à medida que o desenvolvimento de rotinas, procedimentos, leis e normas corporativas levava a uma forma reconhecidamente moderna de autoridade legal ou racional.
Nesse momento, o magnata foi reencarnado como um administrador capaz. Embora Khurana atribua esse fato à ascensão de tiranos como Hitler e Mussolini, que derrubaram o “mito do self-made man”, uma explicação mais abrangente poderia estabelecer uma conexão entre o CEO do meio do século e os princípios formais de gerenciamento do taylorismo. Os apelos à racionalidade e à eficiência impessoalizaram a subjugação do trabalho pelo capital. A exploração não podia mais ser personificada pelo barão corporativo, já que as condições do local de trabalho eram o resultado de um sistema de análise, cálculo e planejamento eticamente neutro, semelhante à lei. Embora o trabalho organizado continuasse a se revoltar contra o “chefe” da fábrica fordista, na década de 1950 a crescente escala das operações corporativas, bem como a substituição de empresários e seus herdeiros por acionistas e, depois, por conselhos de administração e gerentes, ajudaram a dar início a um período em que o CEO delegava grande parte das operações diárias visíveis da empresa.
Na década de 1980, as condições estavam prontas para outra transformação. O efeito de cinco anos do mercado em alta na Dow Jones, seguido pela alta muito mais longa da década seguinte, refletiu-se na fortuna dos fundos mútuos de investimento. Depois que o Congresso dos EUA aprovou a Lei da Receita de 1978 – que legalizou e popularizou o diferimento de impostos e definiu os planos de contribuição ou “401(k)s” –, o dinheiro foi investido nesses fundos de investimento grupais, o que significou que o capital de investidores não-profissionais ou “comuns” foi canalizado para uma grande variedade de ações corporativas. Isso trouxe duas implicações significativas: proporcionou uma ampla demanda por ações e incentivou um compromisso emocional generalizado com o desempenho geral do mercado de ações. As agências de notícias americanas ainda dedicam uma quantidade esmagadora de seu tempo com o preços das ações; Donald Trump muitas vezes parecia atrelar o sucesso de sua presidência ao desempenho do S&P 500 (índice de 500 ativos da bolsa de Nova York), e os fundos que se baseiam no desempenho desse índice ganharam popularidade nas últimas décadas entre a comunidade internacional de investidores.
Isso possibilitou a rápida expansão da imprensa financeira, com a fundação de veículos como CNBC, MSNBC e Bloomberg News durante as décadas de 1980 e 1990, além de muitas outras organizações especializadas em relatórios financeiros, bem como o cobiçado novo cargo de “analista do mercado de ações”. O jornalismo de investimentos reduziu seu foco ao desempenho de curto prazo de empresas individuais, para as quais o preço das ações era um barômetro claro e facilmente disponível. Naturalmente, como observa Khurana, essa cobertura sempre foi “tingida com o viés individualista da cultura americana”, concentrando-se em personalidades individuais em vez de estratégias complexas. A principal delas era o CEO, a personificação mais visível do destino de uma empresa.
Ao mesmo tempo, as funções do CEO começaram a se inclinar muito mais para aparições na mídia, cúpulas de acionistas, conferências do setor, reuniões com acionistas, briefings individuais e outras responsabilidades sob a égide das “relações com investidores”. O líder corporativo ideal era aquele que chamava a atenção e inspirava confiança em um campo muito maior de stakeholders (partes interessadas). Aqueles que conseguiam fazer isso eram remunerados com ganhos executivos altíssimos. Khurana mapeia a ascensão do “CEO externo”, descrevendo o processo pelo qual a busca por um novo executivo-chefe evoluiu de uma formalidade sem graça – meramente a próxima promoção para um funcionário sênior obediente que havia subido os degraus da escada corporativa – para um espetáculo midiático bombástico.
Esse período também viu o renascimento da mitologia do fundador-empreendedor – que, não por coincidência, ocorreu junto com o boom da tecnologia, bem como junto a um aumento significativo tanto na popularidade dos modelos de financiamento de capital de risco quanto no número de empresas que buscavam acesso a capital. Nesse ambiente, os magnatas da tecnologia precisavam proclamar ambições de mudança de paradigma para seu trabalho e buscavam formas criativas de “narrativizar” essas ambições. Isso se refletiu num gênero literário peculiar que surgiu nessa época e que permanece nas listas de best-sellers até hoje: a biografia ou autobiografia empresarial evangelizadora. Um dos elementos básicos desse gênero, como observa Khurana, é mostrar como o sujeito alcançou o sucesso apesar dos infortúnios da vida: gagueira para Jack Welch, da Chrysler, dislexia para John Chambers, da Cisco. As hagiografias mais recentes deram continuidade a essa tendência: o estudo de Walter Isaacson sobre Steve Jobs se concentra em sua adoção na infância e no seu diagnóstico de câncer no pâncreas, enquanto o retrato de Ashlee Vance sobre Elon Musk explica os efeitos do bullying na adolescência e do colapso conjugal nesse “Tony Stark da vida real”.
O culto ao “inovador” pode se sustentar na década de 2020? Consideremos a apresentação de Jobs no MacWorld 2007, uma cerimônia de pompa e circunstância durante a qual a Apple anuncia seus próximos produtos. Em sua apresentação, Jobs listou os três novos dispositivos a serem lançados naquele ano – “um iPod com controle por toque, um telefone e um dispositivo inovador de comunicação pela Internet” – antes de levantar o véu para revelar que essas eram, na verdade, as funções de um único dispositivo híbrido, o iPhone. Esse se tornou o modelo dominante para a inovação tecnológica: o que Jason E. Smith chama de “canivete suíço do século XXI”, no qual os recursos já existentes são misturados, assimilados, adaptados e incorporados em ferramentas multifuncionais e compostas. As engenhocas de consumo das últimas décadas são quimeras sofisticadas que podem recombinar e aprimorar superficialmente funções tecnológicas conhecidas. Isso, argumenta Smith, sinaliza a ausência sistêmica do tipo de inovação revolucionária que outrora transformou a vida cotidiana da população em geral – automóveis, ferrovias, eletrificação, telecomunicações, fotografia e cinematografia – e gerou grandes ganhos de produtividade para a grande economia capitalista.
Hoje, estamos testemunhando essa inovação-como-recombinação se reproduzir ao nível da empresa. A morte do departamento interno de pesquisa, outrora sinônimo de instituições como o Bell Labs ou do Projeto Manhattan, sinaliza uma estratégia organizacional que Nancy Ettlinger chama de “paradigma da abertura”, no qual as empresas reduzem ou eliminam a P&D (pesquisa e desenvolvimento) interna, optando por uma prática coordenada de inovação socializada caracterizada pelo fornecimento externo de pesquisa, tecnologia e habilidades. Assim como o iPhone, a empresa de tecnologia do século XXI torna-se uma ferramenta composta, uma coleção heterogênea de patentes e licenças proprietárias, vendedores e fornecedores contratados, divisões e equipes autônomas, projetos e estruturas de código aberto, integrações de terceiros e provedores de nuvem, aplicativos e plataformas nativas e competências educacionais transferíveis reunidas em um reservatório corporativo transnacional. Em meio a esse fluxo, o CEO deve projetar uma imagem de unidade e integridade. No entanto, quando o valor de mercado de uma empresa cai, o executivo-chefe se revela como apenas mais uma unidade modular do repositório.
(*) Tradução de Raul Chiliani