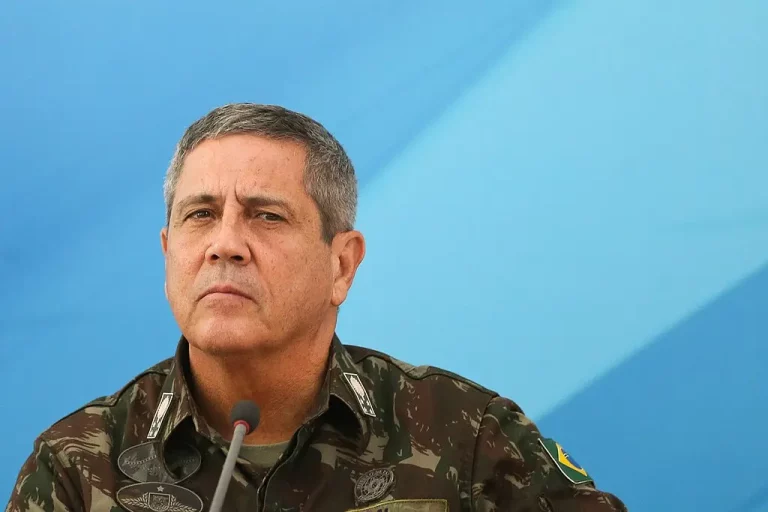O noticiário da última semana foi preenchido pelas imagens de agentes da Polícia Federal protestando contra a Reforma da Previdência e gritando “Bolsonaro traidor”. Temem pela redução de seus proventos de aposentadoria, regras mais rígidas para se aposentar e consideram uma injustiça não terem sido agraciados pelo mesmo tratamento dado às Forças Armadas e outras polícias.
Um texto assinado pela redação do Estadão (“Por que os PMs e bombeiros ficaram satisfeitos com reforma e os policias federais, não?“), nos fala sobre a proposta do governo rejeitada pelos agentes federais: “na transição, eles também teriam o direito ao último salário da carreira (integralidade) e reajustes iguais aos da ativa (paridade) desde que cumprissem um pedágio de 100% sobre o tempo que faltasse para trabalhar”. Esta descrição não está errada, mas é preciso enfatizar “na transição”, isto é, dentro dos casos em que o policial já está para se aposentar e que estão, de fato, dentre as bandeiras da categoria.
O problema é que o texto não toca em um dos pontos centrais do conflito sindical desses agentes federais com a reforma, falhando em responder a pergunta-título de forma satisfatória. Sim, o governo tentou atender ao pedido de manutenção da integralidade para aqueles em transição, mas as reivindicações da categoria federal vão mais longe e exigem a equiparação com o modelo de reforma das Forças Armadas, o que significaria a manutenção do direito a integralidade (a aposentadoria no valor integral do último salário da carreira). De outra forma – a forma que os policiais federais não querem – o limite é o teto do RGPS-INSS de R$ 5.839,45. O salário inicial de um agente da PF (incluindo o escrivão) é de R$ 11.983,26 e aumenta conforme se avança na carreira (os maiores salários são de 30 mil) – o perito criminal de terceira classe (nível inicial), começa a carreira com um salário de R$ 23.692,74. A diferença de tratamento em relação à PM é que as polícias militares primeiro conseguiram a equiparação como concessão e depois ficaram de fora da reforma (por enquanto, graças a destaque do deputado Pedro Paulo do DEM-RJ; a peculiaridade é que podem ser visados por eventuais reformas previdenciárias de nível estadual), o que significa a manutenção de suas regras atuais de aposentadoria e portanto do direito a integralidade.
A categoria federal apela aos mesmos argumentos utilizados pelas Forças Armadas e adotados pelos policiais militares, como disse o jornalista Rafael Guzzo no Tribuna online:
“Os policiais consideram que, pela equivalência da função, a aposentadoria deveria ser similar aos militares, por não possuírem direitos como hora extra, adicional noturno, FGTS e de terem compromisso junto à sociedade de até morrerem, se necessário, no cumprimento do dever.”
Em discussões sobre a origem de revoltas e revoluções, há quem considere que expectativas frustradas são mais perigosas e desestabilizadoras do que a pobreza sozinha, desesperada, sem expectativas – ao mesmo tempo, há um forte indicativo (como aponta Coronel Alessandro Visacro em seu livro sobre guerra irregular) de que uma forte percepção de desigualdade gera mais conflitos do que o mar de pobreza absoluta. A percepção de injustiça causa mais revoltas do que a miséria comum e cotidiana.
O policial que esperava se aposentar com proventos na ordem de 27 a 30 mil agora deve aceitar se aposentar com R$ 5.839,45 ao mesmo tempo em que os policiais militares e os oficiais das Forças Armadas recebem de acordo com a preservação da integralidade dos valores que recebiam no final de suas carreiras.
É catastrófico para Bolsonaro se enfrentar com a fúria dessa categoria no momento atual.
Primeiro por ser uma traição política, já que a ala policial do PSL e o bolsonarismo traziam em si a consideração pelas reivindicações dos agentes federais que estão sendo colocadas desde 2017 (quando começa a discussão da reforma), incluindo aí a garantia de que não só os policiais anteriores ao RPC teriam o direito à integralidade. Bolsonaro tentou iludir os policiais com uma jogada política suja, jogando a bola para o Congresso e dessa maneira se livrando da culpa enquanto faz declarações vagas de solidariedade aos policiais – Rodrigo Maia, o “velho político” (mais jovem que Bolsonaro…) foi mais esperto e está encampando as reivindicações dos policiais.
Segundo, e mais importante, Bolsonaro está enfrentando uma perturbação em um aparelho do Estado com importância particular devido à sua natureza de órgão repressivo com maior dimensão política, no mesmo momento em que o ministro-chefe desta instituição (Sérgio Moro) atravessa uma crise.
Ministério do Interior
Nos primeiros meses de 2017, escrevi sobre o atual Ministro do STF, então Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. No contexto da implantação do ambicioso Plano Nacional de Segurança, o ministro se tornava uma espécie de “Czar da Segurança” e o Ministério da Justiça se parecia mais efetivamente com um Ministério do Interior.
O plano contemplava uma integração das polícias estaduais sob a égide do Ministério, focando na criação de um sistema de inteligência com núcleos, incluindo as inteligências de todas as polícias, estaduais e federais, e uma base comum para o compartilhamento de dados de inteligência. Além disso, a criação de um Departamento Nacional de Polícia Judiciária e Perícias na Secretaria Nacional de Segurança Pública, “para colaboração sistêmica no âmbito de inteligência policial, integração de dados e informações”, citando especialmente os homicídios cometidos por milícias; a criação de uma nova Diretoria de Inteligência na SENASP “para a integração, consolidação e fortalecimento dos sistemas de inteligência das unidades federativas para produção qualificada de conhecimento e apoio ao trabalho desenvolvido e ao processo de tomada de decisões”.
O plano também tinha um objetivo paramilitar de ampliar o efetivo da força nacional.
Em paralelo, a recriação do Gabinete de Segurança Institucional em um plano de “reestruturação de toda a inteligência”, sob a égide do General Sérgio Etchegoyen. A ABIN foi vinculada ao gabinete e isto foi tratado como um “renascimento” para a agência (cuja relação tensa com o governo atingia seu ápice em um conflito público com Dilma Roussef, vide discussões sobre “derretimento” da agência – Dilma havia colocado um general “poste” no GSI, depois dissolveu o GSI e colocou a Abin sob a secretaria de governo, caindo num primeiro momento sob a responsabilidade do ex-sindicalista dos bancários e quadro petista, Ricardo Berzoini; em seguida veio Geddel e nenhum processo sério de reestruturação do serviço de inteligência herdeiro do SNI).
O novo GSI também veio com o objetivo de integrar as inteligências, mas incluindo os serviços militares (incluso aí o esquecido serviço de inteligência da Aeronáutica, as asas do Brasil…) e com uma concepção mais voltada para a segurança de Estado. Através dele Sérgio Etchegoyen, o decano intelectual da direita militar, avançou dentro do Estado uma concepção renovada da Doutrina de Segurança Nacional, baseada em uma ideologia de caos iminente, subversão para todos os lados, ameaça terrorista e “guerra de quarta geração” (esta ideologia é descrita em nosso livro Carta no Coturno, sobre a volta do Partido Fardado). Para isso, fundamental foi o decreto nº 8.793 (29 de junho de 2016 – acabou de fazer aniversário), que estabelece a Política Nacional de Inteligência – PNI nesses termos.
Nesta visão, o MST pode ser considerado uma “ameaça de quarta geração”.
O General Etchegoyen, estadista que esposa crenças muito próprias sobre a política brasileira, se tornou um pilar de sustentação do governo Temer, “o fiador” (agora os militares são isso, “fiadores” do poder), segundo alguns aquele que fez o presidente resistir quando todos acharam que ele iria renunciar, o Richelieu da Ponte para o Futuro.
Ainda tivemos uma jogada espalhafatosa com a prisão de 21 pessoas que se reuniam no Centro Cultural São Paulo, graças à atuação de “Balta Nunes” ou Capitão do Exército William Botelho, que no seu ridículo papel de araponga ostentava uma barba baixa e um grisalho cabelo desgrenhado, cumprindo sua missão através de perfis no Tinder e no Facebook, defendendo o Brasil da ameaça de adolescentes que são noviços na política ao ponto de aguentar a lábia pseudo-hippie de um tio de meia-idade.
O araponga, depois de exposto, além de ter sido absolvido de seus processos foi promovido a Major, pelo o que era então Comandante das Forças Armadas, o General Villas Boas, herói dos nossos maravilhosos democratas brasileiros.
A ABIN nunca parou de espionar e monitorar movimentos populares e de esquerda, organizações políticas (e não é exclusividade dela). Mesmo na época da Dilma, mesmo quando o Estadão e a direita assinavam contra “o desmonte da inteligência”, seguiam monitorando movimentos indígenas e pela terra.
Etchegoyen aparecia sempre ao lado de Michel Temer e fazia declarações importantes. Agora Bolsonaro aparece com General Heleno, que tem até aparecido mais do que o presidente e se dirigido à mídia para tratar de questões importantes (e fazer ameaças do tipo: “se a Previdência não passar, vamos ficar nas condições que antecederam a Revolução de 64”).
Em fevereiro, Heleno foi a público dizer que tinha informações coletadas por escritórios da ABIN e comandos militares no norte do Brasil sobre a participação de bispos em encontros com o Papa Francisco e no Sínodo da Amazônia que ocorrerá em outubro para tratar de questões como desmatamento, a situação de povos indígenas e a questão dos quilombolas. O GSI tratou em público a Igreja como um espaço de oposição ou até espaço de atividades inimigas, “estamos preocupados e queremos neutralizar isso aí”.
“Neutralizar”, é assim que o chefe do GSI enxerga um encontro que será feito às claras sobre um debate público. Eles vão se articular politicamente, responder? Não, eles vão “neutralizar” – vão plantar mais provocadores dentro da Igreja? Espero que não voltem a torturar clérigos. Segundo o general, acham que é uma “agenda de esquerda” e “interferência em assunto interno no Brasil” (enquanto isso os “amigos” do norte podem deitar e rolar aqui dentro, santa hipocrisia a deste governo).
Para algumas pessoas é até possível reconhecer a participação militar no primeiro escândalo do governo Lula (o de Waldomiro Diniz), com a participação de um informante da ABIN e um agente da inteligência da Aeronáutica, mas parece inconcebível aceitar que a situação piorou 16 anos depois. É como se esses serviços de inteligência crescendo e aparecendo não fizessem parte da dinâmica política.
A PF é uma força armada sofisticada, bem munida não só das armas de fogo mas de armas de inteligência. Seu alcance político é ampliado por seu potencial de realizar operações espetaculares. Em terra de Lava-Jato, jogo sujo, espionagem, espetáculo midiático, a Polícia Federal é uma das instituições centrais do conflito de poder.
Acima de tudo, existe um capital humano dentro da PF que podemos dizer que possui mais experiência política do que o presidente Jair Bolsonaro, pessoas que passaram décadas fazendo política no centro de um palco selvagem de acertos e provocações, enquanto Bolsonaro era um deputado do baixo clero dormindo nas sessões, fazendo alguns discursos exaltados, indo em programas de fofoca e cuidando da vida dos assessores. Estes não são só policiais, técnicos, burocratas, chefes altamente qualificados, mas políticos bem experimentados.
O que falta à PF de um ponto de vista militar é o controle territorial das Forças Armadas e um efetivo equiparável. O efetivo da Polícia Federal é de 13.655 agentes. O exército possui só de oficiais que não são generais 25.986 militares (todo mundo com a Previdência que os policiais federais gostariam de ter, diga-se de passagem) – de sub-oficiais e sargentos, são 59.656, mais 210.510 cabos e soldados na praça (como limite de efetivo). Ainda poderíamos considerar as polícias estaduais nestes cálculos, elas que são “força auxiliar e reserva” do exército, sendo o efetivo da PM de São Paulo no número 92.980 pessoas, 45 mil militares no efetivo da PM do Rio de Janeiro e pouco mais de 30 mil na PM da Bahia, 18 mil militares no efetivo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, para termos alguma referência.
No entanto, no contexto atual, não é aí que a PF entra na medição de forças. Vivemos em um momento de rupturas e de disputa pela decisão da exceção – o conflito se converte em “jogo sujo”, fora da normalidade e com limites institucionais borrados.
A inteligência militar possui uma tradição ideológica mais sólida na Doutrina de Segurança Nacional. A Polícia Federal, por mais que tenha uma história que remete ao Estado Novo e que passa pelo regime militar (onde estava mais subordinada aos militares, até mais do que as policias civis estaduais, que mesmo mais estabelecidas foram subjugadas e tiveram suas estruturas devassadas pela penetração do regime), só se tornou a corporação que é hoje no “regime democrático”, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
Na PF o exemplo de Leandro Daiello Coimbra, que ficou seis anos no cargo de Diretor Geral, mostra que nenhum dirigente nomeado está livre das polêmicas políticas ou mesmo da oposição de seus subordinados. Os militares são mais imunes a escaramuças políticas.
Quando Bolsonaro comete semelhante deslize com os agentes federais, ele mostra que fez uma escolha política a respeito do Estado brasileiro e sua concepção de repressão, ou que ele não está neste momento em condições de fazer escolha alguma – que enquanto os oficiais militares podem receber tudo e imiscuir cada vez mais na segurança pública, a PF pode ficar de caótico campo de batalha entre os poderosos e os agentes que se virem para se salvar da Reforma da Previdência.
Perante a ascensão dos militares, a ala “olavista” do bolsonarismo que assiste seu reino desmanchar sofre um duro golpe com a desordem no Ministério do Interior, perde mais uma camada de apoio social que eles julgam necessário em sua estratégia “revolucionária” e sabem que isso em última instância enfraquece o presidente.
Enquanto isso, dizem agora que Moro em sua guerra de perseguição policial contra o The Intercept “já fez o que o PT não ousou nem para tentar se salvar”. Não é só uma questão de moral: é um momento de rupturas, de tensionamento dos limites. É assim que interpretamos a escalada militar no livro Carta no Coturno – A volta do Partido Fardado no Brasil: conforme se perde a normalidade ou a normatização dos conflitos políticos, surgem disputas extraordinárias pela capacidade de decidir a exceção. Foi isso que aconteceu no conflito envolvendo STF, Alexandre de Moraes, Procuradoria da Geral da República, Moro e Lava-Jato no caso da “censura ao Antagonista” e os “crimes digitais” em Abril de 2019 – Alexandre de Moraes e a PGR entraram em uma queda de braço de uma disputa política relacionada a recursos sombrios (difamação na internet), em que tentavam afirmar seu direito de decidir uma exceção e onde o ministro do STF (Moraes) mostrou sua influência na Polícia Federal apesar de Sérgio Moro.
Conflito com os militares
Um dos argumentos do Carta no Coturno é o de que é necessário ver a política brasileira em um cenário internacional e em relação ao papel dos Estados Unidos. Então, as facções da cúpula que disputam o poder também disputam o favor dos Estados Unidos.
Em fevereiro de 2019, o governo já tinha sua validade questionada e já falavam de Mourão preparando o terreno para assumir.
Bolsonaro, ciente das tensões que antecederam sua eleição e encalacrado em relações com generais conservadores que o enxergam como um inferior, decidiu se fortalecer se agarrando em um mestre colonial. Foi para Washington e se ridicularizou em um espetáculo de submissão sem precedentes, ao qual nenhum militar normal se sujeitaria. Se apresentou como o partido mais confiável e mais radical, sem razão para mudar, disposto até mesmo a entrar em guerra contra a Venezuela (e a política de Bolsonaro para com a Venezuela já é um presente impressionante para os ianques, é renunciar ao papel do Brasil na América do Sul). O grupo “olavista” ocupou um papel central nessa jogada, incluindo a participação do próprio Olavo de Carvalho e do filho Eduardo Bolsonaro em associação a Steve Bannon.
Bannon teve sua figura exagerada pela mídia e pela esquerda, mas viu no Brasil uma oportunidade de preservar sua influência. Em um eco do legado de Bannon e reproduzindo seu estilo pessoal de negociação, Trump driblou as resistências do aparato da Secretaria de Estado (parte do que vem sendo chamado de “deep state“) nas relações exteriores buscando manter relações mais diretas com outros chefes de estado, prezando relações de “confiança”.
Curioso que esse mesmo grupo de radicais “olavistas” pró-americanos são os mais ligados ao sionismo, que valoriza a manutenção de governos radicais de direita no exterior e também lucrou com uma proximidade pessoal a Donald Trump (que está bancando a política radical de Netanyahu apesar de todo status quo diplomático que o precede).
Mourão não deixou isso passar e logo depois fez sua própria viagem aos Estados Unidos, para em seguida se reunir com diversos diplomatas enquanto Ernesto Araújo fazia seu show no Itamaraty. Os militares também aceitaram uma aproximação maior com o SOUTHCOM – sem surpresas nisso. Eles não são contrários ao “alinhamento estratégico” com os Estados Unidos e não é absurdo se considerarmos que figuras como Etchegoyen (por sua infinita inteligência, general…) aceitariam fazer concessões aos Estados Unidos em troca de concessões ao aparato de segurança (digamos, acesso a capacidades de espionagem da NSA contra brasileiros, talvez?).
Olavo entendeu o que estava acontecendo.
Agora, Carlos Bolsonaro, o cruzado do papai, decidiu atacar o Gabinete de Segurança Institucional e o General Heleno, ao mesmo tempo em que exaltava Sérgio Moro, refinado produto de cursos bancados pela política dos Estados Unidos e agora um grande admirador, amigo e frequentador das agências CIA e FBI. Sérgio Moro que estava na DEA (Drug Enforcement Administration, uma polícia federal antidrogas dos Estados Unidos com longos braços na América Latina) enquanto a polícia espanhola apreendia a mala de um militar brasileiro com 39 kilos de cocaína.
Carlos e os que concordam com ele usaram este episódio e o suicídio de um empresário em um evento oficial na presença do governador do Sergipe e do ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. O empresário se matou com um tiro na cabeça no meio de um seminário em Aracaju; Carlos Bolsonaro acusou falha na segurança do ministro. Carlos não está de todo errado: a arma que o empresário usou para se matar poderia ter sido apontada contra o Almirante de Esquadra.
Há dois dias o Estadão publicou que “Família e aliados querem PF na escolta de Bolsonaro”, se referindo ao “núcleo ideológico” do governo (os “olavistas”) com a palavra “aliados”. A situação é tão grave que o Estado confirma algumas de nossas suspeitas sobre o conflito, dizendo que apuraram que “os filhos de Bolsonaro querem, no futuro, criar uma agência inspirada no Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é formada por civis e atua dentro do Departamento de Segurança Interna”. Tal ideia não pode ser aceita pelas Forças Armadas nas atuais circunstâncias, justo no momento em que cresce o Gabinete de Segurança Institucional.
Isso é um reflexo de um confronto político mais profundo e expõe atores que estão em uma posição de poder, no caso o Exército e o GSI. Levantando suspeitas, Carlos Bolsonaro disse em seu Twitter: “Por que acha que não ando com seguranças? Principalmente aqueles oferecidos pelo GSI?”
A coisa está em um nível que, enquanto estamos pensando em dinâmicas políticas, os filhos de Bolsonaro e os “aliados” estão com preocupações pretorianas. Por um momento, há um paralelo com uma espécie de despotismo.
Neste tom, ainda deveríamos prestar atenção no fato do governo ter ampliando o alcance da delegação do poder de marcar um documento como secreto ou ultrassecreto, com sigilo de 20 anos, além do presidente da República (o Decreto 9.690/19). Claro, este pode ser antes um sinal de venalidade – e um bem sem vergonha para um governo que se diz profeta anti-corrupção – do que um secretismo repressor. No entanto, é um pouco preocupante que, em função de alguns atos espetaculares, uma parte da comunicação oposicionista grite sobre “ditadura” e “fechamento do regime”, mas ao mesmo tempo seja incapaz de criar um nexo entre crescimento de um partido fardado, Gabinete de Segurança Institucional e o Decreto 9.690/19.
No Brasil, existem algumas pessoas muito esclarecidas e “de esquerda” que acreditam que não existe Deus fora da Lava-Jato, o grande e verdadeiro poder, de que quepes e casernas são resquícios do passado, isto é, que acham que quem manda é a Lava-Jato, o judiciário. Não compreendem que o caráter destrutivo da lawfare ou da desorganização causada pela atuação militante de promotores (e juízes…) não substituí a boa e velha decisão executiva.
Estes que olhem bem agora para o que está acontecendo com Sérgio Moro. Até a imagem pública da Lava-Jato está comprometida. Alguns responderão que mesmo assim os militares condecoraram o Moro, “se agarraram em Moro”, quando o gesto na verdade significa que eles estão oferecendo guarida para o Ministro. É consolação e demonstração de poder.
O mesmo se aplica com mais clareza na relação com o governo. Caso os militares estivessem agindo para enfraquecer a presidência ou quisessem se aproveitar de alguma derrota de Bolsonaro em outro o campo, o proceder mais lógico não seria em princípio pular para o abate ou puxar mais a corda a luz do dia – isolando a fera de vez e criando um campo de morte imprevisível – mas acolher o presidente, ampliando a dependência do mandatário e mostrando que são a força política mais importante. A mensagem é de “não adorarás nenhum senhor fora do verde-oliva”.
Muitos contavam com uma vantagem para dominar este governo. Ninguém mais pode oferecer a mão como eles. Paulo Guedes achou que com o programa radical do capital financeiro conseguiria passar por cima deles. Até agora não foi isso que aconteceu.
Nem Paulo Guedes com capital financeiro.
Nem centrão, política, nem Onyx Lorenzoni.
Nem igreja, bancada evangélica.
Nem Moro e Lava-Jato.
Nem Lobby policial, nem bancada ruralista.
Nem WhatsApp, nem militância, nem manifestação e nem milícia.
Só resta a carta no coturno.
O fantasma do apoio militar ronda Brasília – até Dias Toffoli, Presidente do STF, começou a “nova era” com um general assessor para fazer “pontes com a caserna” (e que por acaso faz parte do Clube do Haiti, o grupo de oficiais veteranos do MINUSTAH que atuam no governo Bolsonaro).
Bolsonaro tenta navegar como um centrista, tenta conciliar e sobreviver, mas ele não é lá muito capaz. Agora deslizou com a polícia, mas já arrumou tensões com a ABIN – tirou Janér Tesch Hosken Alvarenga para colocar um delegado da PF, Alexandre Ramagem Rodrigues, que foi coordenador da segurança pessoal de Bolsonaro depois da facada de 2018. Os últimos dois delegados de fora (um da polícia civil de SP e outro da PF) nomeados para chefiar a ABIN foram nomeações de Lula: caíram por crises estimuladas a partir de dentro. Bolsonaro está patinando, tentando se esquivar do outro lado.
Hosken Alvarenga, aliás, é cria do Serviço Nacional de Informações. São vários. A tigrada está viva, a democratização não fez eles desaparecerem (e na verdade, se tratando de espiões, deixar desaparecer é um erro) – a tigrada está aí e está querendo rugir. O regime militar nascido em 1964 não é uma excepcionalidade histórica, um “pesadelo”, antes sim um processo que trouxe suas consequências, seus mortos mas também seus filhos.
A Doutrina de Segurança Nacional continua se renovando dentro do exército, nas suas produções acadêmicas, na Escola Superior de Guerra e no Estado Maior. Se o pessoal criado na geração que botava bomba em banca da jornal está aparecendo agora (o próprio Bolsonaro é dessa época), dos criados por coronéis ressentidos pela democratização (e ressentidos com Geisel e Figueiredo), os centros de informação de cada arma e a tradição do SNI continuam.