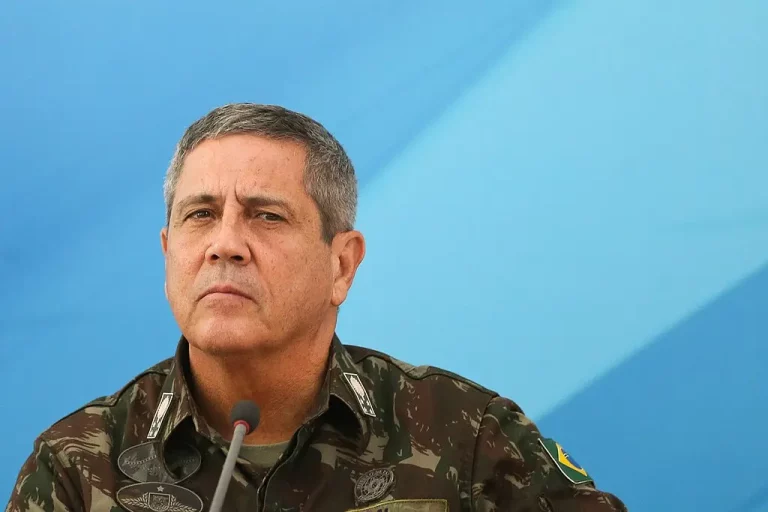Bem ou mal, a ditadura militar no Brasil teve sua história contada, apesar da campanha permanente de seus defensores e carrascos e das tentativas desesperadas de pseudointelectuais e pseudojornalistas em defendê-la sob os argumentos mais espúrios, movimento que começou a vingar algumas colheitas perigosas nos últimos anos. É claro, não foi bem contada para quem importa; não será tarefa facílima encontrar em um estudante qualquer do Ensino Médio uma abundante fonte de conhecimento sobre o período, mas nos aspectos mais gerais há um consenso acerca da ditadura na academia, na imprensa, na historiografia, na cultura.
Os atores principais do processo de redemocratização, os partidos que dela nasceram, a campanha pelas Diretas, os exilados que voltavam e os políticos que dela participaram tiveram também, mais ou menos bem, sua história contada, com uma produção historiográfica consistente.
Mas a guerrilha, que colaborou com essa abertura e que combateu aquela ditadura, ainda não teve sua história contada no Brasil. Teve pouca atenção na academia – apesar de esforços diversos de pesquisadoras e pesquisadores como Maria Cláudia Badan Ribeiro, José Luiz del Roio, Jacob Gorender, Daniel Aarão Reis Filho, Quartim de Moraes, Wilson Barbosa, Dênis de Moraes, Héctor Luis Saint Pierre, etc. –, muitas produções deturpadas na tela de cinema e é, de uma forma ou de outra e por atores diversos, vilipendiada. Para que se tenha dimensão, foram 43 anos para que uma biografia de vulto sobre um personagem como Marighella, tal como a escrita por Mário Magalhães, fosse publicada.
São essas as considerações que qualquer um deve fazer ao buscar avaliar o filme “Marighella” (2019), de Wagner Moura: o nosso guerrilheiro heróico e os movimentos armados contra a ditadura, apesar de sua importância, são via de regra mal avaliados, mal estudados, mal conhecidos e, acima de tudo, malditos. É claro que não se pode esperar que uma obra cinematográfica, mesmo que de duas horas e meia, seja a solução para isso; mas há de haver responsabilidade histórica no cinema e, num caso como este e nos tempos que vivemos, seria de bom tom que ela fosse redobrada. Dramaturgia não é historiografia, é certo; mas quando ela mobiliza um personagem real e não consegue descrever bem nem ele, nem o contexto que viveu, nem seus inimigos, é um péssimo sinal.
O Marighella de Moura, a despeito da genial interpretação de Seu Jorge, parece um personagem suspenso no ar; a conjuntura brasileira e a ditadura que combatia um fino pano de fundo, quase desimportante. Os atos do guerrilheiro e de sua organização, a Ação Libertadora Nacional (ALN), parecem automotivados, assim como os da repressão; e o filme sobre Marighella torna-se assim um thriller de ação de heróis contra vilões, sem sustentação histórica ao heroísmo de uns e à vilania de outros: estão em lados opostos, mas suas razões quase não são tocadas. Essa “suspensão no ar” também é notável no campo ideológico. As referências ao comunismo são várias, é verdade – mas quase sempre partindo da repressão, na forma de insulto, e quase nunca partindo dos guerrilheiros, que só se descrevem “comunistas” no começo do filme, quando Marighella se confronta com um membro do “O Partido” (que aparentemente é uma amálgama de alguém com Hermínio Sacchetta).
Há ainda soluções dramáticas criativas demais. Humberto, que aparentemente é o personagem ficcional do guerrilheiro real Marco Antônio Brás de Carvalho (Marquito), fuzila um capitão norte-americano – Charles Chandler – em frente a seu filho. Depois, dentro do carro, espanca um companheiro que se negara a participar de um fuzilamento em frente a uma criança. Os depoimentos de antigos companheiros de Marquito dão conta de um guerrilheiro de muita coragem física – às vezes, talvez, até demasiada – mas nesse caso trata-se de invenção. Chandler foi morto em uma ação conjunta da ALN e da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), da qual participaram Marquito, Pedro Lobo e Diógenes Carvalho de Oliveira. A ditadura de fato disse que um filho de Chandler assistiu ao assassinato – Pedro Lobo negou ter visto qualquer criança. Se havia ou não, é outra discussão; fato é que nenhum dos participantes da ação se negaram a cumprir seu papel, não houve espancamento nenhum e, de certo, Marquito não terminou crendo que “deveria ter matado” algum dos seus companheiros da VPR que participaram do justiçamento; a descrição de Mário Magalhães sobre o fim da ação, no livro que inspirou o filme, é a seguinte: “em um sábado de dezembro de 1968, Marquito recebeu Pedro e Diógenes para almoçar no apartamento de João Leonardo e Manon, que estavam viajando. Dividiram a mesa com a produtora cultural Dulce Maia, guerrilheira da VPR. No episódio da morte de Chandler, ela estivera por perto num carro, para acudir os companheiros, se necessário. Os quatro devoraram uma feijoada.”
É notável também que os guerrilheiros – que na vida real amargaram derrotas, é certo – quase não tenham suas vitórias exploradas no filme; estão constantemente contra a parede, tentando reagir desesperadamente e sendo esmagados, quase como se o martírio fosse para os guerrilheiros uma escolha, não uma possibilidade. A exceção é a tomada da Rádio Nacional, mas eventos como o sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick, pelo qual 15 presos políticos que viviam sob tortura foram libertados, são só mais uma pincelada do plano de fundo – outros episódios, como a atuação de um Marquito no Primeiro de Maio de 1968, que levantou uma massa de operários enfurecidos jogando pedras contra o governador Roberto Abreu Sodré, sequer são explorados, ajudando a compor o quadro geral de guerrilheiros isolados e continuamente derrotados.
Leia também – O terceiro-mundo incomoda: a crítica alemã não gostou de “Marighella”
É compreensível que o filme se concentre na atuação do GTA (Grupo Tático Armado); mas, com efeito, a decisão faz a ALN parecer um grupo pequeno, completamente alijado das massas (que não existem no filme, a não ser como uma expectativa, um sonho de Marighella) e das disputas políticas que, apesar da ditadura, se desenrolam no país. Quem assistir ao filme não poderá imaginar que, em 1968, a ALN contava com ao menos 50 militantes em São Paulo (para não contar outros Estados), que fazia ações de agitação e propaganda em meio às massas (acabou tendo até uma “ala” para isso, apelidada ironicamente pelos membros do GTA como “GTB”) e que contava ainda com algumas bases herdadas do PCB, especialmente entre metalúrgicos e ferroviários.
Do ponto de vista estritamente artístico, Marighella é um grande filme. Para além de uma fotografia primorosa, planos interessantes e uma trilha sonora que empolga, há detalhes sensíveis na escolha dos atores – o pastor Henrique Vieira como Frei Fernando, por exemplo, ou Maria Marighella, neta do guerrilheiro, interpretando sua primeira esposa, num jogo em que quem grita “esse homem amou o Brasil!” é tanto atriz quanto personagem. A montagem peca com cortes um pouco abruptos, mas ignoráveis, e é interessante que a narrativa da relação entre Marighella e seu filho, Carlinhos, tenha sido explorada como fio condutor da trama. No entanto, nada disso reverte o fato de que o roteiro deixa a história de Marighella ainda intocada no rol das “histórias que a História qualquer dia contará”, justo quando, talvez, mais precisávamos dela bem contada.