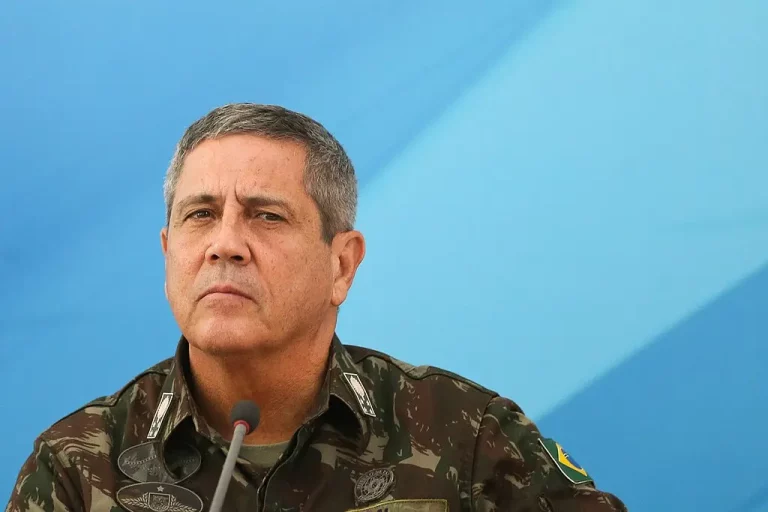A parlamentar indígena Célia Xakriabá (PSOL-MG) abriu ontem, 25 de abril, a audiência pública sobre as violações contra os povos originários durante a ditadura militar com um canto tradicional. Logo depois, justificou a voz um pouco falha: “ainda estou meio rouca do Acampamento Terra Livre (ATL)”, explicou a deputada federal. Desde segunda-feira (24), mais de 6 mil indígenas estão reunidos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para defender suas pautas, em especial a retomada da demarcação dos territórios.
Em sua 19ª edição, o ATL envolve diversos eventos em toda a cidade: um deles foi justamente a audiência pública que ocorreu ontem (25) na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, presidida por Xakriabá na Câmara dos Deputados. “Para tentar aquecer também esse Congresso Nacional, declaro aberta essa comissão”, continuou a deputada. O povo Maxakali tomou então o microfone e seguiu com um canto tradicional. Todas as cadeiras do plenário 12 da Câmara estavam ocupadas: alguns indígenas haviam se deslocado do acampamento ao Congresso para acompanhar o evento.
Ao longo de cerca de 3 horas, 8 convidados falaram sobre as violações cometidas e sobre os caminhos que o Estado brasileiro poderia percorrer para garantir um fim à violência por meio da apuração dos fatos e responsabilização dos atores envolvidos. Tantos eram os convidados que foram feitas duas mesas.

Nas falas, um consenso: a necessidade de instaurar uma Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV). Em 2014, analisando apenas 10 povos, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) apontou que ao menos 8.350 indígenas foram mortos durante a ditadura, e sugeriu que essas violações fossem melhor apuradas por meio de uma nova comissão. No ano passado, o Ministério Público Federal (MPF), por meio do procurador regional da República Marlon Alberto Weichert, que esteve presente na mesa, e do procurador da República Edmundo Antonio Dias, expediu nota técnica defendendo a instauração da comissão.
“Penso que a importância e relevância de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena saltou aos olhos com o fim do último governo, isso porque houve o agravamento nos últimos 4 anos da situação de violações aos direitos dos povos indígenas por ação do Estado e de agentes privados que atuam com a leniência e conveniência governamental. Esse contexto recente de ataque aos povos indígenas é indissociável, ao meu ver, ao histórico de atentados aos direitos das populações originárias ocorridos durante a ditadura”, defendeu Weichert em sua fala, na primeira parte da audiência.
Leia também – O problema não é um general
A presidente da Funai, Joênia Wapichana, também esteve presente e concordou com a recomendação de instaurar a CNIV. “Nós indígenas conhecemos o nosso passado justamente para saber aonde a gente quer chegar. Mas muitas vezes os fatos são tão invisibilizados, não é que são invisíveis, mas são invisibilizados propositalmente para que a gente não consiga requerer no futuro o que a Comissão [Nacional da Verdade] recomenda. Tanto o reconhecimento histórico dessa violação de direitos, mas também o que mais as pessoas temem, que é a reparação, inclusive com indenizações”, afirmou a presidente.
Wapichana sugeriu ainda que a própria Célia Xakriabá apresente um projeto de lei pedindo a criação da CNIV e colocou a Funai à disposição para fornecer documentos que podem ser importantes para a apuração dos crimes.
Além do procurador, Wapichana falou ao lado do jornalista Rubens Valente, autor do livro Os Fuzis e As Flechas e colunista da Agência Pública; e de Marcelo Zelic, integrante da Comissão de Justiça de Paz de São Paulo.
“As pessoas [neste Parlamento] negam ainda o processo de violência na época da ditadura militar, sem perceber que na verdade essa Casa também reproduz essa mesma violência. Eu tenho dito que somente sofisticaram as armas, mas a intenção de matar sempre foi a mesma”, finalizou Xakriabá.
Violações contra os povos indígenas
A segunda parte do debate contou com a participação de representantes dos povos indígenas Maxakali, Krenak, Pankararu e Guarani-Kaiowá. Os depoimentos abordaram as histórias das violações de direitos sofridas pelos povos, que foram contadas pelos mais velhos e estão sendo documentadas pelos próprios indígenas.
Geovanni Krenak, representante do povo Krenak da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), começou sua fala lembrando que durante a ditadura seu povo foi retirado de seu território sagrado, que até hoje não foi recuperado. Também contou que foi criado no território Krenak um “reformatório”, uma espécie de prisão para indígenas que desobedeciam às ordens dos militares durante a ditadura.
“É um crime que se perpetua no tempo. Rememorar essas práticas que quase levou (sic) à extinção do povo Krenak é muito doloroso, é muito sofrido para a gente. E mesmo assim ainda perceber que a gente, com todos os relatos, com a ação civil pública, com a morte dos parentes, com o exílio dos meus familiares, dos meus ancestrais, a gente ainda está aqui lutando pelo território”, afirmou.

O povo Krenak, com o auxílio do Ministério Público Federal em Minas Gerais, documentou as violações sofridas e apresentou uma ação civil pública sobre a criação do reformatório Krenak. Em setembro de 2021, a juíza Anna Cristina Rocha Gonçalves, da 14ª Vara Federal de Minas Gerais, condenou a União, o estado de Minas Gerais e a Funai pela “prática de atos de violações de direitos dos povos”. Mas os réus recorreram à sentença e a ação segue.
A fala de Sueli Maxakali, representante do povo Maxakali da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), foi uma das mais fortes: “quando a gente vê os parentes Yanomami, eu penso em quando o meu povo Maxakali passou pela mesma situação. O povo Maxakali na época da ditadura militar, como os parentes [Krenak] colocaram, que foram levados para os presídios, nós Maxakali também fomos levados para os presídios Krenak e Pataxó, e teve um parente nosso que foi queimado a língua devido a falar a língua [materna]. Muitas mulheres também falam que os policiais, que não eram indígenas, pegaram elas e abusaram delas, as mais velhas contam. O Capitão Pinheiro chegava e abraçava elas, tipo [dizendo] que eles eram amigos, e depois eles abusavam das mulheres. Algumas índias Maxakali engravidaram e depois eles [militares] mesmos distribuíram medicamentos para elas terem aborto”, explicou.
Leia também – Lei e guerra: como resolver o problema das Forças Armadas?
“A gente conta e no final a gente começa a emocionar, a gente não tem como falar…”, explicou à reportagem após a audiência. “[A CNIV] é muito importante. Hoje nós vê (sic) o nosso parente Yanomami, as mulher sendo abusadas, as mesmas memórias que a gente resgata dos mais velhos… Para nós, a ditadura está viva”, disse Sueli Maxakali.
“Foi um período muito obscuro, onde os policiais faziam o que queriam com os povos indígenas. Proibindo a de falar a linguagem, proibindo de se relacionar indígenas com indígenas. E agora a gente pode, através de relatos dos parentes nossos, falar essas atrocidades com mais tranquilidade. Na época a gente não poderia nem falar, porque a gente era preso. Essa Comissão [Nacional Indígena da Verdade] vem de forma muito oportuna para a gente de fato contar a história como aconteceu, de tortura, de morte, de exílio, e tentar a reparação por parte da justiça”, disse Geovanni Krenak à reportagem, também após o evento.
Dessa forma, para Maíra Pankararu, que participou da mesa como a primeira indígena a compor a Comissão da Anistia, órgão responsável por reparar pessoas perseguidas pelo regime, é “injusto” falar em “Ditabranda”, termo usado para sugerir que a ditadura brasileira não teria sido tão violenta e repressiva quanto a de outros países latino-americanos, como Argentina e Chile.
“Não pode ser uma ditabranda. Quando a gente olha só para os crimes de pessoas não-indígenas, a gente já entende que foi uma ditadura muito cruel, mas quando a gente olha para os crimes cometidos contra pessoas indígenas, a gente entende a gravidade e a complexidade da ditadura militar no Brasil”, explicou ela. “A gente nunca pode falar em Ditabranda quando a gente estava sendo dizimado como inimigo nesse nível, numa estrutura tão desigual, e a gente nem sabia porquê estava morrendo”, finalizou.
Para o futuro
Após o fim do evento, Eliel Benites, indígena Guarani-Kaiowá que também participou da mesa como diretor de Línguas e Memórias do Ministério dos Povos Indígenas, explicou à reportagem que ele considera a discussão sobre as violações cometidas durante o regime militar uma “demanda histórica” importante para “a reparação das violências praticada contra os povos”.
Ainda assim, na avaliação dele, trata-se de um tema delicado: “Temos que criar um ambiente político de reflexão, no sentido de que cada povo possa se expressar naturalmente, e não forçar. São feridas profundas, violência histórica, de décadas, famílias desestruturadas, aldeias desestruturadas, terras arrasadas”, afirmou.

Maíra Pankararu concorda: “é um tema que mexe com feridas que foram abertas num período muito recente, porque são gerações dos pais e dos avós de pessoas que estavam aqui na mesa, e que a gente não tratou”. A jurista considera necessária uma mudança no aparato legal para incluir as violações cometidas contra os indígenas, que são diferentes das sofridas nas cidades.
“Eu tenho estudado a questão da reparação no Brasil e como ela se deu, e obviamente ela vem se dando a partir dessa perspectiva das pessoas da cidade que foram perseguidas, estudantes, pessoas que estavam em partidos políticos, em organizações políticas, então a estrutura da reparação política abraça essas pessoas. Não se cita povos indígenas ou qualquer outra coletividade”, explicou.