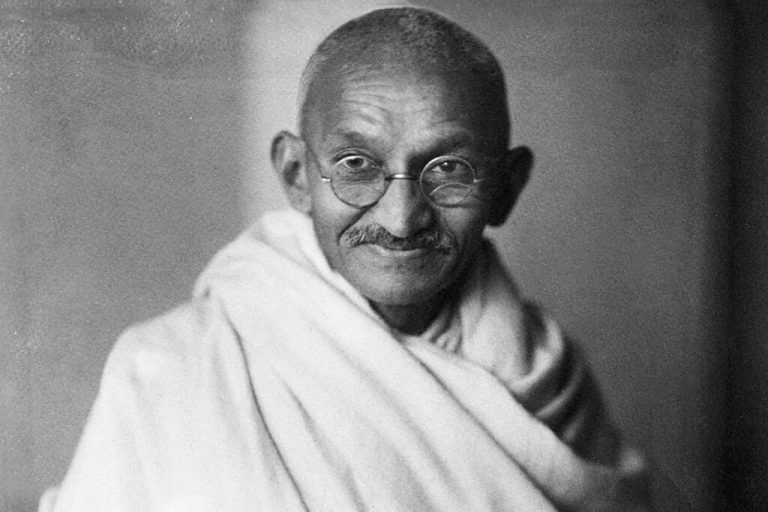À medida que a crise interna da União Europeia aumenta, com muitos cidadãos se rebelando contra aquilo que se tornou um projeto neoliberal, os políticos europeus estão correndo para despojar os governos nacionais de todo o poder a fim de evitar qualquer interposição democrática. A centro-esquerda ainda acredita que a UE é uma instituição voltada para o bem da Europa. Eles não fazem a mais importante das perguntas: a quem pertence a Europa da qual estamos falando?
Apontar o momento em que o processo de integração europeia deu um passo para pior não é tarefa fácil. Isso porque os aspectos mais nefastos (de uma perspectiva progressista) desse processo são resultado de decisões aparentemente não-nefastas tomadas décadas antes. Por uma questão de simplicidade, podemos traçar o início da virada da Europa para o neoliberalismo em meados da década de 1970, quando o chamado regime keynesiano, que se instalou no Ocidente no pós-guerra, estava passando por uma crise total.
A pressão salarial militante, o aumento dos custos e o aumento da concorrência internacional causaram um aperto nos lucros, provocando a ira dos capitalistas. Contudo, em um nível mais fundamental, o regime de pleno emprego “ameaçou fornecer as bases para transcender o próprio capitalismo”[1]: uma classe trabalhadora cada vez mais militante começou a se ligar aos novos movimentos de contracultura do final dos anos 1960, exigindo uma democratização radical da sociedade e da economia.
Como o economista polonês Michal Kalecki[2] previra 30 anos antes, o pleno emprego não se tornou simplesmente uma ameaça econômica às classes dominantes, mas também político. Isso preocupou as elites ao longo dos anos 1970 e 1980, como confirmado por vários documentos publicados na época. O relatório Crise de Democracia de 1975[3], frequentemente citado pela Comissão Trilateral, argumentava, do ponto de vista do establishment, que era necessária uma resposta multinível. Por um lado, visava não só reduzir o poder de barganha do trabalho, mas também promover um “maior grau de moderação na democracia” e um maior desengajamento (ou “não-envolvimento”) da sociedade civil nas operações do sistema político, a ser alcançado pela disseminação da ‘apatia’.
Este segundo objetivo – que a Comissão Trilateral julgou ser “uma pré-condição essencial” para atingir o primeiro objetivo: a transição para uma nova ordem econômica (isto é, o neoliberalismo) – foi alcançado, principalmente, por meio da gradual despolitização da política econômica. Isso significava esvaziar a soberania nacional e remover a política macroeconômica do controle democrático (parlamentar) – por exemplo, tornando os bancos centrais formalmente independentes dos governos – isolando assim efetivamente a transição neoliberal da contestação popular. Ao “amarrar suas próprias mãos”, os governos conseguiram reduzir os custos políticos da transição neoliberal, que claramente envolvia políticas impopulares, ao culpar os acordos e tratados internacionais, bem como as instituições multilaterais. Essas políticas foram então apresentadas como o resultado inevitável das novas e duras realidades da globalização.
Na Europa Ocidental, essa luta para desmobilizar os movimentos populares chegou à sua conclusão mais extrema. Após o colapso do sistema de taxas de câmbio fixas de Bretton Woods, em 1971, a maioria dos países europeus continuou a experimentar várias modalidades de moeda. Isso levou à criação, em 1979, do Sistema Monetário Europeu (SME), que basicamente ancorou todas as moedas participantes ao marco alemão e, consequentemente, à postura “anti-keynesiana” e antiinflacionária do Bundesbank. Essa estratégia conseguiu fomentar uma maior coesão cambial, mas o ajuste recaiu inteiramente sobre os ombros dos países com alta inflação e moeda mais fraca. Suas moedas se apreciaram em termos reais e transmitiram um impulso desinflacionário para todo o SME. Essa “desinflação competitiva” levou ao baixo crescimento e ao alto desemprego que caracterizou a economia europeia na década de 1980, gerando déficits estruturais em conta corrente em países como Itália e França.
A decisão das nações de moeda mais fraca de se juntarem ao SME levou a uma perda de competitividade e à exportação de ações de sua parte, ao mesmo tempo em que beneficiou enormemente as nações mais fortes (particularmente a Alemanha). Do ponto de vista do primeiro, esse processo pode parecer, em grande medida, autodestrutivo. Entretanto, tal decisão não pode ser entendida somente em termos de interesses emoldurados nacionalmente, mas deve ser vista como a maneira pela qual uma parte da “comunidade nacional” foi capaz de restringir outra, como observou James Heartfield[4]. Essa foi uma reação à luta distributiva dos anos 1970, quando o capital europeu exigiu que o Estado disciplinasse as classes trabalhadoras e suas organizações, a fim de, em primeiro lugar, restaurar a lucratividade do capital por meio da compressão salarial. Nesse sentido, a lógica da “desinflação competitiva” incorporada ao SME permitiu que os políticos nacionais, agora “privados” da ferramenta de desvalorização competitiva, apresentassem a compressão salarial e a austeridade fiscal como o único meio de restaurar a competitividade de um país.
O prisma da “despolitização”, uma limitação consciente e consciente dos direitos soberanos do Estado pelas elites nacionais, ajuda-nos a compreender todas as fases subsequentes do processo de integração europeia.
Um grande avanço veio em 1986 com o Ato Único Europeu, que aboliu todos os controles de capital em toda a CEE. Esses controles foram a principal razão de qualquer senso de estabilidade monetária na Europa até aquele momento, mas isso foi negligenciado pelo Relatório Delors de 1989, que era a extensão lógica da legislação do mercado único e que funcionava como um modelo para o Tratado de Maastricht (1992). Esse tratado (formalmente, o Tratado da União Europeia, ou TUE) estabeleceu um cronograma oficial para o estabelecimento de uma união monetária europeia. A maioria dos Estados participantes concordou em adotar o euro como sua moeda oficial e transferir o controle sobre a política monetária de seus respectivos bancos centrais para o BCE até 1999. A Alemanha também insistiu que o único objetivo do Banco Comum Europeu seria manter a inflação baixa: seu principal e talvez único critério para agir seria assegurar a estabilidade de preços. Além disso, os artigos 123.º a 135.º da forma atualizada do Tratado de Maastricht, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), proíbe claramente o BCE de financiar déficits públicos.
Em retrospectiva, o objetivo parece claro: estender uma lógica do livre mercado às finanças públicas dos Estados, ativando assim um efeito disciplinar. Vimos os efeitos desagradáveis disso na Europa após a crise financeira de 2007-9. Jean-Claude Trichet, ex-presidente do BCE, não fez segredo[5] do fato de que a recusa do Banco Central em apoiar os mercados de títulos públicos na primeira fase da crise financeira visava forçar os governos da zona do euro a consolidar seus orçamentos.
O Tratado de Maastricht também estabeleceu rígidos limites de déficit e dívida em relação ao PIB para os Estados membros que foram posteriormente reforçados. Isso essencialmente privou os países de sua autonomia fiscal sem transferir esse poder de gasto para uma autoridade superior. Como Heartfield escreveu, a união monetária pode, assim, ser essencialmente considerada “um processo de despolitização de um sistema central de administração econômica e fiscal, a moeda”. Neste sentido, o estabelecimento do euro pode ser considerado o ponto final da guerra de décadas das elites europeias à soberania e democracia.
Como o grande economista britânico Wynne Godley escreveu em 1992[6], “o poder de emitir seu próprio dinheiro, fazer esboços em seu próprio banco central, é a principal coisa que define a independência nacional”. Assim, ao adotar o euro, os Estados-membros adquiriram efetivamente o status de autoridades locais ou colônias.
O escopo dos tratados europeus, no entanto, se estende muito além da política fiscal e monetária[7]. Os textos estabelecem efetivamente a estrutura jurídica primária da política econômica da União Europeia, o que, desde então, essencialmente permaneceu inalterado. Os princípios orientadores da UE são claramente defendidos no prefixo do capítulo sobre política econômica, no qual se afirma que a UE e os seus Estados-membros devem conduzir a política econômica “de acordo com o princípio de uma economia de mercado aberto com livre concorrência” e os princípios orientadores dos “preços estáveis, finanças públicas sólidas e condições monetárias e uma balança de pagamentos sustentável”.
Outros artigos relevantes do TFUE incluem:
- Artigo 81.º, que proíbe qualquer intervenção governamental na economia que possa afetar o comércio entre os Estados-membros;
- Artigo 121.º, que confere ao Conselho Europeu e à Comissão Europeia – ambos os organismos não-eleitos – o direito de “formular… as orientações gerais das políticas econômicas dos Estados-membros e da União”;
- Artigo 126, que regulamenta as medidas disciplinares a serem adotadas em caso de déficit excessivo;
- Artigo 151.º, segundo o qual a política laboral e social da UE deve ter em conta a necessidade de “manter a competitividade da economia da União”; e
- Artigo 107.º, que proíbe os auxílios estatais às indústrias nacionais estratégicas.
Os tratados essencialmente incorporaram o neoliberalismo ao próprio tecido da União Europeia, efetivamente proibindo as políticas “keynesianas” que haviam sido comuns nas décadas anteriores. Evitam a desvalorização cambial e as compras diretas do Banco Central da dívida pública (para os países que adotaram o euro). Elas impedem as políticas de gestão de demanda ou o uso estratégico das compras públicas e colocam restrições rígidas às provisões de bem-estar generosas e à criação de emprego via despesa pública. Eles lançaram as bases para uma reengenharia total das economias e sociedades europeias.
As implicações legais desses tratados, que muitas vezes são ofuscadas por considerações sociais e econômicas, não podem ser superestimadas. Isto porque, apesar de a França e os Países Baixos terem votado favoravelmente contra uma constituição europeia conjunta em 2005[8], “em última análise, os tratados estabelecem uma ordem constitucional para a UE”. Todavia, é uma ordem constitucional muito peculiar, devido à sua natureza supranacional (e, portanto, intrinsecamente não democrática). Ao contrário das constituições nacionais, não pode ser alterada democraticamente pelos cidadãos: só pode ser alterada por unanimidade no contexto de um novo acordo internacional – o que, em termos práticos, significa que não é passível de alteração. A única coisa que os estados individuais podem fazer é repudiar toda a estrutura.
Como disse o próprio presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, no início do mandato do Syriza, “não pode haver escolha democrática contra os tratados europeus”.
Além disso, ao contrário de outras constituições e estruturas legais, que geralmente definem a relação entre as várias instituições de um Estado e os direitos básicos dos cidadãos, essa eficaz constituição europeia “formula uma filosofia econômica específica (ou ideologia) na qual embasa – ou melhor, ‘constitucionaliza’ – regulamentos que enquadram detalhadamente sua política econômica”.
Ela também ancora normas e regulações dentro das constituições nacionais, esvaziando-as progressivamente de dentro para fora. Isso dá imensos poderes ao Tribunal de Justiça Europeu, que tem a última palavra sobre disputas legais entre governos nacionais e instituições da União Europeia. Não é surpresa que Alec Stone Sweet, um especialista em direito internacional, o tenha denominado “golpe de Estado jurídico”[9].
Nos últimos anos, o constitucionalismo autoritário da União Europeia evoluiu para uma forma ainda mais antidemocrática que está rompendo com elementos da democracia formal, levando alguns observadores a sugerir que a UE “pode facilmente se tornar o protótipo pós-democrático e até mesmo uma estrutura de governança pré-ditatorial contra a soberania nacional e as democracias”[10]. Vimos isso na Grécia em 2015, quando o BCE cortou sua liquidez emergencial para os bancos gregos a fim de trazer o governo do Syriza para o canto e forçá-lo a aceitar o terceiro memorando de resgate.
Para concluir, qualquer crença de que a União Europeia pode ser “democratizada” e reformada em uma direção progressista é uma ilusão piedosa, o que não só exigiria um alinhamento impossível de movimentos e governos de esquerda para emergirem simultaneamente em escala internacional. Em um nível mais fundamental, um sistema que foi criado com o objetivo específico de restringir a democracia não pode ser democratizado. Só pode ser rejeitado.
Fontes:
[1] – https://www.amazon.com/Global-Capitalism-Selected-Political-Economy-ebook/dp/B00MBIGZB2 [2] – https://delong.typepad.com/kalecki43.pdf [3] – https://trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf [4] – https://bit.ly/2LW8zc5 [5] – https://adamtooze.com/2017/11/07/notes-global-condition-bond-vigilantes-central-bankers-crisis-2008-2017/#_ftnref51 [6] – https://www.lrb.co.uk/v14/n19/wynne-godley/maastricht-and-all-that [7] – https://bit.ly/2NSzpm1 [8] – https://www.transform-network.net/en/publications/issue/thinking-europe-as-a-commons/ [9] – http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=fss_papers [10] – http://www.paecon.net/PAEReview/issue62/Elsner62.pdf