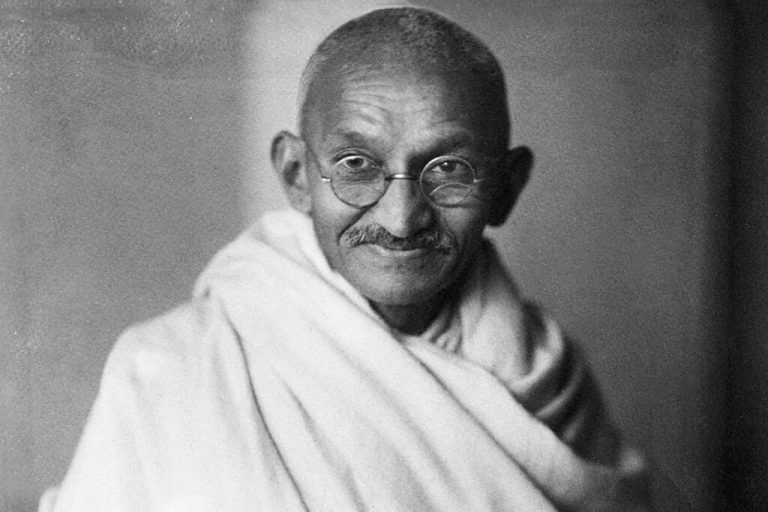Na eleição de 2018 e nos primeiros meses do governo Bolsonaro, um fenômeno estranho ocorreu: Bolsonaro foi comparado com Hugo Chávez, Lênin, Mao, Kim Jong-Un e Fidel. Uma famosa pesquisadora brasileira chegou a publicar um escrito buscando traçar as semelhanças entre o bolsonarismo e a “Revolução Cultural” maoísta.[1] O presidente brasileiro era comparado com tudo, menos com o anticomunismo virulento do qual é partícipe: Marcha com Deus pela Família (Brasil), Patria y Libertad (Chile), Macartismo (EUA), ou com o regime de supremacia racial sionista em Israel que ele tanto admira.
O fundamento da comparação é uma derivação pobre – ou melhor, miserável – da teoria do totalitarismo de Hannah Arendt: extrema-esquerda e extrema-direita seriam iguais, dois lados da mesma moeda, dois pontos da mesma ferradura. Ambos os lados são autoritários, antidemocráticos, negam o diálogo, a tolerância, veem inimigos na política. Em suma, contribuem com a “polarização”.
Nesse estranho Brasil, foi criado até uma visão fantasiosa do passado recente. O PT, o partido que produziu a mais espetacular conciliação de classes da história desse país, seria o partido da esquerda sectária, sem diálogo e extremista; e como resposta à sua intransigência é que surgiu o Bolsonarismo. Devemos agora despolarizar o país e buscar o diálogo entre os diferentes – Quebrando Tabu, que adora maconha e odeia pobre, promove o diálogo entre os diferentes, unindo, veja só, Janaína Pascal e Freixo, Sâmia Bomfim e Kim Kataguiri.
Nessa mesma terra em transe, depois do início do desastre do bolsonarismo, formou-se a ideia de uma frente única anti-Bolsonaro. Várias personalidades correram para declarar seu repúdio à “intolerância” do governo. Figuras como os youtubers Felipe Neto, Henry Bugalho e Pirula foram incluídos no panteão amplo e gelatinoso do “campo progressista”. Porém, toda semana, para os sem memória, esses e outros “anti-Bolsonaro” lembram que repudiam – na maioria das vezes, sem qualquer domínio básico do tema – o marxismo.
Ainda nessa terra de Deus e do diabo, é cada vez mais forte a ideia de uma frente ampla, amplíssima, de todos pela democracia. Mais larga que a Avenida Paulista, a frente pode incluir até Fernando Henrique Cardoso, Paulinho da Força, Márcio França, Gilberto Kassab, Rodrigo Maia. Todos são democratas, civilizados.[2] Por falar em civilização, diversas personalidades, como o competente jornalista e editor-executivo do The Intercept Brasil, Leandro Demori, nos garante que a luta hoje não é de “esquerda versus direita”, mas sim da civilização contra a barbárie. A civilização, como sabemos, é pouco criteriosa com quem aceita na sua festa.
Nesse mesmo Brasil, onde os Capitães Nascimento não são novidade, explode uma bomba. Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles lançam Bacurau.O filme conta a história de um povoado do interior de Pernambuco que se depara com forasteiros, que começam a matar o povo. Os forasteiros, mercenários dos Estados Unidos, em conluio com o prefeito para exterminar toda a população e tirar o povoado do mapa, são confrontados por uma população armada, organizada, unida e, no final, todos os invasores são mortos.
Mas não só mortos. Suas cabeças, fazendo uma referência à foto clássica do bando de Lampião capturado, são arrancadas e ostentadas em praça pública. O povo brasileiro, o negro, o idoso cansado de trabalhar na roça, o ex-bandido, o caboclo, a puta, a travesti, o mulato… todos estão juntos e matam os invasores. Matam sem pudores, dúvidas, incertezas. Respondem à violência com violência. Pulsa das telas o mesmo espírito do famoso discurso de Malcolm X: “Por qualquer meio necessário”.
Bacurau é uma ode à violência revolucionária. Resistência, no universo do filme, é sinônimo de violência. Violência justa, defensiva, revolucionária, mas, ainda assim, violência. Entre os heróis que compõem o protagonista coletivo – o povo de Bacurau – temos dois bandidos ou ex-bandidos: Acácio (ou Pacote) e Lunga. O filme mostra, inclusive, um vídeo dos crimes de Pacote, assassinando várias pessoas. E, mesmo assim, há zero juízo moral sobre os personagens. O fato de saberem usar a violência, não importando a forma como aprenderam, os confere um lugar de destaque na organização técnica da resistência e na liderança política do seu povo.
Bacurau é, no trato da questão da violência, uma mistura de diversos pensadores do realismo político (desde Maquiavel até Marx, Lênin, Trotsky, Stálin, etc.) em que a questão da violência, na luta pelo poder ou na resistência, assume um tratamento predominantemente realista, subordinado às condições reais do mundo e não a éticas comunicativas transcendentais de sucesso das universidades.
E, incrivelmente, no mesmo Brasil da “Frente democrática” com o PSDB e da condenação dos “extremos”, esse filme é um grande sucesso e vira símbolo de resistência na longa noite bolsonarista. Como explicar esse aparente paradoxo? Arrisco, nesse caso, hipóteses explicativas articuladas.
Arte, representação e catarse: a segurança das salas de cinema
Quem começou a fazer política nos últimos 20 anos, como é meu caso, não sabe o que é viver um clima de radicalidade política popular. Nós nunca vimos nada parecido com as Ligas Camponesas, a Campanha pela Legalidade, as corajosas greves dos anos 1970, os debates sobre socialismo com peso de massas dos anos 1980. Política, no geral, tornou-se sinônimo de institucionalidade atuando em ambientes mais ou menos seguros, com fortes características pequeno-burguesas e burocratizadas.
Aliado a isso, o petismo, desde 2006, realizou uma forte operação de castração da imaginação política: o principal mote das campanhas petistas não era manter o apoio ao seu projeto político, dado seu potencial de transformação radical da realidade ou a construção total de um novo Brasil, mas impedir a volta do terrível PSDB. Se o PSDB voltasse, o pouco que foi feito seria perdido.
A lógica intrínseca era simples: não te prometo um mundo novo, mas não me abandone, o que existe lá fora é muito pior. Essa gramática do mundo foi enfrentada por muitos militantes da esquerda radical (socialistas e comunistas) com uma ação de autoengano: no primeiro turno, espio minha consciência, mostro meu fervor revolucionário votando no PSOL, PCB, PSTU, mas, no segundo turno, para impedir a volta do neoliberalismo (o neoliberalismo chegou a sair do governo?), eu me abraço de corpo e alma com o social-liberalismo petista.
Esse movimento histórico, porém, levou a um mal-estar cada vez mais pronunciado. Especialmente a partir de 2010, cada novo ano da gestão petista era mais conservador que o anterior. O mesmo PT que afirmava que o PSDB não podia voltar já que, dentre outras coisas, promoveria a privatização das universidades públicas, empurrava goela abaixo mostrengos como a Ebserh (Empresa de Serviços Hospitalares) em cenas escatológicas como “votar” pela sua adesão dentro de um quartel da polícia militar para impedir pressão de estudantes e sindicalistas [3].
Nesse processo, gritamos “não vai ter golpe” e teve. Depois gritamos “não às reformas” operadas por Temer e o Congresso, e a maioria delas foram aprovadas. Em seguida, foi a vez de gritar “Ele não”, e ele ganhou. E tudo começou a desabar como um castelo de cartas.
Um luto político tomou conta de parte significativa dos militantes do país. Nesse clima de luto político, como uma espécie de coroamento do sentimento de vítima, é lançado o documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa. O documentário, uma narrativa histórica sobre a Nova República a partir da ótica dos conflitos familiares da diretora, tem como elemento central uma narrativa vitimizante onde a democracia foi sacrificada em uma onda política de extrema direita que surge quase que como um raio em céu azul.
Essa narrativa vitimizante é contada com um forte apelo emocional, triste, melancólico. Aqui o luto político assume sua forma plena. Estamos tristes, derrotados, arrasados com essa terrível perda. A narrativa da autora, combinada com sua voz suave e abatida, adensam o processo. Nos dias do lançamento do documentário pude acompanhar várias pessoas, ao vivo e nas redes, dizendo que choraram muito com o documentário. Realmente, luto combina com choro!
Todavia, todos os psicólogos sabem, e a saberia popular também, que o luto não pode ser eterno. Ele precisa ser superado em algum momento; a vida deve seguir. Bacurau é um sucesso, para além de suas qualidades cinematográficas intrínsecas, por isso: ele é a expressão da superação do luto, da reação, da transformação do “luto em luta”.
O filme oferece, enquanto elemento de transferência, como uma catarse coletiva nos seguros ambientes das salas de cinema, um gozo geral, porque a política do medo e da chantagem (o “menos pior”), as concessões, negociatas, derrotas, recuos, passividade e comodismo não existem. Finalmente conseguimos ganhar. Os mercenários, a personificação do imperialismo e do fascismo, são mortos. Mortos de maneira fácil. Os colaboradores sulistas são expostos ao ridículo, apresentados como patéticos, e também morrem.
A personificação do poder, o prefeito, é humilhada, derrotada, e também – friso isso – de maneira muito fácil. Uma das coisas mais marcantes de Bacurau, estejam as pessoas conscientes disso ou não, é que é tudo muito fácil. Os mercenários estão melhor armados, têm treinamento, equipamentos modernos, a vantagem logística de atacar cercando o local por diversos flancos; e, a despeito disso, rapidamente são derrotados. Muitos, inclusive, criticam o filme porque o “grande confronto” teria sido “sem graça”. Mas, e se a rapidez e a simplicidade do “grande confronto” tivessem uma missão maior? Reforçar a mensagem de que o protagonismo popular é o determinante para vitória? Não importa a força do inimigo: com o povo unido, todos são tigres com dentes de papel.
Por isso, as explosões de êxtase nas salas de cinema. Os risos sem sentido e fora de contexto. As palmas enlouquecidas. Os gritos a todo momento. As manifestações “políticas” ecoando por todo cinema. Gritos como “fascista tem que morrer”, “tem que fazer isso no Congresso”, “viva a luta popular”, “resistência”, “viva o povo” e afins puderam ser ouvidos em várias salas de cinema pelo Brasil, especialmente no Nordeste.
O filme de pronto causa uma identificação. O sujeito se vê na tela. Sente a vitória fictícia dos personagens como uma vitória política real. Faz do assistir um filme um ato político. É por isso que o mesmo militante que é “contra os extremos”, que acha que agora é o momento do diálogo e da “frente amplíssima pela democracia”, vibra, goza, com as cenas de Bacurau. Ele encontra, finalmente, um caminho eficaz de resistência e vitória, mesmo que seja apenas como representação artística. Contudo, durante os vários minutos do filme, o que é apenas arte aparece como uma real sensação de superação do luto e, finalmente, o dia do grande revide.
É justamente por essa sensação que ele não percebe que todo universo de resistência de Bacurau é uma negação de sua prática e linguagem política. E assim chegamos ao segundo ponto.
A inutilidade política confirmada: precisamos de Fanon, mas estamos lendo Djamila Ribeiro
Fernando Haddad, depois de perder para Bolsonaro, criou um canal no YouTube: “Painel Haddad”. No dia 29/07/2019 foi publicado uma entrevista com a filósofa Djamila Ribeiro [4]. A partir do minuto 17, Haddad comenta que, quando prefeito de São Paulo, buscou criar com empresários políticas afirmativas de igualdade racial. Porém, infelizmente, segundo ele, os empresários brasileiros não se entusiasmam pela questão, ao contrário das multinacionais, mais abertas a fazer esse trabalho. Em seguida, Djamila Ribeiro, respondendo, concorda com Haddad: as multinacionais são mais abertas para isso porque já aplicam essas políticas nos seus países.
Nenhuma palavra sobre imperialismo. Domínio dos monopólios estrangeiros sobre nossa economia e coisas básicas, como o papel dessas multinacionais na promoção do extermínio dos povos originários nos países da periferia, como povos quilombolas. Haddad, alguém até hoje surpreso com a falta de civilidade do empresariado brasileiro [5], assim como Djamila, não falam de imperialismo, luta de classes, Estado burguês, exploração, poder popular, nacionalismo revolucionário, luta anticolonial, violência revolucionária, auto organização popular.
Empoderamento, lugar de fala, representatividade, consenso, diálogo, democracia, interseccionalidade, apropriação cultural, colorismo e outros conceitos que compõem a linguagem política hegemônica, a maioria importada dos Estados Unidos, não compõem o universo de resistência de Bacurau. A linguagem política típica do chamado “ativismo”, movimentos sociais, ONGs e celebridades acadêmicas, foi largamente ignorada no filme. O sujeito de esquerda, no seu êxtase na sala de cinema, não percebeu isso.
Mas pensamos. Enquanto escrevo essas linhas, vejo a notícia de mais uma criança assassinada no Rio de Janeiro pela política de extermínio de Estado, mas nesse momento comandada por Wilson Witzel. Muitos, nesse momento, mobilizam o conceito de necropolítica para explicar isso. Mas e depois? E para além da denúncia, muitas vezes presa apenas ao universo das redes sociais, como organizar a resistência? Como parar o extermínio? Como derrotar esse projeto de morte no momento de crise capitalista?
Aliás, por qual motivo a Secretaria de Igualdade Racial foi extinta sem reação social significativa? Por que as políticas de representatividade no seio do Estado, tanto em nível federal como estadual e municipal, estão morrendo sem reação? Por que durante o auge das políticas de “representatividade” e “empoderamento” dos grupos oprimidos, no ciclo petista, o número de pessoas encarceradas e mortas pelo Estado, assim como a militarização da vida social, não parou de crescer?
Qualquer militante que não esteja em um sono anestésico vai ter que perceber algo incômodo: não existe mais espaço social para a linguagem política dominante nos últimos anos (acabou o tempo das políticas públicas compensatórias), e essa mesma linguagem é inábil para ser a expressão de uma resistência capaz de responder à ofensiva da burguesia interna e do imperialismo, expressada pelo bolsonarismo. Aliás, nessa linguagem política, a questão nacional e colonial e o nacionalismo revolucionário não têm qualquer espaço.
Findado o curto período do que eu gosto de chamar de ilusão democrática, reaparece a luta de classes em toda sua crueza, como sempre houve no Brasil: uma autocracia burguesa, uma forma de dominação na qual os de cima se comportam em relação ao povo trabalhador como se fossem colonizadores brancos em África. Atuam na base de uma dominação total com a desumanização e despersonalização correlata.
Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, abre o livro com seu famoso ensaio sobre a violência. Na letra do grande revolucionário marxista e anticolonial (não pós-estruturalista, como grosseiramente a universidade quer pintá-lo), a auto-organização dos explorados e oprimidos pela descolonização, com uso da violência e da luta armada, era o único meio de combater a dominação total.
Rompendo com certa tradição marxista eurocêntrica, Fanon vê nos camponeses e no lúmpen a força política potencialmente mais revolucionária. Instiga os condenados da terra a não nutrirem qualquer ilusão com os políticos nacionalistas e a burguesia negra, enfrentando as ilusões de um combate autocentrado no campo da cultura, e destrói qualquer esperança vã de buscar uma unidade idealizada de todos os africanos, que ignora as contradições de classe.
Fanon, como atento leitor de Mao, Ho Chi Minh e Lênin[6] fala de vanguarda, partido, organização, revolução, poder popular, luta de classes, imperialismo e violência revolucionária. Fanon nunca vacilou em perceber que numa guerra – e a luta de classes, em última instância, se trata disso; uma guerra de classes – os oprimidos devem se preparar, por qualquer meio necessário, para derrotar e esmagar o inimigo: o capitalismo racista, colonialista e imperialista.
Voltamos ao filme. Quando vibrou com o povo de Bacurau, o sujeito de esquerda admitiu que ele precisava de Fanon e não das Djamilas da vida. A linguagem, como diria Marx e Engels na Ideologia Alemã, é a consciência prática. Que tal perceber a contradição entre o gozo eufórico com o filme e a consciência prática dos últimos anos?
A violência revolucionária e a crise do liberalismo de esquerda
Quando Bacurau apareceu nas telas do cinema, foram basicamente duas as reações da intelectualidade acadêmica brasileira. Pequeno-burgueses acostumados com seu encastelamento social, posição semi-aristocrática e com saudades dos tempos áureos da Nova República (quando não havia qualquer risco de prisão política nos bairros nobres), reagiram mal ao filme. Durval Muniz, Pablo Ortellado e Eduardo Escorel [7], quase tipos ideais do acadêmico brasileiro, não gostaram da “ode à barbárie” no filme, manifesta na violência. Na cabeça deles, é claro, o mundo é um reino de razão comunicativa na qual a política é por essência a negação da violência, e a violência diária são falhas, erros, desvios, a serem corrigidos um dia (antes de Jesus voltar?) sem macular a ideia celestial de República.
Outros, porém, especialmente os acadêmicos marxistas, adoraram. A contradição, de novo, não foi percebida. Há uma forte tradição no Brasil de um trotskismo social-democrata de orientação liberal. Como assim? Vários acadêmicos, hoje a maioria no PSOL depois da debandada do PSTU, têm Trotsky como seu grande nome de referência. E, em nome de Leon Trotsky, repudiam todas as experiências socialistas e de libertação nacional de ontem e hoje. Porém, ao contrário do fundador do Exército Vermelho, usam argumentos da lavra de Karl Kautsky. Reclamam em abstração da repressão, censura, terror vermelho; colocam a democracia e a liberdade como valores universais e repetem o binômio liberal-democracia versus ditadura e se pronunciam, de pronto, como representantes da democracia – e de um socialismo com liberdade.
Ainda que ateus, usam uma espécie de narrativa cristã primitiva de pureza total do humilhado. Os bolcheviques, durante a Guerra Civil, foram santos e usaram a repressão de maneira correta. Depois da Guerra Civil, porém, abstratamente, todo reprimido é tratado como um poeta da liberdade. Acontece algo semelhante com o Vietnã. Enquanto país destruído e todo dia inundado com bombas dos Estados Unidos, era aceitável. Depois que finalmente ganha a guerra e consegue, depois de 100 anos, pensar em construir pontes e hospitais sem medo de um míssil as destruir, o país automaticamente vira autoritário e burocratizado.
Lembram dos cristãos dos primeiros anos que eram jogados nas arenas para os leões? Eles podiam matar um soldado para se defender. Depois de conquistar Roma e realizar, na prática, a missão universal do cristianismo, a pureza original é perdida. Dentro dessa lógica é que opera esse monstro híbrido: análise marxista do presente, compreensão liberal do passado e prática política social-democrata hoje. Seja na Rússia ou na China, na Argélia ou no Vietnã, na Venezuela de hoje ou no Chile de ontem, a defesa da violência revolucionária e da ditadura do proletariado não comparece. Aliás, é fofo a quantidade de tinta gasta para dizer que Marx era um democrata habermasiano e que o conceito de ditadura do proletariado também não cumpria uma importante função teórica na sua obra.
Um desses professores eu tive que questionar com alguma dose de ironia. Passou dias seguidos em suas redes sociais “denunciando” a ditadura chinesa (o oposto positivo seria a democracia burguesa?) e sua repressão sobre os protestos de Hong Kong (repressão em abstrato? Sobre que classes ela recaía?). Nesse meio tempo, quando Nicolás Maduro concedeu entrevista para Folha de São Paulo, criticou a esquerda que “ainda” apoia a Venezuela, afinal, Maduro é um autocrata, e a Venezuela é uma ditadura. A lógica intrínseca é: a esquerda não pode apoiar uma ditadura, colocando a contradição, real ou aparente, entre “democracia versus ditadura” como a ontogênese do ser de esquerda.
Esse mesmo professor, no mesmo dia, criticou a “militarização da sociedade” na Venezuela se referindo às milícias bolivarianas. Evidentemente, como sempre, nada foi dito pelo professor e seus colegas sobre os grupos paramilitares colombianos, atentados, sabotagens, ações de bloqueio econômico, etc. Passa alguns dias e lá está ele louvando, nas suas redes sociais, Bacurau.
Entre essa intelectualidade acadêmica marxista, a aceitação de Bacurau foi boa. Textos elogiosos foram escritos e compartilhados aos montes. Analogias com a realidade política produzidas em escalada quase industriais. Como explicar isso? Como os mesmos sujeitos que repudiam, sob o prisma liberal, a violência revolucionária concreta, louvaram ela como alegoria no cinema? A primeira resposta está contida na própria forma alegoria que propicia um momento catártico de autoidentificação seguro. Já falei desse aspecto acima. Em menor medida, com os intelectuais, o efeito se repete.
O segundo elemento, na questão dos intelectuais, é o principal: o apelo ao primitivismo protocristão como signo de pureza revolucionária. O povo de Bacurau vive na extrema miséria. É um povoado pobre, sem infraestrutura, com dificuldades de armazenamento de água, com serviços coletivos (como a escola e a unidade de saúde) em uma situação extremamente precária. Precisam, inclusive, da comida doada pelo prefeito como esmola – negam a trocar a comida pelo voto ou apoio político, mas, no fim, coletivamente, se organizam para dividi-la. Ela não pode ser realmente recusada.
Aliado a isso, a miséria se junta com a imagem de precariedade dos meios de resistência. O filme tem uma dimensão do mito bíblico de Davi contra Golias. Como já falei acima, o povo de Bacurau está, em todas as dimensões do conflito (desde armamentos até equipamentos de comunicação), em desvantagem total. Como Domenico Losurdo mostra em grande parte da sua obra, mas particularmente em “O marxismo ocidental” (Boitempo, 2018), é um traço característico do marxismo ocidental o elogio da pureza da miséria socializada (o importante é não existir desigualdades, ainda que o nível de igualdade seja o da miséria socializada) e na condição de eterno oprimido que resiste com desvantagens materiais claras.
Sabe a saga Star Wars? Seu extremo sucesso no Ocidente é um sintoma muito importante. É a história, basicamente, de uma resistência eterna contra o mal (personificado no Império ou na Primeira Ordem) que não tem um desfecho positivo nunca (na representação cinematográfica). É uma eterna resistência como metáfora cristã da alma humana no Mundo dos Homens lutando constantemente contra o mal para um dia, sabe-se lá quando, entrar no Mundo de Deus. Grande parte dos marxistas brasileiros raciocinam da mesma forma. No geral, apoiam as revoluções nas suas fases de resistência ao invasor neocolonial (como no caso do Vietnã, China, Argélia, etc.) ou no início, com a destruição da velha ordem (como a Rússia entre 1917-1927).
A revolução é, basicamente, uma processualidade histórica de dois momentos. A destruição da velha ordem a partir de suas contradições e potencialidades intrínsecas e, posteriormente, a construção de uma nova sociabilidade. Por exemplo, na prática, a Revolução Russa de 1917 criou uma série de novas relações e estruturas sociais, mas não forjou uma nova sociedade, um novo mundo, nos primeiros anos. De maneira geral, a dinâmica e estrutura de classes, divisão social do trabalho, estrutura familiar, formas de produção e consumo, nível de domínio e socialização da produção cultural e técnico-científica e afins se mantiveram, nos seus aspectos centrais, inalterados até o final dos anos 1920. Quando, finalmente, começa o abalo das estruturas mais profundas da Rússia, na visão hegemônica da intelectualidade brasileira, a revolução foi traída. Triunfa a contrarrevolução. Temos a burocratização, etc.
Bacurau, ao fim, depois da invasão derrotada, continua sua vida pacata, igualitária, miserável. O povoado, onde a polícia não chega, deve ser atacado de novo pelo que aconteceu com o prefeito. E a resistência continua eternamente em ciclos históricos – ao estilo Star Wars. No momento primitivo na estética de Davi contra Golias, todas as simpatias são possíveis. É por isso que a Palestina e a Coreia tem a mesma luta: luta de libertação nacional, anticolonial e anti-imperialista, mas a primeira é a encarnação do pobre cristão (já notou como é comum exaltar que os palestinos enfrentam tanques de guerra com pedras? Como se isso fosse uma espécie de mérito espiritual e não a expressão de uma situação hiperbrutal), e a segunda tem bombas nucleares e mísseis com capacidade de afundar o Japão e chegar na costa dos EUA. A primeira é amada; a segunda, desprezada.
A consequência lógica dessa visão, além da negação de toda tentativa real de mudar o mundo, é a força da narrativa de traição ou revolução traída no marxismo ocidental.[8] Evidentemente, a “revolução” ou revolta que se mantém eternamente na fase da negação da velha ordem, como resistência perene, não tem como ser traída. É a raiz do sucesso da narrativa de Bacurau com o liberalismo de esquerda e o marxismo acadêmico.
Conclusão
Quem teve paciência de chegar até esse momento do escrito percebeu que pouco ou nada falei da dimensão estética do filme em si. Isso, é claro, foi proposital. Resolvi usar Bacurau como uma espécie de sintoma para tratar de uma série de graves problemas da esquerda brasileira. Bem mais que debater o filme em si, quis debater sua recepção.
Na prática política, fora das telas de cinema, ao invés de forjarmos os nossos Lungas, já está em costura as alianças com o tipo social do prefeito de Bacurau, Tony Jr. O filme, embora politizado, é vivido como uma politização alegórica. E fora da elegia, os de sempre apelam a um suposto “pragmatismo” e a um realismo político que, incrivelmente, chama de “realista” crer em um republicanismo afrancesado nos trópicos. Fora da alegoria, é o momento de voltar para o mundo real. E encarar a chaga da imaginação política castrada e da radicalidade banida.
[rev_slider alias=”livros”][/rev_slider]Notas:
[1] – https://theintercept.com/2018/11/15/bolsonarismo-repete-revolucao-cultural-china/
[4] – https://www.youtube.com/watch?v=k_hLoCAJ0Xo&t=1519s
[5] – https://piaui.folha.uol.com.br/materia/vivi-na-pele-o-que-aprendi-nos-livros/
[6] – https://blogdaboitempo.com.br/2019/07/20/por-um-fanon-revolucionario/
[7] – https://www.saibamais.jor.br/bacurau-sera-mesmo-resistencia/ e https://piaui.folha.uol.com.br/bacurau-celebracao-da-barbarie/