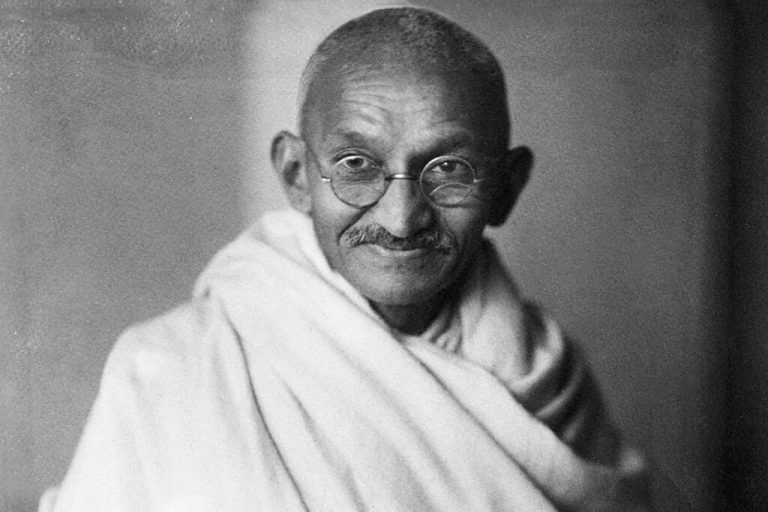Em 21 de março de 1937, o Partido Nacionalista de Porto Rico, em ocasião do aniversário da abolição da escravidão em 1873, conseguiu permissão para realizar uma marcha sobre as ruas de Ponce, umas das maiores cidades do país. Bandeiras negras do partido, estampadas com a Cruz de Calatrava, estandarte outrora apropriado por revolucionários franceses, sobressaíam às cabeças orgulhosas de sincronizados nacionalistas trajando vestes negras, simbolizando luto pela condição colonial de Porto Rico. Caminhavam ao lado de seus familiares entoando canções de independência. Como não possuíam armas de fogo, portavam rifles de madeira. A juventude do partido e sua ala feminina, respectivamente, os Cadetes de La República e as Hijas de La Libertad, compunham o desfile repleto de simbologia em defesa da República porto-riquenha.
No auge da disciplinada caminhada, o prefeito José Tormos Diego e o capitão da Polícia Insular (departamento que respondia diretamente aos EUA), Guillermo Soldevilla, acompanhados por mais de 200 policiais, apareceram e exigiram dispersão imediata. A permissão para o desfile foi suspensa pelo governador. Subitamente deflagrou-se um tiroteio por 13 longos e ininterruptos minutos. Quando a poeira baixou, pelo menos 19 corpos de homens e mulheres, além de uma criança, jaziam ao chão cravados de balas. Mais de 200 pessoas ficaram gravemente feridas e dezenas foram presas. Na cidade de Ponce, batizada em homenagem ao conquistador espanhol de mesmo nome, ocorria mais um massacre. Segundo o historiador Daniel Immerwahr, ainda hoje é o maior e mais sangrento tiroteio no qual a polícia dos EUA já se envolveu.

Esse evento pode ser considerado o ponto de partida para um balanço sobre a situação porto-riquenha, no passado e no presente. Primeiro, os nacionalistas que marcharam pela independência naquele 21 de março foram reprimidos por forças ocupantes. Aqui se expressa a existência de uma correlação de forças que se generaliza por praticamente todo o século e atinge seu ápice na guerra pela libertação nacional na década de 1950. Em segundo lugar, expressa o que é principal no tocante ao debate político: o status de Porto Rico, sem independência e sob o domínio colonial dos EUA desde a chamada Guerra Hispano-Americana (1898). Desde 1952, seu status oficial foi alterado de “colônia” para “Estado Livre Associado”, condição na qual ainda se encontra. Qualquer projeto que se pretenda construir para o país deve ter como tema transversal seu status político, seja de modo a superá-lo ou reformá-lo – ou até preservá-lo, como defendem alguns setores.
A própria formação e manutenção do Império Americano foi constituída marginalmente aos olhos de parte considerável da população mundial. Mesmo hoje a extensão – e a própria existência – dos Territórios é fato amplamente desconhecido. Numa pesquisa realizada em 2017, 47% dos estadunidenses respondeu que não sabia que porto-riquenhos são também cidadãos estadunidenses. Além de Porto Rico, cuja população é hoje de 3,1 milhões, as Ilhas Virgens Americanas (população aproximada de 107.000), Samoa Americana (pop. aprox. 55.000), Ilhas Marianas do Norte (56.000) e Guam (165.000) também são territórios pertencentes aos EUA, mas não incorporados à União como estados. Observamos uma profunda diferença no tocante à identidade entre os habitantes da metrópole e os que vivem nos “Territórios”, conforme a nomenclatura oficial utilizada. Mais do que isso, é pertinente apontar para a existência de duas Américas distintas, que convivem não lado a lado, mas sobrepostas.
Nos dias seguintes ao Massacre de Ponce, em 1937, os principais jornais dos EUA continental reportaram a história de um evento “lamentável”, utilizando expressões como “motim político”, “pandemônio” e “batalha”, de modo a conduzir uma narrativa que expressasse uma falsa equivalência de forças que teriam entrado em combate nas ruas. Uma semana depois, enquanto abundavam nos jornais porto-riquenhos manchetes exigindo punição aos culpados, o The New York Times reproduzia para seus leitores, em artigo especial, suas inconclusões sobre o evento: “Quando cem pessoas são feridas e várias são mortas em uma batalha de rua, como em Ponce, na tarde do Domingo de Ramos, quando nacionalistas e policiais entraram em confronto, mesmo diversas investigações podem não esclarecer todas as suas causas”. Na verdade, para as testemunhas do massacre muito dificilmente seria possível elaborar uma versão cujas causas não sejam minuciosamente conhecidas. Se para os porto-riquenhos o evento entrou para a memória coletiva como o Massacre de Ponce, para o público geral do jornal o que se sucedeu foi, no máximo, uma batalha, ou, na melhor das hipóteses, um evento lamentável com excessos cometidos provavelmente de ambos os lados.
Embora não fossem raras as testemunhas oculares do massacre – registrado até mesmo em vídeo –, nas semanas seguintes houve dezenas de prisões de nacionalistas sobreviventes, enquanto muitos estavam internados no hospital, condenados por crimes variados relacionados à perturbação da ordem e até tentativa de assassinato – ao que parece, deles próprios. Nenhum policial foi demitido, condenado, removido de seu cargo ou sofreu qualquer punição. O governador Blanton Winship reforçou publicamente a boa atuação da Polícia Insular, que teria agido em “legítima defesa”, com “grande contenção”, e ressaltou a forma “paciente” com a qual o chefe de polícia e seus oficiais agiram. O peso do massacre agora recaía não apenas sobre os corpos daqueles que tombaram, mas sobre a memória de quem sobreviveu a ele e o testemunhou. Nos jornais porto-riquenhos, pedidos pelo impeachment de Winship e clamor por justiça. Visto a partir do norte, apenas outro evento lamentável em mais um país caribenho.

Após meses de mobilização, cerca de quatro mil pessoas compareceram ao local onde a Comissão Hays, criada pela União Americana pelas Liberdades Civis para apurar o que de fato aconteceu no fatídico 21 de março, apresentaria suas conclusões. O que seguiu foi a publicização de peremptórias descobertas: os nacionalistas estavam desarmados, e nos corpos das vítimas foram encontradas dezenas de balas, constituindo, portanto, um massacre; nos meses anteriores, direitos e liberdades civis foram repetidamente cerceadas e violadas a mando do governador; a repressão foi consequência da supressão do direito de livre reunião e da suspensão da já previamente autorizada parada organizada pelo Partido Nacionalista. O documento fez ainda severas críticas à atuação “gângster” da Polícia Insular (que portava submetralhadoras Tommy Guns, características dos mafiosos estadunidenses) bem como às violações em massa de direitos por parte da administração Winship. Do total de mortos, dois eram policiais pegos pelo “fogo amigo”.
Rapidamente, os pareceres do relatório se alastraram por toda a ilha. E os jornais dos EUA em igual velocidade esqueceram-se do assunto. Os presos nos meses anteriores foram absolvidos. O governador Blanton Winship, nomeado em 1934 pelo então presidente Franklin Delano Roosevelt com a missão de esmagar o Partido Nacionalista, foi removido pelo próprio presidente apenas em 1939. No entanto, Winship jamais se desculpou publicamente. Um ano após ter ordenado o massacre executado por oficiais da Polícia Insular, promoveu uma comemoração pública pela efeméride dos 40 anos da invasão dos EUA a Porto Rico. Embora ocorressem tradicionalmente em San Juan, capital porto-riquenha, naquele ano Winship mudou as celebrações para Ponce – a algumas quadras de onde, um ano antes, o nacionalista Bolívar Márquez Telechea rastejou ao muro mais próximo e escreveu com o próprio sangue que jorrava dos ferimentos à bala causados pela Polícia Insular: “¡Viva la República! ¡Abajo los asesinos!”.
O rei está morto. Vida longa ao rei
Sob o jugo colonial espanhol, talvez a revolta porto-riquenha mais expressiva – ou ao menos a mais emblemática – tenha sido o Grito de Lares, de 1868, que teve como um de seus líderes Ramón Emeterio Betances, considerado o pai do movimento pela independência da nação. Na ocasião, rebeldes marcharam sobre a cidade de Lares, tomaram postos-chave da administração colonial, prenderam oficiais da Coroa, declararam a abolição da escravidão daqueles que se juntassem à causa e proclamaram a independência de Porto Rico. No dia seguinte, tropas do Império Espanhol puseram fim ao governo provisório rebelde, sufocando el grito. Trata-se de uma questão ainda obscura, mas é provável que, três décadas depois, Betances tenha tido envolvimento no assassinato do primeiro-ministro espanhol. Tais acontecimentos, somados a outros tantos conflitos, forçaram os espanhóis à mesa de negociações. Dessa contenda resultou-se a elaboração da Carta de Autonomia, que garantia a Porto Rico o direito de elaborar sua própria legislatura, constituição, sistema monetário e de tarifas, ter seu próprio tesouro nacional, poder judiciário e controlar fronteiras internacionais. Era um incipiente vislumbre em potencial da República de Porto Rico. Agendaram-se para maio de 1898 novas eleições para a formação e instalação de um novo governo.
Precisamente no décimo segundo dia do mês marcado para a eleição do novo governo, tiros de canhão atingiram o topo dos maiores edifícios de San Juan. Os primeiros a despertar correram em direção ao porto e se viram diante das bandeiras com estrelas e listras que desfraldavam dos doze imponentes navios de guerra que ofereciam poucas alternativas aos espanhóis que não a rendição. Algumas semanas depois, a bandeira da Coroa Espanhola era retirada dos mastros. Era substituída, numa rápida cerimônia entoada pelo hino nacional, pela bandeira dos Estados Unidos da América.
O que ocorreu nas últimas décadas do século XIX foi um processo que reconfigurou drasticamente a disposição das peças no tabuleiro mundial: o outrora poderoso Império Espanhol, cujo domínio colonial estendia-se por todo o continente americano, esfacelava-se diante dos olhos atentos de potenciais candidatos à sua sucessão. O século XX conheceria novos jogadores desse tabuleiro – bem como novas regras. No ocaso do século XIX, o vacilante domínio espanhol tentava manter seus últimos territórios além-mar – Cuba e Porto Rico no hemisfério ocidental, e as Filipinas e ilhas da Micronésia, no Pacífico -, ao passo que os EUA esgotavam seu crescimento dentro de suas próprias fronteiras. No círculo de poder decisório dos EUA não faltou quem enxergasse essa virada não apenas como uma oportunidade, mas como uma missão, um destino. Um Destino Manifesto. Para alcançar o poder imperial que almejavam, controlar os mares e suas rotas comerciais era imprescindível. Tanto Cuba quanto Porto Rico já eram, décadas antes da Guerra Hispano-Americana, entendidos como fronteiras naturais dos EUA e uma espécie de trampolim para o mercado latino-americano, tendo Porto Rico servido como base para a política do big stick no Caribe durante a administração de Theodore Roosevelt.
Décadas antes, a consolidação da independência dos EUA havia fornecido ânimo particular àqueles que passaram a defender o suposto excepcionalismo da nação americana – logo se convertendo numa pretensão à superioridade. Incorporando a tradição judaica do povo escolhido, os adeptos dessa filosofia deram contornos a uma crença segundo a qual a história e desenvolvimento dos EUA a tornam uma nação diferente de todas as outras, destinada à grandeza e a exercer protagonismo e preponderância no mundo todo. Ao longo dos séculos, essa plataforma foi sendo atualizada e escamoteada por doutrinas dogmáticas de acordo com pretensões expansionistas. Durante a Guerra Hispano-Americana, William Mckinley ocupava o cargo máximo na Casa Branca, e se tornava uma espécie de Midas moderno para os excepcionalistas ao apresentar ao mundo um novo império, erguido a partir dos cacos dos impérios decadentes do Velho Mundo, inaugurando, de acordo com o historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira, o imperialismo estadunidense – é durante seu governo que os primeiros territórios além-mar são incorporados como possessões coloniais habitadas.
O que se assistiu foi uma guerra rápida, travada contra um império já exaurido após décadas de levantes e conflitos travados contra os cubanos, porto-riquenhos e filipinos. Os acordos de paz realizados em Paris reuniram EUA e Espanha, sem representantes dos outros países envolvidos – os que lutavam por independência. A Espanha vendeu as Filipinas aos EUA por 20 milhões de dólares. Porto Rico e Guam foram tomadas como espólios. Devido a uma emenda passada por anti-imperialistas no Congresso, Cuba não pôde ser anexada, mas foi ocupada e um governo militar estadunidense foi instaurado. O sonho de excepcionalistas como Theodore Roosevelt de erguer o Grande Império dos Estados Unidos tornara-se algo material. Para os porto-riquenhos, no entanto, o balanço político do processo pode ser expresso na fala do general dominicano pró-independência, que lutou ao lado dos cubanos, Máximo Gómez: “Essa não é a República pela qual lutamos, não é de maneira alguma a Independência com a qual sonhamos”.
A formação do pacto colonial americano
A história de Porto Rico é a história viva e latente do colonialismo. Considerados cidadãos dos EUA desde 1917, porto-riquenhos são obrigados a pagar a maioria dos tributos pagos pelos habitantes da metrópole – seguridade social, impostos de importação e exportação, impostos federais sobre commodities, plano de saúde e um imposto sobre a gasolina -, mas não possuem nenhuma representação no Congresso. Embora quase 150 mil porto-riquenhos tenham servido como soldados estadunidenses, seus habitantes não podem votar nas eleições presidenciais (exceto nas primárias). Segundo estimativas recentes, 43,1% da população vive na pobreza – índice duas vezes maior do que no Mississipi, o mais pobre dentre os 50 estados. Tratam-se de estimativas porque os censos realizados nos cinco Territórios apresentam dados pouco elucidativos e consideravelmente menos rigorosos do que os feitos nos estados. No século XVIII, o princípio de no taxation without representation (“nenhuma tributação sem representação”) que expressava a insatisfação das Treze Colônias contra a administração colonial britânica, e que foi um dos motes para o processo de independência dos EUA, ainda hoje é lembrado como um dos elementos fundantes da primeira nação da América. Passados 250 anos, os EUA encontram-se mais uma vez no centro dessa discussão, mas dessa vez no extremo oposto da relação, em posição outrora ocupada pelos britânicos.
Além de um território estratégico, Porto Rico não raramente foi reduzida a uma mercadoria, um cálculo de investimento para lobistas e magnatas da indústria cujos interesses na ilha não correspondiam – e se chocavam – aos interesses e necessidades básicas de seus habitantes. Tal afirmação não carece de comprovação: quando o furacão Maria atingiu o país em 2017, deixando mais de quatro mil mortos, um prejuízo financeiro da ordem de 90 bilhões de dólares e mais da metade da população sem energia elétrica por mais de um ano, a resposta do governo federal foi fatalmente demorada e completamente desproporcional. O então presidente Donald Trump, mesmo não aprovando nenhuma medida de recuperação concreta, reduziu a dimensão da tragédia ao desacreditar o número de mortos, comparando-a aos efeitos do furacão Katrina, na Flórida – este sim uma “tragédia real” para Trump -, e declarou que a resposta ao desastre foi um “sucesso incrível”, o que gerou críticas do então governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló: “Nenhuma relação entre uma colônia e o governo federal pode ser qualificada de bem sucedida enquanto os porto-riquenhos carecem de certos direitos inalienáveis de que gozam nossos compatriotas nos Estados Unidos”.
Em entrevista concedida ao The New York Times em julho de 2020, a ex-secretária de segurança interna dos EUA, Eliane Duke, afirmou que após o furacão Maria o presidente Trump, que ano passado afirmou em suas redes ter sido ele próprio “a melhor coisa que já aconteceu a Porto Rico”, a teria questionado sobre a viabilidade de “vender a ilha” e de “alienar esse ativo”. Tais declarações e posições fazem ecoar uma das máximas de Pedro Albizu Campos (1891-1965), principal líder nacionalista e figura emblemática do movimento de independência de Porto Rico: “De acordo com os ianques, possuir uma pessoa o torna um canalha, mas possuir uma nação o torna um benfeitor colonial”.

Furacões e imperialismo têm encontrado destino em Porto Rico há séculos. Um ano após a empreitada dos EUA contra a Espanha, e a conseguinte captura das suas antigas possessões coloniais, outro ciclone de grande proporção devastou a cidade de Ponce, apresentando-se como o primeiro desafio para a administração da nova benfeitoria colonial estadunidense. Nenhum dinheiro foi enviado à ilha. A resposta do governo federal veio na criação de um leilão para angariar fundos e criar uma Junta de Caridade. Todavia, a ajuda foi destinada não às vítimas, mas a proprietários de terras, de tal modo que, para receber alguma ajuda, os trabalhadores tiveram que assinar papéis que os tornavam ainda mais dependentes e fragilizados, além de terem os salários reduzidos.
Desse momento em diante o novo pacto colonial começou a tomar forma, com as primeiras medidas econômicas e a estruturação de um poder político exercido de fora para dentro, concentrado nas mãos de uns poucos indivíduos, muitas vezes sem jamais terem pisado na ilha, que davam contornos ao destino de Porto Rico sem a mediação e o crivo dos mesmos órgãos legislativos pelos quais passavam as decisões tomadas na metrópole.
Um ano após a devastação do furacão em 1899, foram abolidas todas as moedas que circulavam em Porto Rico. O peso porto-riquenho, até então em paridade com o dólar, foi artificialmente desvalorizado, passando a valer 60 centavos de dólar. Da noite para o dia os porto-riquenhos perderam 40% de suas economias. Um imposto sobre a terra foi criado, forçando pequenos e médios proprietários a hipotecar suas terras em bancos estadunidenses. Em 1900, a junta militar que governava a ilha foi desfeita e Charles Herbert Allen foi apontado como o primeiro governador civil. O cargo para governador, escolhido diretamente pelo presidente dos EUA, tornou-se uma rápida e eficaz maneira para homens de negócios impulsionarem suas carreiras e construírem verdadeiros impérios industriais. Sem qualquer critério para a admissão, a não ser o próprio potencial propulsor do cargo para a criação de novos bilionários, passaram pelo posto homens sem a menor preocupação em esconder sua total ignorância a respeito de Porto Rico e seu povo.
Ex-deputado republicano, Allen inaugurou o primeiro governo civil em Porto Rico com vultosas bandeiras dos EUA cobrindo a mansão do governador – La Fortaleza. Tão logo assumiu o cargo, aumentou os impostos sobre propriedades, interrompeu empréstimos municipais e agrícolas, congelou fundos destinados à reparação de edifícios e construção de escolas, redirecionou o orçamento da ilha para subsidiar sindicatos agrícolas baseados nos EUA, emitiu contratos sem licitação para empresários estadunidenses e subsidiou estradas construídas pela empresa de seu pai em Massachusetts (com o dobro do custo). Apontou dezenas de compatriotas para cargos em seu governo, que também desfrutaram das possibilidades de crescimento em benefício próprio oferecidas por seus novos postos. Os relatórios enviados por Allen aos seus superiores nos EUA mais pareciam relatórios de negócios particulares do que assuntos de governo: “Porto Rico é realmente o ‘portão da fortuna’ para a riqueza futura […] O rendimento do açúcar por acre é maior do que em qualquer outro país no mundo”.
Após oito meses como governador, administrando seu próprio futuro e controlando praticamente todos os interesses econômicos da ilha, Allen renunciou. Imediatamente rumou para Wall Street, onde tornou-se vice-presidente do conglomerado J.P. Morgan e, com o apoio financeiro dos contatos firmados em Porto Rico, ergueu a maior empresa de refino de açúcar do mundo, a American Sugar Refining Company – hoje Domino Sugar –, que em 1907 já controlava 98% da capacidade de processamento de açúcar nos EUA. Em 1930, aliado a bancos estadunidenses, o monopólio de Allen havia convertido 45% de toda a terra arável de Porto Rico em plantações de açúcar; 80% de todas plantações de cana da ilha pertenciam a proprietários dos EUA. Seus aliados banqueiros possuíam controle sobre o sistema de correio, as ferrovias costeiras e os portos marítimos de San Juan. Allen deixou trilhado um caminho a ser percorrido por todos os que se interessassem em tornar-se magnatas da indústria em questão de meses. Com o passar dos anos, ocuparam o cargo homens de negócios perspicazes, mas governadores cada vez mais ineptos e ausentes, que passavam mais da metade do tempo fora da ilha, que não falavam espanhol, insensíveis às demandas e necessidades do povo porto-riquenho, a quem era direcionado desprezo público e declarado.
Até 1948, todos esses homens foram diretamente escolhidos pelo presidente dos EUA. Quando o governador Robert Hayes Gore disse à imprensa em 1933 que Porto Rico deveria tornar-se um estado da União, o Departamento da Guerra o interpelou furiosamente com a lembrança de que essa não era uma questão para debate público, mas reservada ao Departamento, ao presidente e ao Congresso: “o objetivo de nomear um governador americano, não um porto-riquenho, é precisamente para evitar esse tipo de armadilha política”. A temida armadilha da qual falavam era a possibilidade de um governo porto-riquenho que governasse para os porto-riquenhos, o que equivalia a perder uma ilha que funcionava como um degrau para o big business, uma base de inestimável valor para as políticas de contenção de movimentos revolucionários na América Latina, e ainda um grande laboratório com inesgotáveis possibilidades humanas obstaculizadas na metrópole.
Esta é a primeira parte de duas do artigo “Porto Rico e a formação do pacto colonial americano”. Clique aqui para ler a segunda parte.