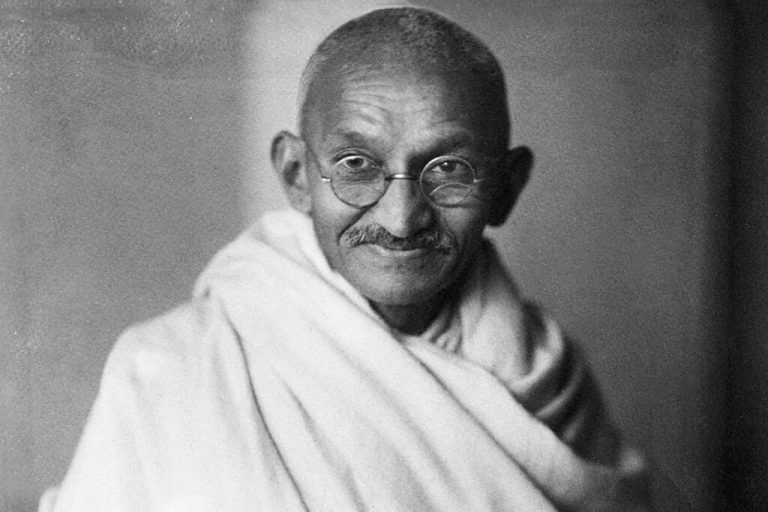Mãe e rainha de homens e escravos, veículo raivoso rumo à paz perpétua, o reino da vida ou da morte; o caminho para a sobrevivência ou a ruína. Clausewitz talvez deve ter pensado em algumas destas definições quando, abrindo seu Da Guerra, escreveu: “não comecemos por uma definição da guerra, difícil e pedante; limitemo-nos à sua essência, ao duelo. A guerra nada mais é do que um duelo em uma escala mais vasta”.
General prussiano, combatente aos doze anos, Clausewitz testemunhou a derrota em seu país em 1806, ao assistir a braveza com a qual lutava o exército de Napoleão. A derrota criaria uma certa obsessão no futuro general, que veria em Napoleão, ao mesmo tempo, um exemplo e um objeto de profundo ódio. Anotaria que o moral, isto é, o ímpeto com o qual os soldados combatiam, era uma poderosa arma; localizaria no espírito nacional o gérmen de tal moral e, ironicamente, num composto de zelo pela ideia de nação e fúria por Napoleão, abandonaria seu país em 1811, quando Bonaparte o submetera, se juntando ao Estado-Maior da Rússia.
210 anos após Clausewitz ajudar a formar as milícias populares que derrotariam Napoleão no gigante euroasiático, sua obra segue vigente, apesar de desprezada por muitos e criticada duramente por alguns poucos. A ideia da guerra como um duelo é um átomo que leva a algumas conclusões: que a guerra é sempre fruto da interação entre os atores, não obra magnífica do acaso; que a guerra é a continuação da política por outros meios, nunca um “ato de paixão se sentido”; que ela é “um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade” – atos e vontades estes sempre mediados pela interação entre nós e o inimigo, e pelos nossos objetivos políticos. Anotou que a guerra poderia ter dois tipos: “no sentido de que o seu propósito pode ser derrotar o inimigo – torná-lo politicamente incapaz ou militarmente impotente, forçando-o assim a assinar qualquer tratado de paz que nos agrade, ou meramente ocupar algumas das suas regiões fronteiriças, de modo que possamos anexá-las ou utilizá-las como moeda de troca nas negociações de paz.”
Na madrugada do último dia 24, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma “operação militar especial” na região do Donbass, no leste da Ucrânia, com o objetivo de “desmilitarizar” e “desnazificar” o país. A operação, que de acordo com o mandatário russo não tinha por objetivo dominar territórios, foi iniciada enquanto o Conselho de Segurança da ONU se reunia para discutir as tensões no país. Os representantes ucranianos denunciaram uma “invasão em larga escala” ao país – acusação que passou a percorrer por toda a imprensa –, mas em pronunciamento o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que os ataques focaram instalações militares, pediu calma aos seus cidadãos e instaurou a lei marcial, fazendo um chamado aos que estivessem dispostos a “defender o país” para que se apresentassem. O signo da “invasão total”, no entanto, permaneceria – não só nas manchetes da imprensa, mas também nas palavras OTAN.
Nesta sexta-feira (26), o presidente ucraniano falou em 137 mortos, entre civis e soldados, e 367 feridos. A ONU falou em 100 mil ucranianos refugiando-se desde o início das operações russas. De 2014 até maio do ano passado, se estimava o número de mortos na guerra no Donbass em cerca de 13 mil (de acordo com a ONU), dos quais 3,3 mil eram civis, 4,6 mil membros das forças ucranianas, 5,7 combatentes das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, além de algo entre 400 e 500 membros das Forças Armadas da Rússia (de acordo com o Departamento de Estado dos EUA). De acordo com dados do governo ucraniano de 2016, 1,6 milhões de pessoas haviam se refugiado em outras partes do país desde o começo do conflito no leste, em 2014. Tristes dados, todos; mas que nos fazem lembrar que a “guerra iminente” não começou ontem, apesar da pouca atenção que a guerra de oito anos mereceu enquanto se desenrolava no leste.
Lembrar-nos disso não deve só fazer aflorar sentimentos de solidariedade, tristeza ou desprezo por nossa hipocrisia manufaturada cotidianamente pelas ausências e presenças midiáticas. Deve também nos informar sobre aquelas interações mencionadas por Clausewitz. Num longo artigo (longo demais) de 29 de janeiro, escrevi: “há, de fato, uma dimensão geopolítica fundamental no conflito – mas que só pode se realizar numa realidade concreta de ‘conflito interno’ que diz respeito aos direitos e a representação das nacionalidades e minorias étnicas, organizadas e divididas regionalmente e hoje organizadas em repúblicas. Fundamentalmente, o leste quer a garantia de paz, dentro da Rússia ou não. As tendências mais avançadas e irredentistas – aquelas que não toleravam o governo central e desejavam avançar até Kiev – perderam espaço nas repúblicas, quer seja pelo andamento da guerra, quer seja por terem sido assassinadas em estranhíssimos atentados. Apesar de sua agressividade – aliás, precisamente por ela – Kiev sabe que seria impossível governar sobre o leste, a não ser por meio da expulsão e a repressão de uma boa parte da população civil. […] o governo em Kiev, ciente das enormes dificuldades que enfrentaria para governar o leste, está disposto a abrir mão desse território, contanto que isso seja feito de forma a tensionar mais a situação e garantir uma ampliação do apoio norte-americano (militar, incluindo a possibilidade de entrada na OTAN, mas também econômico). Para Kiev, interessa manter a posição de bastião pró-OTAN, ainda que isso se traduza em abrir mão do leste (que, de qualquer forma, com a situação ‘congelada’ nos termos do Minsk, não estava à sua disposição. O melhor presente que Kiev pode receber é uma ‘invasão’ russa nos territórios do leste). Aos Estados Unidos, em especial sob um presidente que busca reverter os passos tomados por Trump de ‘voltar-se para si’ (a política do America First, unilateralismo, as ameaças de deixar a OTAN e a cobrança de que os países europeus financiem mais a aliança, etc.), é fundamental confrontar a Rússia para manter a posição de subordinação do bloco europeu – isto é, é preciso bramar mais alto que o urso e ao mesmo tempo instigá-lo para reforçar os laços de dependência dos europeus com os norte-americanos. Nesse sentido, também a Biden interessa um avanço das tropas russas sobre os territórios do leste. […] É improvável que a Rússia ‘invada’ a Ucrânia no atual momento – e certamente, se o fizesse, a ‘invasão’ se limitaria ao leste, talvez até Mariupol, cenário bem distante dos mapas que pipocaram nos veículos internacionais, de uma invasão russa a partir de múltiplos pontos e multidirecional. Por outro lado, havendo algum tipo de provocação no Donbass, a Rússia quase certamente agiria; além da possibilidade de o território cair nas mãos dos ucranianos (portanto colocando-os na fronteira com a Rússia), seria um desastre para a retórica patriótica russa que Putin tem mantido – cada vez com contornos mais regressivos – assistir de longe à população civil do leste, boa parte da qual se considera russa, ser bombardeada. A ‘batalha’ sobre a Ucrânia, nesse momento, é sobre quem dará o primeiro passo; se as tropas ucranianas repetirão os bombardeios indiscriminados sobre o Donbass com as tropas russas na imediação ou se os russos marcharão sobre o leste. A nenhum interessa dar o primeiro passo: para os ucranianos e norte-americanos, significaria abrir mão do papel de agredidos; para os russos, vestir de bom grado a fantasia de agressor.”
Que os passos descritos tenham seguido, quase literalmente, entre os dias 17 e 22 de fevereiro – quando as lideranças das repúblicas populares do leste anunciaram ataques ucranianos contra a região, chamando uma evacuação em massa, seguida pelo reconhecimento das repúblicas pelo presidente Putin – não é tanto virtude do analista, mas antes prova de que todo conflito obedece a uma lógica; que “podemos prever a sua situação amanhã, com base no que ela é hoje. A guerra nunca irrompe de uma maneira totalmente inesperada, nem pode alastrar-se instantaneamente. Cada lado pode, portanto, avaliar bem o outro através do que ele é e do que ele faz, em vez de julgá-lo pelo que ele, rigorosamente falando, deveria ser ou fazer”, nas palavras do prussiano. Mas, como escrevia eu também no artigo, não é porque se chegou a um “impasse lógico” que o que sucede é a paz: “a lógica política não permite, no momento, que nenhum dos atores avance a guerra. O problema, é claro, é que em toda a história, e também na guerra, existem fricções. […] Basta um ato sem lógica para que todos os outros sucedam.”
É dizer: não é porque a nenhum dos atores interessava dar o próximo passo que o próximo passo não seria dado. À denúncia, no dia 17, dos bombardeios no leste da Ucrânia – que foram o “passo” necessário para o reconhecimento das regiões, que por sua vez possibilitaram os ataques precisos de ontem – se seguiu uma guerra de versões e acusações entre ucranianos, norte-americanos, rebeldes do leste e russos. Ao passo que rebeldes e russos acusavam os ucranianos pelos bombardeios – coisa que não consiste novidade em um território que, segundo a OSCE, assistiu a quase 94 mil violações de cessar-fogo só em 2021 –, ucranianos e norte-americanos acusavam os russos e os rebeldes de fazerem uma operação de bandeira falsa. À versão destes últimos há o favor dos vídeos divulgados pelos líderes das repúblicas no dia 18 terem sido gravados dois dias antes.
Assim como antes, ainda é possível, compreendendo a natureza das ações de hoje, prever as intenções de amanhã. Recapitulemos alguns pontos:
– Ao golpe contra o presidente Yanukovitch, em 2014, sucedeu o referendo da Crimeia e a posterior adesão à Rússia (considerada uma anexação ilegal no ocidente, em que pese ocorrida em um território transferido ilegalmente para a Ucrânia em 1954, e baseada em um referendo que teve cerca de 80% de participação, e 97% votos a favor da adesão à Rússia). Obviamente, o imbróglio legal era uma mera formalidade: de maioria russa, a península de Crimeia havia votado majoritariamente em Yanukovitch, o presidente derrubado em 2014. Para a Rússia, o fundamental era assegurar a soberania Crimeia frente a um novo governo de corte claramente antirusso e pró-europeu – historicamente estratégico, tendo sido dominado por gregos, bizantinos e otomanos no passado, o território era a única saída da Rússia ao Mar Negro desde o século 18 (e lar da Frota do Mar Negro).
– Os territórios do leste, que se rebelaram em 2014, não eram tão importantes quanto a Crimeia. Constituíam, para a Rússia, uma zona tampão; mas para tanto não era necessário uma ocupação russa. À Ucrânia, a continuidade da guerra na região asseguraria o fluxo de apoio financeiro do ocidente, e traria peso às solicitações para que o país passasse a participar da OTAN. Aos Estados Unidos, o conflito garantia a possibilidade de pressionar os europeus, especialmente os da Europa Central, a se conformarem com o avanço da OTAN rumo ao leste. Aos europeus, a guerra entre as repúblicas populares e o governo ucraniano não interessava em nada: era só um elemento desestabilizante do fluxo de gás, que sai da Rússia e passa pela Ucrânia até chegar à Europa, e uma forma de os EUA aumentarem sua ingerência.
– Daí que os Acordos de Minsk tenham sido apoiados pela Rússia, Ucrânia, Alemanha e França. Se o cessar-fogo não fosse implementado de fato (como de fato não foi), ao menos um congelamento relativo do conflito levaria a um cenário de maior estabilidade para o gás russo exportado para a Europa. Para a Rússia, a situação permanecia intocada: sua zona tampão estava de pé, conflito congelado ou não; se o cessar-fogo se confirmasse, o acordo previa autonomia para Lugansk e Donetsk (dentro da Ucrânia) e eleições especiais. Para a Ucrânia, o fundamental é que os acordos foram assinados em dois momentos em que as tropas rebeldes avançavam; mas um conflito relativamente congelado ainda serviria para as solicitações de apoio ocidental. Os acordos de Minsk, instrumentos da paz possível, só não interessavam aos EUA. Daí que a então Secretária Assistente de Estado para Questões Europeias e Euroasiáticas dos EUA do governo Obama (e hoje sub-Secretária de Estado para Questões Políticas do governo Biden) Victoria Nuland tenha dito, de forma tão desbocada, durante uma conversa telefônica vazada com o embaixador dos EUA na Ucrânia, Geoffrey Pyatt: “Foda-se a União Europeia”.
– Essa organização de interesses fundamentalmente não mudou desde então. O que mudou foi o contexto: tendo enfrentado os duros anos da presidência Trump (muito pouco entusiasmado com a manutenção da União Europeia e com a OTAN), além de um caos político em cada um dos países do bloco (e no bloco como um todo, sendo o Brexit o maior exemplo disso), a vontade dos políticos europeus de se agarrarem à administração Biden só não seria superada pela vontade da administração Biden de agarrar os políticos europeus – situação que só se tornou mais grave, ironicamente, com a partida de Angela Merkel do governo alemão, em dezembro do ano passado.
– Apesar da resistência de Macron (e do caos de Olaf Scholz, seja lá o que ele esteja fazendo), nos últimos meses assistimos a uma pressão contínua de Biden contra os europeus e os ucranianos, absolutamente favorável à guerra, e o acompanhamento, pelos grandes veículos imprensa, de tal demanda. É curioso que essa pressão tenha se focado tanto na presença militar russa nas fronteiras da Ucrânia (é dizer, em território russo, apesar das confusões da ministra de Relações Exteriores britânica, Liz Truss), já que um artigo de Steven Pifer, membro do Partido Democrata e ex-embaixador norte-americano na Ucrânia (na administração Clinton), dizia em 2017 que “se o Kremlin quisesse paz”, Moscou “poderia posicionar e reforçar as unidades militares russas de forma visível no lado russo da fronteira com a Ucrânia. O exército ucraniano entenderia que qualquer ofensiva sobre o Donbass levaria a um combate com essas unidades”. Se Biden concordasse com seu companheiro Democrata, não teríamos passado os últimos meses ouvindo falar de uma “invasão iminente”.
Feita esta breve contextualização, podemos proceder para a lógica da guerra hoje. Os ataques russos às instalações ucranianas, em diversas regiões do país, cumpriram duas funções: primeiro, incapacitar militarmente a Ucrânia, desarmá-la – na quinta, Moscou disse ter destruído 11 aeroportos e 14 baterias defesas antiaéreas; na manhã desta sexta, disse ter destruído 118 alvos militares e derrubado cinco caças. Como escreveu o prussiano, “se um dos lados não puder desarmar totalmente o outro, o desejo de paz aumentará e diminuirá em qualquer dos lados de acordo com a probabilidade de novos êxitos e com a quantidade de esforço que esses êxitos exigirão. Se a intensidade destes incentivos for a mesma em ambos os lados, os dois resolverão a sua disputa chegando a um meio termo. Se o incentivo aumentar num dos lados, deverá diminuir no outro. Ocorrerá a paz, desde que a sua soma total seja suficiente – embora o lado que tiver o menor anseio pela paz naturalmente virá a obter o melhor acordo.” Este “incentivo” russo obviamente é dirigido ao presidente Zelensky e seu governo: o que o ataque demonstrou foi a infinita superioridade militar russa, e o absoluto abandono dos europeus e norte-americanos em relação à Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, antes cão raivoso da guerra, se conformou em dizer que “espera que a Ucrânia possa resistir” e que os ucranianos “estão nos pensamentos de todos no Reino Unido” quando o ataque começou – este era o mesmo mandatário que há pouco enviava e conclamava o envio de mais armamento à Ucrânia. O norte-americano Joe Biden, outro templário antirusso, se limitou a colher assinaturas por mais uma condenação internacional e a proclamar novas sanções – que muito podem ferir a Rússia, mas não ao ponto de desarmá-la, como a Ucrânia periga se encontrar. O recado belicoso de Putin a Zelensky era que, para preservar-se, há de se sentar com ele, não se proteger com os norte-americanos. A esta altura, com o presidente ucraniano aparentemente encurralado em Kiev, a negociação já deve se dar em termos de uma saída de Zelensky do país e a instalação de um governo provisório.
Por óbvio, arrancar as concessões de um governo combalido não é o objetivo último. A partir delas, Putin poderia forçar também Biden à mesa de negociações – velha ferramenta de madeira que por vezes impede aquelas feitas de aço e que, até o momento, tem sido plenamente ignorada como opção pelos norte-americanos. A vontade de Putin não era, nem poderia ser – pelos custos políticos e econômicos, mas também porque 190 mil tropas não são suficientes para tanto –, apoderar-se do território da Ucrânia. E a guerra, o duelo em grande escala, é, como já dito, “um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade”.
Mas há um problema estratégico: uma concessão arrancada de Zelensky ou a instalação de um novo governo não necessariamente levaria a discussões com Biden e a Europa; ela poderia ser simplesmente ignorada pelo turbilhão propagandístico, tal qual a guerra dos últimos oito anos e os desejos militaristas de Biden têm sido. No caso da instalação de um governo provisório, este provavelmente simplesmente não seria reconhecido pelo ocidente. Se este for o caso, se criaria um certo “vazio de sentido” na guerra (o sentido político da ação militar russa se esvaziaria, e a única forma de “recuperá-lo” seria por novas ações militares).
A única moeda de troca russa restante seria, portanto, a ocupação do território. Neste caso, não seria absurdo imaginar uma mobilização dos EUA e os países da OTAN, visto que as únicas outras saídas para Biden seria ou manter as coisas mais ou menos como estão – colhendo a impopularidade dessa decisão e o caos financeiro que seguirá em escala planetária –, ou negociar com os russos – o que também afeta sua enfraquecida popularidade, mas seria um passo para resolver os problemas financeiros.
Em resumo, o ganho político em pequeno prazo do Kremlin pode ser subjugado por uma perda a médio prazo. As condições estariam desfavoráveis para os russos, que tão longe teriam ido para, no máximo (e provavelmente nem isso), conseguir aquilo que sempre desejaram: uma Ucrânia fora da OTAN, não mais servindo de cabeça de ponte ocidental. Este no melhor dos cenários para os russos. Se Biden, por outro lado, adotasse a primeira postura, a perda russa seria ainda maior, podendo implicar em um conflito de maior duração no país.
Lembremos: a guerra não é um ato sem sentido, uma paixão que explode de uma hora para outra, mas um conjunto de interações, informadas pela política. Muito mais do que 57 ou 13 mil vidas estão em jogo, e não há só um jogador movendo peças sobre o tabuleiro. A frequência com que alguns filósofos tentaram opor de forma absoluta a política como prática vocabular à guerra talvez tenha colaborado para criar um mundo em que tais coisas, indissociáveis por natureza, aparecem de fato tão desassociadas; movimento este que inverte as palavras em guerras, as guerras em palavras. A tentativa de expandir a OTAN, apesar das promessas da década de 90; as dezenas de invasões militares norte-americanas (normalmente encobertas por palavras mentirosas) por todo mundo; a instalação de um governo golpista, de caráter radicalmente chauvinista e nacionalista na Ucrânia, com apoio e coordenação dos EUA; a guerra dos últimos oito anos contra o leste ucraniano; a “diplomacia” (se é que disto podemos chamar) desejosa da guerra de Biden; todos estes são atos de guerra ou preparatórios, ainda que sobre eles não se fale. Aliás, que nada se tenha falado deles: aqui está outro ato num longo contínuo da guerra. As operações militares russas de quinta-feira, a aparente ampliação destas hoje e a provável ampliação delas amanhã, são e serão atos terríveis – mas só podem ser considerados mais terríveis que os anteriores se partirmos de uma concepção em que as guerras se desenvolvem no vácuo. Injustificáveis para a humanidade, justificados são, cada um destes atos, por todos e para todos os homens; em cada palavra pela guerra, em cada silêncio sobre elas, na guerra em si. A guerra segue sendo a política por outros meios.