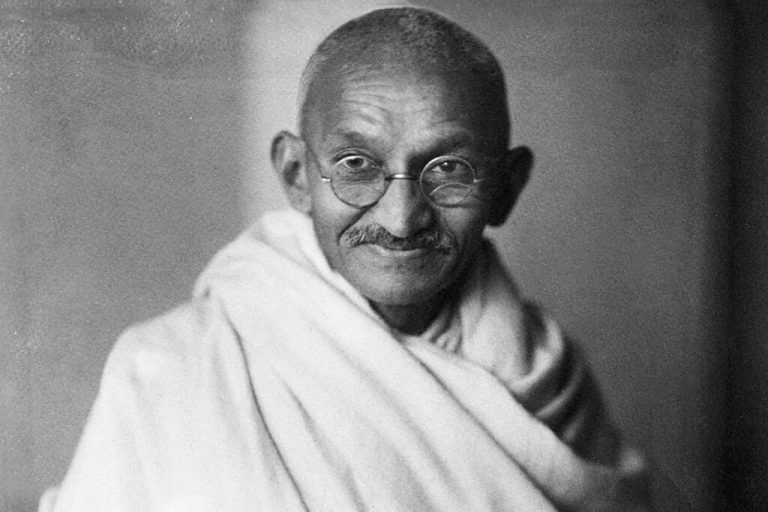Em seus Escritos estratégicos, o professor Wilson do Nascimento Barbosa nos fornece uma observação importante: “Para a compreensão marxista, o conflito é um fenômeno objetivo. Isto é, o conflito se dá, queiram ou não as partes nele interessadas. Para o marxismo, o conflito é o fenômeno primário; e a consciência do conflito, o fenômeno derivado. Não existe a possibilidade de ‘quando um não quer dois não brigam.’ Nesse caso, a recusa a lutar não é uma escolha plena, é apenas a escolha da capitulação sem condições”.
Duas semanas se passaram desde que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciou sua guerra contra a Ucrânia. Guerra relâmpago que, no primeiro dia, colocou a defesa ucraniana de joelhos, o conflito vai paulatinamente se esticando, abrindo a possibilidade de se converter em um atoleiro para a Rússia, nas dimensões militar, econômica e, principalmente, política.
A face mais odiosa da propaganda não é, nem nunca foi, sua inerente rejeição à verdade, nem seus efeitos imediatos, ideológicos; a hipocrisia típica das gravatas ou a confusão mental dos povos. São os efeitos práticos, derivados destes primeiros: que o apelo de paz por vezes esconde a sede da guerra, e assim nos vai levando para ela; que o heroísmo muitas vezes é a sombra visível da covardia, que despeja os corpos – dos outros – para sustentar as honrarias. Exemplo óbvio tivemos com um deputado que, solidário publicamente à resistência ucraniana para as câmeras, em áudios privados ansiava o fim da guerra para tomar as mulheres – “fáceis, porque são pobres”, segundo ele – como espólios. Mas não é a esse engravatado – que de tão pleno em propaganda elegeu-se, como outros, como um não-político na onda da “nova política”; que de tão adicto à mentira finge-se menino do alto de seus 30 e tantos anos – de que quero tratar aqui.
Me refiro àqueles cujas ações podem, de fato, levar a um escalar do conflito, já suficientemente grave. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por exemplo, em um pronunciamento ao Parlamento inglês na última terça-feira (8) fez recordar de seus tempos de ator, imitando Churchill e dizendo: “Não nos renderemos e não perderemos. Lutaremos até o fim, no mar, no ar. Seguiremos lutando por nossa terra, custe o que custar, nos bosques, nos campos, nas costas, nas ruas”. Algumas horas antes, em entrevista à rede de TV norte-americana ABC, comentou os termos colocados pelos russos para um acordo que desse fim à guerra. Sobre as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e o reconhecimento da Crimeia, disse que “nós podemos discutir e achar um compromisso sobre como esses territórios irão viver daqui em diante” (essa “discussão” já foi feita em 2014 e 2015, nos termos dos Acordos de Minsk). Sobre a reivindicação de que a Ucrânia garanta sua neutralidade em relação à OTAN, declarou que “eu relaxei sobre essa questão há muito tempo, depois que eu entendi que a Otan não está preparada para aceitar a Ucrânia”. Apesar de sua abertura em “discutir e achar um compromisso” e seu “relaxamento” sobre a OTAN, Zelensky disse que as exigências russas, colocadas pelo porta-voz Dmitri Peskov, eram um “ultimato”, “e não estamos preparados para ultimatos. Estou pronto para dialogar, não para capitular.” A perturbação humorística é evidente: primeiro, o ucraniano indica, fundamentalmente, concordar com todos os pontos exigidos pelos russos; depois, diz que não aceita ultimatos – cujo conteúdo é igual ao que vinha sendo exigido desde dezembro, apesar dos russos agora efetivamente controlarem território ucraniano; por fim, diz heroicamente que lutará em todos os cantos e não se renderá. No dia seguinte, surpreende de novo, pedindo – mais uma vez – por uma zona de exclusão aérea. Em qual das oscilações deveria crer um negociador bem intencionado?
Há também Biden, que finge se escandalizar com a guerra e diz se tratar de uma “batalha entre a democracia e a autocracia”. Sob o pretexto de que a Ucrânia “deveria ser soberana para escolher entrar na OTAN”, Biden fechou as portas para qualquer diálogo até a invasão russa, e agora trabalha ativamente – como Zelensky – para que o conflito persista e para que os russos só consigam uma saída ao custo de muitas baixas civis. Isto é, em defesa da “soberania”, Biden reserva para si, como um soberano – sem que a Ucrânia sequer esteja na OTAN –, o direito de, na prática, jogar com o país e com seu povo no tabuleiro geopolítico, como se peões de xadrez fossem. Mas há algo ainda mais profundamente ridículo na frase “soberania para se unir à OTAN”: a OTAN é, e sempre foi, um instrumento contra a soberania das nações, moldada à forma do império romano, como Maquiavel sugeriu em seus Discursos quando tratou das formas pela qual uma república pode se expandir: “a associação com aliados, guardando contudo o comando da aliança, a sede do império e a glória da conquista: é o que sempre fizeram os romanos. […] os aliados não percebiam que iam aceitando o jugo romano ao preço do seu trabalho e do próprio sangue”. Lar de incontáveis bases norte-americanas, exemplo maior é a Alemanha, levada, nesta crise ucraniana, a trabalhar ativamente contra seus próprios interesses: no começo de fevereiro, enquanto o chanceler alemão Olaf Scholz tentava se esquivar de tratar da questão do gasoduto Nord Stream 2 – um projeto conjunto entre Rússia e Alemanha – Biden dizia claramente (e ao lado de Scholz) que “se a Rússia invadir, isto é, tropas ou tanques cruzando a fronteira da Ucrânia de novo, não haverá mais Nord Stream 2. Nós colocaremos um fim nele.” Uma repórter perguntou ao mandatário norte-americano como ele faria isso, já que o projeto estava sob controle alemão: “Eu prometo que seremos capazes de fazê-lo”, respondeu Biden com um sorriso. Estava certo. Quanto aos princípios democráticos dos Estados Unidos, não precisamos recorrer a outras partes do mundo e da história: a própria possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN só foi reaberta em função de um golpe que deu liberdade para que funcionárias do alto-escalão norte-americano decidissem, em conversas telefônicas [1], quem deveria ser o próximo primeiro-ministro do país – mesmo pesquisas financiadas pela USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento) mediam uma maioria de ucranianos contra a entrada na OTAN até abril de 2014.
Por fim, há Putin, que confrontado com interlocutores que se negavam a dialogar por uma solução – primeiro com os falidos acordos de Minsk, depois com a escalada de tensões recentes entre o final de 2021 até o momento atual – decidiu iniciar a guerra. Aqui cabe recordar o ditado mencionado por Barbosa: “quando um não quer, dois não brigam”. A situação que assistimos nos últimos meses é um pouco mais complexa: o que acusa a contraparte a querer brigar é, de fato, quem busca estimular a briga; ao passo que o que desfere socos é quem preferia (ou deveria preferir) não fazê-lo. Como alguns analistas têm apontado – até liberais –, a entrada da OTAN na Ucrânia, isto é, nas portas da Rússia, seria inaceitável a qualquer governo russo. Os Estados Unidos estão cientes disso, mas trabalharam para manter a tensão na Ucrânia alta ao longo dos anos e, mais recentemente, já sob Biden, para elevá-la a um tal ponto em que, com a guerra, a Europa fosse obrigada a um distanciamento da Rússia, sem implicar numa maior independência europeia mas, ao contrário, em uma submissão mais restrita aos EUA.
A estratégia na guerra
O lançamento da “operação militar especial” da Rússia contra a Ucrânia, há duas semanas, foi a senha para consolidar essa situação. Fundamentalmente, a Rússia não tem muito a conquistar na Ucrânia, especialmente em um cenário em que os europeus dela se afastam. Como os objetivos eram mínimos – dar solução à questão das Repúblicas Populares e da Crimeia e arrancar um comprometimento de neutralidade em relação à OTAN – os russos optaram por buscar uma vitória fácil, por meio de uma guerra rápida e com poucas baixas civis. O melhor cenário seria desarmar a Ucrânia e chegar a Kiev em uma tal velocidade que forçasse Zelensky a aceitar as condições russas ou, em um outro cenário, estabelecer um novo governo que, embora não fosse reconhecido pelo Ocidente, permitiria uma saída rápida do terreno ucraniano. O tempo, portanto, era o principal inimigo de Putin.
Absolutamente comprometido com os norte-americanos (apesar destes pouco se importarem com os ucranianos), Zelensky adotou uma tática que, embora condenada por muitos, tem se mostrado eficaz: mobilizou civis para a defesa (inclusive com o ridículo chamado à produção de molotovs), avançou os soldados para as zonas fronteiriças de onde os russos avançavam (ao leste, norte e sul) e comprometeu áreas civis com material bélico pesado. Nada disso seria suficiente, militarmente, para impedir um avanço russo, é evidente; mas impõe a Putin a escolha de aumentar muito as baixas da guerra se quiser avançar.
Enquanto isso, Biden pressiona na retaguarda russa. Com uma escalada de sanções – que já incluíam um bloqueio de alguns bancos russos do sistema SWIFT e o congelamento de parte das reservas russas no exterior, e nessa semana passaram a incluir um banimento à importação de petróleo, carvão e gás natural russo – o mandatário norte-americano espera criar uma crise interna; econômica, é claro, mas fundamentalmente política. É óbvio que a justificativa de que pretende “incapacitar a Rússia militarmente” por meio das sanções é retórica barata: o fundamental é criar indisposição por parte da burguesia russa em relação a Putin e, possivelmente, a médio prazo, das próprias massas trabalhadoras da Rússia.
Aumentar os custos da guerra na Ucrânia – militar, econômica e politicamente, ao custo de muitos civis; atrasar os avanços russos tanto quanto seja possível; fomentar uma crise na retaguarda; disso se tratam as posições norte-americanas hoje, que buscam forçar uma derrota a longo prazo a Putin – não militar, o que é impossível, mas político-econômica. No caso dos russos chegarem a Kiev – o que deve ocorrer, mais cedo ou mais tarde – provavelmente se desenvolverá algum tipo de guerra irregular (a partir de Lviv e da Polônia), com a preponderância de táticas como sabotagem e terrorismo. Este cenário impossibilitaria uma Ucrânia estável pós-guerra e esticaria os custos militares, econômicos e políticos, com a Rússia tendo de sustentar o novo governo [2].
Aqui valerá outro ditado, muito comum entre os talibãs, que dizia que os norte-americanos tinham o relógio, mas eles o tempo. Será exagero dizer, hoje, que os norte-americanos têm o tempo na questão ucraniana – mas não seria dizer que Putin talvez nem relógio tenha. A Ucrânia, é claro, não é o Afeganistão – mas tem provado que tampouco é a Geórgia. E os norte-americanos parecem ter tirado muito mais do que soldados de Cabul.
A grande estratégia
Alguns analistas têm observado a guerra na Ucrânia com mais otimismo, olhando à questão pelas lentes da grande estratégia. O conceito de grande estratégia inclui os objetivos nacionais não só do ponto de vista da guerra, mas também em tempos de paz; diz respeito não só ao militar, mas também ao diplomático, econômico, etc.; trata não só das ações externas, mas também da situação interna. Em resumo, trata-se de olhar à situação em uma escala maior, a nível temático, geográfico e temporal.
Os argumentos nesse sentido via de regra se concentram na aproximação entre Rússia e China. Tal aproximação não só asseguraria um crescimento mútuo, como também a perspectiva da criação de um novo bloco geopolítico em disputa com os Estados Unidos. Aponta-se, por exemplo, para como a guerra da Ucrânia e a decorrente aproximação sino-russa seria uma pedra no sapato para qualquer tentativa de détente ao estilo Kissinger, isto é, a “diplomacia triangular” dos anos 70 por meio da qual os Estados Unidos conseguiram enfraquecimento soviético por meio de uma reaproximação com a China. A lógica aplicada hoje não se daria, é claro, contra a Rússia, mas com ela, e contra a China.
Quanto a isso, vale a pena citar um breve trecho de um artigo de Eugene Rumer e Richard Sokolsky no Carnegie Moscow Center: “A diplomacia triangular de Kissinger foi bem-sucedida por duas razões. Primeiro, embora muitos ainda duvidassem, ele reconheceu e aproveitou o racha entre os dois poderes comunistas [URSS e China] depois dos conflitos nas fronteiras em 1969. Mas ele não criou o racha entre Moscou e Pequim, que tinha raízes nas suas diferenças ideológicas e ambições geopolíticas. Na época da viagem secreta de Kissinger a China, em 1971, os dois [países] já eram duros inimigos há anos. Pequim queria melhores relações com Washington como um contrapeso ao poder soviético.
Segundo, Moscou queria uma abertura com Washington para abrandar o duplo fardo da corrida armamentista com os Estados Unidos e o impasse com a China. Nenhuma das condições existe hoje.
A noção de que os Estados Unidos podem atrair Moscou a se alinhar com Washington ao invés de Pequim ignora as motivações que cimentam a parceria sino-russa: eles compartilham uma relação profundamente antagônica com os EUA e querem frustar o que consideram suas ambições hegemônicas auxiliadas pela [noção de] promoção da democracia e uso unilateral do poder militar.”
Isto é; uma estratégia de deténte usando da Rússia já era difícil, ao menos a partir de 2014; e a guerra na Ucrânia e a atual situação não são, portanto, uma “grande virada” geopolítica nesse sentido, mas a consolidação de uma tendência.
De qualquer maneira, a aproximação de fato tende a fortificar um novo bloco, e pode significar uma oportunidade para ambos os países. Mas gostaria de apontar alguns problemas possíveis nessas relações, levando em consideração precisamente a “escala” do debate colocado sobre grande estratégia:
1 – As relações comerciais sino-russas, precisamente por serem uma espécie de “combinação perfeita” (no sentido de que a Rússia é uma grande produtora de commodities e a China um avançado poder industrial com muitas bocas e máquinas a alimentar) trazem possíveis contradições na forma como se darão as relações econômicas; se será estabelecida uma relação de dependência (e, se sim, até que ponto) ou se a cooperação por parte da China tomará um caráter excepcional. Neste aspecto, em um cenário de aumento internacional do preço do petróleo em dólares, a China se beneficiará enormemente de um vizinho sancionado e disposto a comercializar em rublos-yuan. Não se afastar do dólar manterá o yuan em condições muito favoráveis em relação ao rublo, ao passo que, sancionados, os russos dependerão enormemente da importação da manufatura (possivelmente sobre precificada) chinesa. Até que ponto Moscou se disporá a esse tipo de configuração, e até que ponto os chineses estariam dispostos a tomar uma posição de amparo em relação aos russos (em termos de desenvolvimento de infraestrutura, mas especialmente de indústria, perdendo assim parte de sua “vantagem” econômica), é algo que ainda veremos. Curiosamente, cria-se uma situação em que, em relação à Rússia, a manutenção do dólar como referência monetária é benéfica politicamente a Washington e economicamente a Pequim. Evidentemente, do ponto de vista do “interesse nacional russo”, essa situação seria terrível.
2 – Nessa linha, haveria uma manutenção (se não um aumento) das sanções norte-americanas e europeias contra a Rússia, que tomariam – é preciso nunca esquecer – um sentido político interno no país. Fundamentalmente, a China estaria diante da possibilidade de empanturrar-se economicamente com o pote de mel, com o ônus de possivelmente lidar com uma instabilidade russa, ou ajudar o fortalecimento do que foi, historicamente, um grande competidor geopolítico seu. Na “aproximação” também há, em certa medida, a possibilidade de “dividir e conquistar”, que orientou Kissinger, sempre disposto a conversar com os chineses, mas também Kennan e Nitze, com uma postura mais agressiva em relação à Rússia a partir da Europa.
É claro que aqui faço um exercício sob o espírito da guerra absoluta, elevando a hipótese à última potência para traduzir sua lógica. No mundo real, as instabilidades serão mais brandas, o mel menos doce, o fortalecimento mais restrito; além do fato de que ainda há por resolver a complexa situação da dependência europeia no gás russo. Mas a notícia de que os chineses relaxaram seu controle da taxa de câmbio para permitir uma queda do rublo frente a yuan (isto é, para aproximar mais o valor da conversão rublo-yuan com o valor do rublo nos mercados internacionais) é um indicativo de que os grandes ganhadores nesta reaproximação são e serão os chineses.
Por fim, gostaria de retornar à “escala” da estratégia para pensar em sua interação com a grande estratégia, e depois olhar em uma escala ainda maior.
1 – É importante notarmos que, mesmo nas visões mais otimistas, a situação militar na Ucrânia pode influenciar enormemente o que seria uma “grande estratégia” russa de se mover em direção ao oriente. Em um cenário em que os EUA e os países da OTAN buscam criar uma situação de instabilidade permanente na Ucrânia pós-guerra, as variáveis que expûs – a degradação do rublo, a pressão interna – aumentariam consideravelmente. Em uma entrevista à MSNBC, a ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, chega a comparar a ida de voluntários militares à Ucrânia com os voluntários internacionalistas que lutaram contra Franco na Espanha: “a ideia de uma Brigada Lincoln [brigada internacionalista de norte-americanos formada majoritariamente por comunistas que foram combater na Espanha] para a Ucrânia, eu sei, foi discutida. Pode ser que algumas pessoas acabem indo à Ucrânia para ajudar a combater os russos. Não acho que é uma boa ideia que seja um esforço apoiado pelo governo. Penso que as pessoas que forem devem ter claro que estão indo por conta própria”. Mais à frente, cita o Afeganistão: “os russos invadiram o Afeganistão nos anos 1980. E apesar de nenhum país ter entrado [na guerra], eles certamente tiveram muitos países fornecendo armas e assessoria e até alguns conselheiros daqueles que foram recrutados para lutar contra a Rússia. Não acabou bem para os russos. Houve outras consequências não intencionais, como sabemos. Mas o fato é que uma insurgência muito motivada, financiada e armada basicamente expulsou os russos do Afeganistão.” As escolhas de exemplos e palavras são curiosas: em nenhum momento a ex-candidata presidencial lembra que, na Espanha, o governo norte-americano esteve com Franco até os anos 1970, nem que aqueles que financiaram, armaram e assessoraram os mujahidin afegãos foram os Estados Unidos – levando à “consequência não intencional” da ascensão de grupos radicais, tal qual o Talibã. “Obviamente”, diz Clinton, “não deveríamos apostar nas similaridades, porque o terreno, o desenvolvimento nas áreas urbanas, etc., é muito diferente. Mas penso que é um modelo ao qual as pessoas estão olhando agora. E se houver armamento suficiente para entrar [no país] – e ele deve conseguir entrar ao longo de algumas das fronteiras entre a Ucrânia e outras nações – para manter os ucranianos, tanto os militares quanto os soldados voluntários civis abastecidos, isso pode continuar a impedir a Rússia”. Uma reportagem no Washington Post, por sua vez, diz que “como um primeiro passo, os aliados da Ucrânia estão agora planejando ajudar a estabelecer e apoiar um governo no exílio, que poderia dirigir operações de guerrilha contra ocupantes russos, de acordo com vários oficiais dos EUA e europeus. As armas que os Estados Unidos providenciaram ao exército ucraniano, e que continuam a chegar no país, seriam cruciais para o sucesso de um movimento insurgente, dizem os oficiais.” Aumentar esse fluxo de armas, é bom que se diga, custa muito menos aos Estados Unidos do que custará à Rússia enfrentá-las: nos acostumamos a falar em como o complexo industrial-militar norte-americano busca aumentar incessantemente seus lucros, esquecendo-nos talvez que, à medida que lucra, as armas produzidas chegam em algum lugar. Que faria a Rússia em um cenário desse? E a China?
2 – “Aumentando a escala” da análise ainda mais, é importante recordar-nos das diferenças mais básicas entre Estados Unidos, Rússia e China, levando em conta a possibilidade de um mundo dividido em dois blocos. Um dos fatores que possibilitaram a ascensão e a manutenção do império norte-americano foi sua posição geográfica: um país grande, banhado por oceanos dos dois lados, sem grandes competidores nas suas fronteiras. Com esses elementos, os Estados Unidos puderam passar ilesos durante a Primeira Guerra, consolidando sua influência sobre o Caribe e a América Latina enquanto vários estados europeus digladiavam. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos tinham consolidado, além dessa posição geoestratégica especial, a influência não só sobre seu “pátio traseiro” (América Latina e Caribe), mas também sobre o dianteiro – a Europa –, além de ter conseguido avançar sua influência em algumas regiões asiáticas e no Oriente Médio. Nem a Rússia nem a China têm uma situação tão favorável, sem nenhum competidor ao longo das fronteiras – de fato, historicamente estes dois foram competidores – e apesar de sua influência econômica crescente na América Latina, não têm a preponderância político-militar dos EUA na região. Especial atenção nos próximos anos será dada certamente dada à Índia, com seu histórico de tensões com a China e sua enorme população. Um outro fator é o dólar. Em que pese a interdependência entre China e EUA neste aspecto, com os chineses tendo uma quantidade gigantesca de dólares ou ativos dolarizados em suas reservas internacionais, a hegemonia do dólar permanece – sustentada por essa “influência” especial mantida em quase todo o mundo, e assegurada pelo poderio militar –, com só um país no mundo sendo capaz de imprimi-los.
Todos estes aspectos devem nos fazer lembrar sempre que, em que pese as guerras, as ascensões e quedas, os destroços e as guerrilhas, as crises e disputas, os Estados Unidos seguem sendo uma potência muito forte. É um império decadente, é verdade; mas talvez valha a pena terminar este artigo recordando mais um ditado, muito repetido nestes dias pelo professor Héctor Luis Saint-Pierre: “não há nada mais perigoso do que um império decadente”.