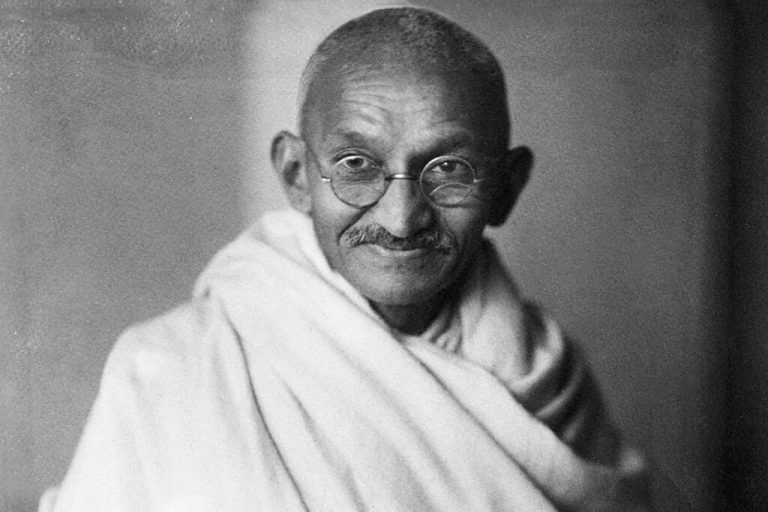Os pais se conheceram no chão de fábrica, na Alpargatas, uma das maiores empresas da indústria calçadista do Brasil. A mãe, Maria, era uma tecelã vinda do interior de São Paulo. O pai, Antônio, um operário pernambucano formado no SENAI. Vivian Mendes nasceu em Guaianases, no extremo leste de São Paulo, em 1981, e cresceu em contato com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) de seu bairro, organizadas pela Igreja Católica, nas quais sua mãe era uma liderança. “Ali em nossa região, em Guaianases, essa influência das CEBs, da Teologia da Libertação, sempre foi muito forte”, conta. “Essa minha formação inicial é bem clássica desse período; uma mãe liderança de Comunidade Eclesial de Base e um pai metalúrgico”.
Foi sob essa influência dupla que Vivian foi formando suas concepções na juventude: pela Igreja, com as discussões sobre a ditadura, as torturas, os esquadrões da morte; pelo pai, com as discussões sobre a situação dos trabalhadores e o movimento sindical. “Lembro do meu pai dizendo que como operário ele não podia fazer hora-extra, porque hora-extra interessava ao patrão, que não contratava os funcionários precisos, que isso era errado, que nunca faria hora-extra”, conta. “Ainda que minha família não fosse de partido, tinha ali uma consciência de classe que era bastante presente, bastante viva, nos anos 80 e 90”.
Formada em processamento de dados no ensino técnico, começou a trabalhar aos 16, em 1997. Em 1999, ingressou na Universidade Estadual Paulista em Bauru, no interior de São Paulo, para cursar Relações Públicas. A partir dali tomou contato com uma organização ligada à Teologia da Libertação, o movimento Mística e Revolução (MIRE), assessorado por Frei Betto e Plínio de Arruda Sampaio. A partir de 2006, se engajou também no Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, e em 2009 conheceu o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), ajudando a organizar famílias do Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo, que sofriam um processo de despejos após uma onda de enchentes. “As casas das pessoas chegaram a ficar com um metro de água por mais de dois meses, sem praticamente a água baixar. Havia uma pressão para que as famílias assinassem um bolsa-aluguel na época, e quando assinavam a casa delas era derrubada”, lembra.
Nos anos seguintes, Vivian Mendes se tornaria membro da coordenação nacional do MLB, membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos da Ditadura, e trabalharia na Comissão Nacional da Verdade, na criação do Movimento de Mulheres Olga Benário e na oficialização da Unidade Popular pelo Socialismo, partido pelo qual hoje é candidata ao Senado por São Paulo. A Revista Opera conversou com Vivian no último dia 28 sobre sua trajetória, a situação política do país e sua candidatura. A entrevista segue:
Revista Opera: Você teve uma participação bastante ativa na Comissão Nacional da Verdade e na Comissão Estadual. Queria que falasse um pouco sobre isso e as reações militares ao trabalho dessas comissões.
Vivian Mendes: Eu comecei trabalhando na Comissão Estadual de São Paulo, depois fui pesquisadora também da Comissão Nacional, porque havia uma necessidade de construção do relatório e, pela Comissão Estadual, fizemos um trabalho ligado à Comissão Nacional. Comecei a trabalhar na Comissão Estadual, a Comissão do Estado de São Paulo Rubens Paiva, em 2012. Era uma comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), e foi muito importante porque na sua própria composição, na assessoria técnica, tínhamos pessoas muito ligadas ao tema. Tínhamos Amelinha Teles, Ivan Seixas – ambos presos políticos –, a Tatiana Merlino – que é sobrinha do Luiz Eduardo da Rocha Merlino, um dos assassinados pela ditadura –, a Thais Barreto – sobrinha do Zequinha Barreto, que foi assassinado junto com o Lamarca –, o Renan Quinalha, à época nosso advogado, já ligado ao tema dos Direitos Humanos.
E como o trabalho da Comissão Nacional demorou muito para engatar, a Comissão do Estado teve um papel de protagonismo bem grande. A Comissão da Verdade do Brasil tinha um desafio diferente das comissões da verdade de outros países, que foram criadas logo após os fatos, poucos anos depois dos anos autoritários, dos anos de graves violações de direitos humanos. A Comissão aqui não; foi muito tardia. Então não tínhamos, por exemplo, tanta expectativa de conseguir novos documentos; o que esperávamos era conseguir mais informações dos órgãos de repressão, o que foi muito difícil – não avançamos muito em relação a isso. Mas nós decidimos em São Paulo, em termos de metodologia, por fazer o trabalho da forma mais pública possível, envolvendo a sociedade ao máximo neste trabalho de investigação. Realizamos mais de 150 audiências públicas durante os dois anos e pouco de comissão. Ouvimos mais de mil pessoas, produzimos um relatório gigantesco. Através desse trabalho conseguimos também, de alguma forma, pressionar para que a Comissão Nacional da Verdade também fizesse um trabalho mais público. Porque eles começaram numa perspectiva de fazer um trabalho muito clandestino, enquanto fazíamos essa discussão política enquanto Comissão do Estado, mas também enquanto Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos – também sou dessa comissão. Fomos pressionando para que esse trabalho fosse mais amplo, aberto e público, para que a sociedade pudesse compreender a importância dele e defendê-lo. E acho que isso foi uma contribuição política muito importante que demos.
Fizemos esse trabalho, produzimos um livro muito bonito, das crianças atingidas pela ditadura; publicamos as cartas dos presos, o “Bagulhão”, um livro produzido a partir das cartas relatando as torturas na época; produzimos também um livro com a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Caso Araguaia: os familiares entraram com um pedido na Corte pela responsabilização dos culpados neste caso, e o Brasil foi condenado na Corte Interamericana, inclusive a punir os torturadores – o que o País não fez até hoje. Mas, entre outras coisas, também a criar a Comissão da Verdade. E essa é uma sentença muito interessante, razoavelmente fácil de ler – não precisa ser jurista – e produzimos esse livro. Então fomos produzindo uma série de materiais e fazendo atividades públicas: além das audiências públicas dentro da ALESP, fizemos também muita coisa fora da ALESP – muitos debates em escolas, universidades, bibliotecas públicas, enfim. A assessoria voltou-se muito para isso, o que acho que teve um papel político importante.
Fiz isso, e sou até hoje da Comissão de Familiares. Então acompanho e pressiono o Estado no caso das ossadas de Perus, por exemplo, que está hoje sendo pesquisado por um órgão da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) construído a partir da nossa luta e que toda hora o governo Bolsonaro tenta desmontar.
No começo, até a aprovação da lei da Comissão Nacional, havia uma disputa política sobre como ela seria e quem comporia a comissão. Havia uma discussão sobre isso e, na ALESP, também sentíamos isso. Mas era um clima muito diferente do de hoje. Até porque estávamos ali na ALESP, um lugar em que a direita tem muita força, mas a Comissão da Verdade pôde fazer bastante coisa. Mas o que ela não conseguiu? Aquilo para o que não basta um processo de Comissão da Verdade… Não conseguimos acessar os documentos que sabemos que os militares têm e escondem, por exemplo. A Comissão não tinha poder de convocatória: ela convidava as pessoas e se o militar quisesse ele ia e, se não quisesse, não ia. A Comissão, como instrumento, tem menos recursos do que, por exemplo, uma CPI. Uma CPI tem a possibilidade de convocar pessoas para que dêem seus depoimentos; a Comissão da Verdade não tinha isso. Convidávamos e, ainda assim, com uma certa debilidade. Então é claro que se tinha uma articulação de cúpula dos militares no sentido de impedir que as coisas avançassem. E tivemos alguns eventos emblemáticos durante a Comissão da Verdade: por exemplo, o assassinato do Paulo Malhães, que tinha falado sobre o assassinato do Rubens Paiva e dado muitos detalhes sobre isso. Falou sobre como eles esquartejaram o corpo; como fizeram para se livrar das possibilidades de identificação, etc. E ele depois sofreu um incidente na sua chácara, foi assassinado e colocaram a culpa no caseiro. E há fortes indícios de que se tratou de uma queima de arquivo; que usaram o Paulo Malhães como um sinal para que outros militares não fizessem a mesma coisa. Esse fato emblemático aconteceu e, além disso, sofríamos algumas ameaças: um email ou outro. Mas, do meu ponto de vista, não se compara ao tipo de ameaças à democracia que temos vivido hoje. As contradições se aprofundaram muito. Tudo isso que estou falando foi antes do assassinato da Marielle, por exemplo.
Então temos uma configuração da repressão que vai se aprofundando posteriormente. Naquele tempo tínhamos algumas ameaças, houve essa questão do Paulo Malhães, que não é pouca coisa, mas nós trabalhamos, conseguimos trabalhar, e inclusive com um certo apoio dentro da ALESP. Naquele momento tínhamos uma legislatura menos odiosa; com menos ódio e menos odiosa, porque é odiosa mesmo. Depois acabou-se elegendo uma direita muito mais identificada com o fascismo mesmo. Fico imaginando: fazer hoje a Comissão da Verdade dentro da ALESP seria impossível. Naquele momento… Imagina, convocamos a FIESP para depor. Coisas hoje impensáveis.
Revista Opera: Hoje nós vivemos o governo mais militarizado da história – claro, a ditadura em certo sentido foi mais militarizada, mas do ponto de vista numérico este é o mais militarizado. E frente a esse processo eleitoral vivemos essa situação de ameaças. A Unidade Popular me parece ter uma postura muito clara frente a isso: há uma ameaça de golpe e frente a essa ameaça é necessário mobilizar o povo. Mas também há aqueles que se negam a colocar muitas fichas nas mobilizações, se negam inclusive a reconhecer o problema dessa forma – há pouco tempo diziam que os militares eram democratas, depois que não eram mais relevantes, agora que “só estão falando”.
Vivian Mendes: Até pouco tempo não. O Lula disse isso ontem (27), não foi?
Revista Opera: Exatamente.
Vivian Mendes: É pouquíssimo tempo [risos] Tão pouco que foi ontem [risos].
Revista Opera: Então queria que falasse disso. No 7 de setembro passado tínhamos setores dizendo “precisamos ir para as ruas, precisamos nos mobilizar, há uma ameaça e isso já é suficiente”, e um outro setor – o PT, o PCdoB, as organizações em torno desse campo – que não estavam querendo apostar na mobilização. Queria que falasse sobre isso: se na sua avaliação há de fato uma ameaça golpista e se é necessário se mobilizar, já que teremos agora outro 7 de setembro.
Vivian Mendes: Muito importante falar disso. Nós temos feito desse ano, um ano eleitoral, e temos feito de todas as nossas pré-candidaturas, um espaço para trazer esse alerta, essa discussão, para o centro do debate político. Temos feito esse esforço e conseguimos alguns avanços. Fazemos parte da campanha Fora Bolsonaro, onde temos feito essa discussão; conseguimos de alguma forma mobilizar – no dia 11 de agosto, Dia do Estudante, teremos uma movimentação maior – mas, ainda assim, há pouco crédito sobre a iminência de um golpe em nosso país por parte das forças mais ligadas a uma linha social-democrata. Pouca crença em relação a isso; como disse agora há pouco o candidato à presidência, Lula, disse que os militares não querem dar um golpe no Brasil.
Mas é muito importante avaliarmos a nossa história. Senão temos que ficar reinventando a roda, e isso nunca dá certo. Se não conseguimos acumular e aprender com a nossa história, tendemos a cometer os mesmos equívocos. E a força principal da esquerda na véspera da ditadura de 1964 – para falar só da última – também julgava que os militares não iriam apoiar um golpe, que não havia interesse dos militares ou que não havia coesão deles para isso. E o que temos com bastante clareza é que é óbvio que Bolsonaro planeja um golpe. Ele diz isso. Sobre isso já não tem mais discussão. Ele diz inclusive a data: 7 de setembro.
É claro que não está fácil para ele. Nosso papel, como força política e como esquerda consciente, não é criar um clima de pavor. Não é esse o objetivo. O objetivo é dizer: existe uma movimentação golpista em curso. E se uma movimentação golpista não encontrar resistência, ela se instala. Então é fundamental, indispensável, compreendermos que apesar de não estar fácil para Bolsonaro – é óbvio que ele não tem o apoio de toda a burguesia nacional, mas ele tem o apoio de uma parcela da burguesia que não é pouca coisa, que é o agronegócio, as grandes mineradoras, que estão muito bem com essa política genocida contra os povos indígenas. Então existe uma parte da burguesia com grande interesse na manutenção dessa política mais atrasada. Ele tem feito um esforço pela privatização da Petrobras, da Eletrobras, empresas importantes para a autodeterminação do nosso país. Então ele tem se mobilizado para ganhar uma parcela da burguesia; ele tem uma parcela dos militares que, hoje em dia, não estão precisando nem comprar viagra ou prótese peniana, porque o Estado está bancando, e estão ganhando altíssimos salários, com muitos benefícios; e ele tem feito um fortalecimento das milícias de uma forma que nunca tínhamos visto, formando esses CACs – um milhão deles com autorização para compra de armas razoáveis até o final do ano. Ele tem trabalhado as polícias, que têm um contingente superior ao das Forças Armadas, inclusive. Então existe uma base social que apoia Bolsonaro e que tem interesse em continuar no poder seja como for.
Basta olharmos a tradição das Forças Armadas no Brasil que vamos ver que de democráticas não têm nada: estiveram 21 anos no governo impondo uma ditadura sobre seu povo, sem nenhum processo eleitoral. Agora estarão preocupadas com as eleições? É claro que não. “Ah, mas Bolsonaro não tem o apoio do imperialismo”. Na militância eu fui formada com a máxima do Che: que no imperialismo, não confiamos nem um tantinho assim. Então não podemos contar com esse tipo de aliados.
Com o que devemos contar? Com nossa capacidade de impor a resistência. Isso é indispensável para que um golpe não passe, para que não se implemente em nosso país. Por isso temos feito todos os esforços nesse sentido da construção de grandes mobilizações sociais, de explicar para nosso povo o que significa uma ditadura para o povo pobre. Porque também há um discurso muito bem construído, uma ideologia espalhada durante a ditadura e presente na sociedade hoje, de que a ditadura é ruim só para quem é subversivo, terrorista, de esquerda. Que se você for um cidadão de bem, não se envolver com maluquice, não for subversivo e terrorista, sua vida é melhor na ditadura, que você tem mais segurança, etc. E esse discurso vai sendo reproduzido por várias forças, inclusive pessoas que se colocam no campo da esquerda, que realmente acham que uma ditadura faz pouca diferença. Então nosso papel nesse momento, enquanto mobilizamos amplas massas populares para defender uma democracia – ainda que ela seja muito precária – é também explicar o que significa uma ditadura e para quê eles querem implementar uma ditadura no nosso país. Não é para qualquer coisa. Nós temos visto uma movimentação de aumento das chacinas; uma violência direta contra o povo pobre que fica escondida.
Eu gosto de usar o exemplo da vala de Perus: a vala clandestina no Cemitério de Perus que foi descoberta na época da prefeitura da Erundina, que abrimos em 4 de setembro de 1990. Nessa vala estavam várias ossadas, na casa de 1500 ossadas, de pessoas enterradas de forma clandestina. Não enterradas só como indigentes – porque indigente até hoje é enterrado; a pessoa que não tem bens. Não é nem o desconhecido; é o sem bens. Mas aquelas pessoas estavam enterradas de forma clandestina, sem especificações de quem estava ali. Uma forma de ocultar os cadáveres; foi criada para ocultar os cadáveres de 1500 pessoas. E quem eram essas pessoas? Cerca de 500 ossadas eram de crianças que morreram no surto de meningite que a ditadura quis esconder. Veja o que significa uma ditadura: esconder um surto de meningite que só ali, naquela vala, tinha deixado 500 crianças mortas. E quem são as outras pessoas? Nós procuramos ali só seis desaparecidos políticos. Encontramos cinco, e procuramos mais um. As outras pessoas eram pessoas comuns, assassinadas pelos esquadrões da morte que a ditadura militar criou. As milícias de antigamente. Então a PM que nós conhecemos hoje, a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, foi criada, tem seu modo de operação estabelecida numa lei de 1969, no auge da ditadura. Então a ditadura tem esse impacto, esse aspecto, de violência direta contra a população pobre. Parece que não; que é só contra a esquerda. Mas foi contra a população pobre.
E a ditadura tem outros aspectos muito importantes: para quê eles querem uma ditadura? Porque querem acabar com o SUS. Inclusive soltaram até um documento dizendo isso. Por que querem uma ditadura? Porque querem acabar com a educação pública. Por que querem uma ditadura? Porque querem acabar com a Petrobras. Querem acabar com as riquezas do nosso povo. A ditadura tem este impacto, e esta é uma tarefa fundamental, entre tantas outras; explicar para nosso povo o que ela significa. E que, por isso, defender a democracia não é uma tarefa de um grupo de esquerda ou de uma vanguarda: não, é um interesse de todo nosso povo.
Por isso começamos uma jornada, a partir do dia 16 de julho, com as forças que compõem ao nosso lado a Povo na Rua. Aqui em São Paulo fizemos uma manifestação muito importante em São Mateus, reunindo mais de 300 pessoas, dialogando com o povo, fazendo panfletagem, fazendo agitação, denunciando a movimentação golpista de Bolsonaro e tendo muita adesão entre o povo. Porque as pessoas entendem o que significa na prática essa política e esse governo. Estivemos na rua alertando que esse governo pretende dar um golpe para se manter no poder. Porque ao que tudo indica, de forma digamos “democrática”, Bolsonaro não consegue se manter no governo a partir das próximas eleições.
Achamos uma irresponsabilidade acreditar que as eleições são suficientes para barrar uma movimentação golpista dessa magnitude. O golpe pode acontecer inclusive antes, durante ou depois das eleições. Por isso, organizar nosso povo é fundamental e urgente.
Revista Opera: Ainda neste tema: a Unidade Popular me parece que também não tem dúvidas de que vivemos nos últimos anos uma conjuntura de avanço do fascismo. Não sei se consideram o governo Bolsonaro como um governo fascista propriamente dito, mas no mínimo um governo que se insere numa conjuntura maior de avanço fascista. E como você disse, é uma conjuntura que tem um “antes” do governo Bolsonaro e que pode ter também um “depois”. Existe um aspecto pouco discutido nessa discussão do fascismo a partir do governo Bolsonaro, que é algo que me impressiona, que é como as pessoas deixaram de discutir o elemento dos militares dentro dessa discussão maior. Porque se olhamos à história brasileira e pensamos “quando se falou em fascismo no Brasil?”, a primeira coisa que deveríamos lembrar é de 1964. No mínimo existia uma discussão ali sobre se era ou não um governo fascista. Se poderia remeter ao Estado Novo, à figura do Getúlio; mas de novo, era um governo que se alicerçava no poder militar. Há até a tese de que os militares cumprem, na América Latina, um substitutivo do que seria o fascismo europeu. Mas, de qualquer forma, queria sua posição sobre essa conjuntura; o que ela pode implicar mesmo na eventualidade de uma eleição e posse de Lula. Porque podemos aí ter um cenário com um governo de centro-esquerda mais disposto a conciliar do que esteve em 2002, só que, dessa vez, com uma extrema-direita organizada e mobilizada. Teríamos um cenário clássico até do fascismo europeu: a esquerda radical esmagada entre esses dois campos; tentando mobilizar a social-democracia e, ao mesmo tempo, a direita conseguindo mobilizar aqueles desejos mais radicais. Me parece o cenário posto.
Vivian Mendes: Eu concordo bastante com isso que você disse. Uma certa subestimação – não sei nem se essa é a melhor palavra –, mas essa posição que este campo que se coloca à esquerda ou como social-democrata, seja lá como se denomine, tem em relação aos militares. Da redemocratização para cá, vemos sempre uma movimentação de defender que as Forças Armadas são democráticas. Parece que aquele objetivo de virar a página no processo de redemocratização funcionou realmente muito bem para desmobilizar as forças progressistas. E acho isso muito grave; isso tem muito a ver com o que vivemos hoje. As Forças Armadas são evidentemente antidemocráticas, participaram de todos os processos antidemocráticos que tivemos e estão aí até hoje muito fortalecidas.
E é importante compreender também como elas recuperaram, de certa forma, seu status de democráticas. Porque depois da ditadura, de certo modo os militares saíram desmoralizados. Há nesse período de redemocratização, logo após a ditadura, denúncias de torturas espalhadas pelo mundo. Havia, de alguma forma, uma desmoralização das Forças Armadas. E os governos do PT tiveram um papel importantíssimo para colocar as Forças Armadas num papel de moralidade. O Brasil cumpriu um papel sujo, imundo, enviando suas tropas para o Haiti. Cumprindo esse papel imundo frente à ONU de colocar Forças Armadas naquele país tão sofrido e explorado. Então vão se fazendo mobilizações, aumentando a moral das Forças Armadas. E em um momento em que havia correlação de forças – porque havia um governo com uma aceitação pública de mais de 80%, inclusive gostam de trazer esse número, “o Lula teve a maior aprovação popular de todos os tempos –, pois então, este era o momento certíssimo para se implementar o que chamamos de justiça de transição, de fazermos uma reforma profunda nas Forças Armadas e em todas as instituições que desde o período da ditadura não sofreram nenhum tipo de modificação, seguindo intactas. Aquele era o momento ideal para fazer essa reforma, para garantir o desmonte autoritário dessa força. E isso não foi feito; ao contrário. Foi se colocando um espaço de poder ainda maior para essas forças, recolocando elas num papel de importância na sociedade. Isso é muito grave; entre outras coisas, estamos pagando por isso nesse momento.
E queria dizer que fazemos essa denúncia há muitos anos. Para nós, na UP, isso é central; temos um programa nacional de apenas 25 pontos, um programa sucinto. E um dos pontos é a luta por Memória, Verdade e Justiça e por punição para os torturadores, os agentes do passado e do presente. Punição para os torturadores da ditadura! Nós precisamos cobrar essa fatura, é indispensável; o Brasil está muito atrasado em relação a isso. As Forças Armadas têm um papel no Brasil muito perigoso, de muito protagonismo num projeto de avanço do fascismo, um projeto com o objetivo de extrair ainda mais da classe trabalhadora, de retirar ainda mais nossos direitos, para garantir o lucro de uma minoria sanguessuga. Neste projeto as Forças Armadas entram com um protagonismo muito grande, maior do que outros países inclusive, acho que você lembrou isso muito bem. E nessa despolitização gigantesca durante esse processo eleitoral, tudo indica que a movimentação da candidatura que está na frente em todas as pesquisas eleitorais não é de cobrar essa fatura, ao contrário: diz que os militares são democráticos sim, que eles não querem dar o golpe não.
Não é que a gente goste de fazer manifestações populares e amplas. A gente até gosta, mas não é esse o ponto. Nós precisamos. Só uma força popular grandiosa vai ser capaz de enfrentar essas movimentações do lado de lá. Não podemos contar só com uma vanguarda muito consciente do processo; precisamos de amplas massas populares para poder resistir. É por isso que apostamos nisso todos os dias, nossas candidaturas estão a esse serviço. A serviço da mobilização, da organização do nosso povo, para que a gente possa resistir, porque infelizmente não tem outro caminho.
Revista Opera: Na sua trajetória você passou por uma formação ligada à Igreja, às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), organizadas ali sob a doutrina, digamos, da Teologia da Libertação. Nós tivemos um movimento interessante no Brasil, com as CEBs muito fortes até os anos 90; aí temos uma movimentação da própria Igreja Católica, a partir da Europa, de acabar com as comunidades eclesiais; e se cria um processo em três pontos que é: por parte das organizações revolucionárias houve um certo afastamento do chamado povo de Deus, uma certa aversão ao contato com esse povo; ao mesmo tempo a Igreja Evangélica, especialmente os neopentecostais, avançando muito, ao ponto de termos previsões de que dentro de uma ou duas décadas serão a maior parte do povo brasileiro; mas ao mesmo tempo me parece que temos hoje uma certa diminuição nessa aversão da ideia de se ligar a esse povo. A Unidade Popular me parece ter um bom contato com os religiosos, com lideranças, etc. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Você crê que seja possível que haja algo como foi a Teologia da Libertação ou a experiência das Comunidades Eclesiais de Base tendo em vista um Brasil que se encaminha para ser majoritariamente evangélico?
Vivian Mendes: Acho que é preciso compreender um pouco como é formado o povo brasileiro. E como a UP pensa; qual é nossa tática para construir nossa organização, nosso partido. Nós não podemos negar ou querer não lidar com isso, ou seja, ignorar a força da religião, das pessoas religiosas dentro do nosso país. Estou bastante convencida hoje de que um processo revolucionário no Brasil passa por envolver essas pessoas; as que têm religião, que são organizadas em comunidades. É uma realidade.
Então precisamos olhar para isso quando pensamos como vamos – e vamos! – construir um processo revolucionário no Brasil, que é a razão da criação do nosso partido. Um processo revolucionário, ao menos no Brasil – em outros lugares não sei, aqui tenho certeza – passa por uma movimentação de amplas massas populares. A revolução no Brasil não é uma tarefa de um grupo de vanguarda, de um grupo pequeno. Não é. Então é importante que a gente compreenda essa movimentação, que também é política, das denominações religiosas em geral, como vão se organizando politicamente e ocupando espaços políticos. E que a gente possa manter e aprofundar um diálogo com uma parcela religiosa que não se sente representada pelos evangélicos de extrema-direita. É importante que a gente construa política juntos.
Então temos dentro da UP inclusive pastores, alguns que inclusive já foram candidatos. E acho que esse caminho é muito importante para que a gente possa dialogar de fato com esse meio, com aquela parcela mais avançada dele. Porque a polarização serve ao menos para isso: enquanto uma parcela de pastores está aí recebendo ouro do Bolsonaro, envolvida em um processo de corrupção escancarada, temos também uma parcela da igreja evangélica que diz: “isso não me representa, precisamos construir outra coisa”. Não sei se vamos ver, a partir daí, surgir uma força política tão importante e popular quanto foi a Teologia da Libertação. Que foi muito importante; muito envolvida com a construção do SUS que temos hoje, muito envolvida com o que é no mínimo o movimento mais organizado que temos, que é o MST. Esse papel protagônico que a Teologia da Libertação teve eu não sei se pode voltar, se temos algo parecido no cenário. Realmente não sei. Mas eu sei que há uma parcela das igrejas evangélicas, da católica, de outras denominações e matrizes, que tem se colocado cada vez mais à esquerda, em contradição com esse desenvolvimento político fascista no nosso país. Acho isso central. E nós não temos nenhuma aversão a essa discussão, muito pelo contrário. Temos aprofundado nossas relações nesse campo, entendendo que isso faz parte dessa composição que temos hoje em nosso país e que precisamos passar por aí para construir uma alternativa. Não estamos na política por brincadeira. Nós precisamos de fato transformar: não adianta sermos um grupo muito puro que fique isolado das massas. A UP não é isso; a UP é um partido de massas populares. É com elas que temos que dialogar, então esse é um tema central para nós.
Revista Opera: Nessas eleições nós temos também, frente ao governo Bolsonaro, uma tendência, uma demanda ou uma força, que faz parte desse processo de despolitização que você mencionou, que é a reivindicação de que as organizações de esquerda baixem suas bandeiras um pouco para que possam fazer alianças e construir a chamada Frente Ampla. O Partido dos Trabalhadores obviamente optou por essa tática – ou estratégia, não sei – e, por conta disso, existe uma pressão que também se abate sobre as organizações revolucionárias nesse sentido: acusações de que lançar candidaturas próprias é fracionar a esquerda, ajudar Bolsonaro, etc. Por que a UP não embarcou nesse concepção de frente ampla? Qual é a tática que a UP defende hoje frente ao processo eleitoral? E, sobre sua candidatura: por que eventualmente um eleitor de esquerda que esteja indeciso, querendo apoiar um candidato ao Senado de um partido maior, deveria apoiar a sua candidatura ao Senado em detrimento destas forças?
Vivian Mendes: Essa política de frente está muito consolidada, e eu acho que nosso papel hoje acabou ficando mais fácil do que parecia no começo. Porque nós já fazíamos uma avaliação de que a tendência é que essa frente fizesse uma campanha muito despolitizada, sem apresentar um programa que de fato resolvesse os problemas da nossa população, dizendo “não precisamos de programa não, porque como já fui presidente, já sei o que fazer” – como se as coisas fossem tão simples. Essa já era a tendência, já era a movimentação que nós vínhamos enxergando, e quando decidimos lançar a pré-candidatura do Léo Péricles à presidência, em novembro do ano passado, quando decidimos fazer essa movimentação rumo a uma candidatura própria, avaliávamos exatamente isso, essa tendência despolitizada de ampliar para a direita. Para nós estava bastante evidente esse movimento desse campo petista e social-democrata. E foi ficando cada vez mais evidente à medida que as coisas foram se encaminhando, porque quando avaliávamos isso não achávamos que seria tão ruim assim [risos]: que teriam como vice o Alckmin, que o PT faria esse tipo de campanha.
Isso nos ajuda nesse momento a dizer que tomamos essa decisão baseada numa avaliação que se consolidou. Outras forças que estão dentro dessa frente, como por exemplo o PSOL – com todo o respeito que a gente tem – foram engolidas por essa política, estão rifadas dentro dessa campanha, com muito pouco espaço de expressar uma política mais avançada, mais à esquerda, e de fato exigir um compromisso contundente com os interesses da classe trabalhadora. Então fizemos essa avaliação, tomamos essa decisão, e estamos absolutamente convencidos de que a Unidade Popular contribui muito mais com a derrota do fascismo hoje no nosso país e com a derrota eleitoral de Bolsonaro – porque nós também defendemos isso, é claro que ele precisa ser derrotado eleitoralmente –, com nós mantendo nossas candidaturas.
Nesse processo tão importante, tão rico, com tantas possibilidades, que é o processo eleitoral, a UP apresenta uma candidatura escancarando as contradições da sociedade em que a gente vive. Existe, claro, um certo conforto na atração para esse campo do petismo, que vai atraindo as outras forças. Mas o que nós efetivamente poderíamos contribuir, dentro desse campo, nessa conjuntura? Na política, com nada; no programa, com nada. Então nosso papel hoje é dentro das periferias, nos bairros populares, denunciando Bolsonaro e o golpe em curso; denunciando os privilégios dos militares. Nós somos a força que nas periferias está colocando as contradições do bolsonarismo. Nós de um lado; as igrejas evangélicas de outro, porque o trabalho de base foi abandonado quase completamente – um aqui e outro ali ainda resistem, mas de forma geral um grande abandono do trabalho de base por parte desse campo social-democrata.
Nosso papel então, nesse momento eleitoral, é outro; é a denúncia do governo, e é também apresentar um programa. Nosso papel também é colocar as contradições de um programa que não está sequer sendo apresentado por essa campanha majoritária. Temos esse papel a cumprir e não podemos abrir mão dele por causa de uma busca de um maior conforto nessas eleições ou para evitar sofrer a acusação de fragmentarmos a esquerda. Francamente, não somos nós que fragmentamos a esquerda: quem enfraquece a esquerda é quem diz que Alckmin, o governador de Pinheirinho, onde pessoas foram assassinadas; o governador que dirigiu a PM paulista no período em que ela mais matou, constitui um campo aceitável para nossa classe.
A nossa tática nestas eleições, com nossa campanha, é aprofundar o nosso trabalho, que é um trabalho muito popular. A nossa campanha é de casa em casa, na porta das estações, falando com nosso povo, desconstruindo essa ideia de que a ditadura é uma coisa muito distante, de que não poderia voltar, ou a ideia de que só existe petismo ou bolsonarismo na sociedade. Nossa tática é construir junto com nosso povo e ser o mais conhecido possível; transformar esse programa – não é a UP, é o programa do poder popular – em algo conhecido. Isso é algo central para nós nessa campanha: nós sairmos dela com mais pessoas da nossa classe compreendendo que é possível construir outra sociedade.
Agora, do ponto de vista da minha candidatura, é trazer para a pauta essa questão da impunidade. Quero ser senadora para prender Bolsonaro. Serei a senadora para prender os torturadores do passado e do presente. A nossa campanha é por um Senado que combata a impunidade neste país: Bolsonaro é um criminoso, cometeu graves violações de direitos humanos, crimes de lesa-humanidade inclusive, e precisa ser punido. Assim como os militares que prenderam, torturaram, estupraram, ocultaram cadáveres precisam ser punidos. Assim como os policiais militares que massacram o povo, que ali mesmo na favela já julgam e executam, precisam ser punidos. Esse é um eixo central da minha campanha: prender Bolsonaro, a luta contra a impunidade, prisão aos torturadores. E o outro eixo é a defesa dos direitos das mulheres e essa discussão, que é central, que é a legalização do aborto no Brasil.
O Senado tem um papel importante: tanto de fiscalização do Executivo Federal quanto de construção de propostas sobre a nossa Constituição. O que pretendemos é fazer uma discussão ampla e laica sobre o que significa o aborto no Brasil, porque a criminalização do aborto no Brasil é hoje ineficiente para impedir interrupções de gravidez, mas é absolutamente eficiente para matar mulheres pobres e negras. A minha campanha tem esses dois eixos centrais: prender Bolsonaro e legalizar o aborto, que é para os bolsonaristas adorarem [risos]. Esse é o central, e queremos aproveitar esse espaço do debate do Senado para isso.
Revista Opera: As instituições do Estado no geral, e no Brasil especificamente, têm uma inércia incrível. A discussão sobre a abertura da CPI da Covid, por exemplo, se arrastou por um tempão, depois houve de fato a CPI e, de prático, ela não trouxe muita coisa; me parece que serviu mais para atingir a popularidade do governo e para servir como um palco visando já as eleições deste ano. A UP é um partido novo, não teve ainda a experiência de lidar de dentro das instituições com essa inércia – de fora imagino que lide bastante [risos] –, mas queria saber como a UP e você, caso eleita senadora, pretendem atuar, tendo em vista justamente essa inércia, essas limitações. Quer dizer, como devem atuar os revolucionários no parlamento?
Vivian Mendes: Claro, isso é um desafio. Temos sempre tentado demonstrar que a forma como nós organizamos a Unidade Popular tem tudo a ver com a forma como pretendemos desenvolver nosso trabalho por dentro do Parlamento.
Você falou algo que é um sinal central: qual era de fato o objetivo da CPI? Certamente nunca foi prender Bolsonaro. Tinha o objetivo de desgastá-lo. Que foi uma denúncia que fizemos no ano passado também em relação à mobilização da campanha Fora Bolsonaro, da qual sempre fizemos parte e seguimos fazendo. Tivemos um papel muito importante para que houvesse aquela jornada que começou no dia 29 de maio do ano passado, de mobilizações que foram fundamentais para pôr freio aos objetivos golpistas de Bolsonaro, que no 7 de setembro já ensaiou um golpe. E se não tivéssemos capacidade de resistir ali, poderíamos já estar numa situação mais difícil. Mas no final do desenrolar da campanha Fora Bolsonaro uma boa parte das forças que ali estavam não pretendiam tirar Bolsonaro, pretendiam apenas desgastá-lo para que ele perdesse no processo eleitoral.
Por isso sempre dizemos que a forma como construímos o partido e nossas lutas têm tudo a ver com a forma como pretendemos estar nesses espaços parlamentares: ou você chama toda a nossa classe para construir a alternativa, ou realmente ninguém vai fazer nada. Com que força é possível derrubar Bolsonaro? Com uma força popular. Se as manifestações no ano passado tivessem tido esse objetivo, de massificar, de construir de forma mais popular aquela força social, com certeza teríamos tido condições de derrubar Bolsonaro. Era possível derrotar Bolsonaro ano passado. Essa é nossa avaliação: se levassem a cabo esse objetivo, construindo a força do povo nas ruas, teríamos derrubado Bolsonaro.
Então há uma estratégia política que determina a tática. Naquele momento foi isso que foi feito. E como para aquele momento, acreditamos que para que possamos implementar as bandeiras que levantamos, também só com uma força social popular nas ruas. Como se vai prender Bolsonaro no Brasil? Assim. Como é que as mulheres conseguiram legalizar o aborto na Argentina, por exemplo? Assim. Dizem: “no Brasil não dá, porque o Brasil é um país muito religioso, nunca vai ser aprovado”. Ora, os outros países da América Latina também são. O Brasil está muito atrasado por quê? Porque não conseguimos transformar isso, ainda, numa grande força de rua. Foi assim que a Argentina fez, com movimentações massivas.
Independente de termos um parlamento absolutamente conservador – e temos – podemos conseguir, com a força social, transformar isso. Então acho que o papel dos parlamentares da Unidade Popular é estar lá no parlamento como porta-vozes da força das ruas, ajudando, através desse papel, a mobilizar a força das ruas. Que é justamente o contrário do que os partidos mais institucionalizados fazem: quanto mais entram no parlamento, mais se afastam da mobilização social, da construção de um trabalho popular, de um trabalho de base. A nossa expectativa é o contrário: ser dentro do parlamento a voz do povo organizado fora dele. E não a voz do partido cada vez mais deslocado do que é o interesse do nosso povo.
Revista Opera: Entrando justamente nessa questão das mulheres, em geral, mas também do aborto especificamente: nós temos uma situação curiosa, talvez, que é que as pautas feministas em geral talvez nunca tenham tido tanta popularidade quanto têm hoje – especialmente numa geração de mulheres mais nova, em que certas coisas que numa geração anterior talvez fossem discutíveis hoje já não são –, mas ao mesmo tempo temos uma situação muito ruim ainda para as mulheres, especialmente para as mais pobres. Você, justamente, no Movimento de Mulheres Olga Benário, construindo as ocupações que viram casas de referência, sabe melhor do que ninguém como as violências são comuns e têm crescido. Na pandemia tivemos estatísticas nesse sentido, por exemplo. Mas ao mesmo tempo que temos essa movimento de baixo pra cima muito forte, das mulheres se organizando, e uma situação muito ruim, de crescimento das violências, também temos uma inércia institucional muito grande de cima pra baixo, que se manifestou por exemplo quando Lula falou favoravelmente à legalização e houve um movimento de “não fale disso, isso prejudica”.
Vivian Mendes: Acho que estamos num momento de contradição, de polarização muito aguda da política na sociedade de uma forma geral, e a vida das mulheres sempre é uma boa expressão dessa contradição. Porque devemos nos perguntar: a violência da mulher vem de onde? Por que cresce? Ao mesmo tempo que temos, como você disse, uma consciência maior sobre a violência, a violência também cresce? Por que isso?
Porque a violência contra a mulher é também uma expressão da violência de toda a sociedade. O machismo, assim como o racismo, não são ideologias soltas na sociedade. Estão a serviço, hoje, do capital. À medida que o capital se reorganiza para explorar cada vez mais a classe trabalhadora, para poder recompor suas altíssimas taxas de lucro, ele precisa manter uma parcela da população em uma condição de subordinação tal que aceite quase qualquer coisa – ao mesmo tempo que há a retirada dos direitos dos trabalhadores de forma geral. Ou seja, interessa ao capital que o racismo se perpetue, interessa que o machismo se perpetue, interessa que haja uma parcela da população ainda mais submetida a qualquer condição que ele quiser impor.
As mulheres são as que mais sofrem com o desemprego, com a precarização do trabalho. Elas já eram a maioria das terceirizadas antes da reforma trabalhista; já têm uma jornada de trabalho maior, mais dificuldade em manter seus lares, já são os lares mais empobrecidos. Então quanto mais essas contradições e as condições gerais da classe pioram, pior fica para as mulheres, que estão no extremo dessa violência. A violência é uma construção social, não um problema individual, e a violência contra as mulheres não é um problema individual, é um problema social, que tem na sua base essa grande contradição. Que exige o controle do corpo das mulheres, exige submetê-las aos interesses da outra parcela da população – dos homens – mas ainda de quem mantém o poder.
Felizmente, ao mesmo tempo, temos um desenvolvimento da nossa resistência, e disso não tenho dúvida. Quando chegamos hoje com o Movimento Olga Benário para fazer um debate numa escola de Ensino Médio, por exemplo, como temos feito muito, sobre violência ou assédio, temos muito mais facilidade de fazer o debate, temos as meninas muito mais envolvidas com esse debate. Estamos nesse momento de fato de movimento dos contraditórios. Agora, é claro que infelizmente, se formos olhar ao que foi o 8 de março deste ano, é triste. Você ver o enfraquecimento de um movimento tão importante, também submetido a essa lógica eleitoral. Ao mesmo tempo que temos uma força popular, de meninas que vêm de uma forma menos organizada, mas que vão buscando se organizar, que querem conhecer mais, estar em coletivos; se tem também movimentos mais antigos que foram se enrijecendo com o tempo e que estão hoje muito mais preocupados com as eleições.
Então acho que esse tripé que você disse, de uma popularidade crescente dessas pautas por baixo, uma situação de fato cada vez mais dura e, de cima, uma inércia das organizações mais institucionais, é de fato um pouco do caos do que estamos vivendo. Mas nós da UP, apesar de tudo, ficamos animados, porque está tudo muito difícil, mas nosso trabalho tem se desenvolvido, porque temos caldo social para isso; temos muita adesão social a esse tipo de ideias. Temos hoje um movimento de mulheres bastante forte, muito maior e mais qualificado. Acho que essa mulherada jovem, muito jovem, que entrou nos últimos anos no movimento de uma forma geral, deu muita oxigenação.
Agora, nossas bandeiras sempre são rifadas. Lula disse em certo momento que o aborto era questão de saúde pública e na semana seguinte já teve de dizer “não, eu sou contra o aborto, tenho filhos, tenho netos”. Isso vemos acontecendo historicamente, e é por isso que esta pauta está como central na minha campanha, porque decidimos que não vamos escondê-la. Porque falar contra a violência às mulheres de forma geral… Todo mundo vai dizer “também sou contra”. Mas quando vamos falar das raízes da violência ninguém quer entrar? Ninguém quer entrar no tema do capitalismo, da exploração de classe, no fato de que as mulheres são a parcela da classe mais explorada? Não podemos discutir violência de uma forma difusa, sem olhar quais são as raízes dessa violência; o que mantém uma mulher numa relação de violência. Há toda uma questão ideológica, todo o machismo disseminado na sociedade, mas há também uma base material: como é que a Dona Maria, que mora no quintal da sogra, que tem cinco filhos e é semianalfabeta, vai sair de uma situação de violência, trabalhando como doméstica terceirizada e agora, com a reforma trabalhista, sem chegar a ganhar sequer um salário mínimo? É por isso que nosso movimento é um movimento feminista revolucionário, classista, que defende o direito das mulheres e o socialismo. Nós precisamos combater as raízes da exploração e da opressão contra as mulheres. Então estamos um pouco nesse limbo, e é necessário aproveitar esse momento para trazer a balança para o nosso lado, porque nossas pautas estão em disputa.
Então estamos na campanha para isso.
Revista Opera: Há uma perspectiva, uma noção muito em voga na esquerda, que é de que o povo brasileiro é muito conservador – o que até certo ponto é um traço da realidade –, mas que portanto não se deveria tratar de temas que entram numa seara “comportamental”. Fica parecendo que nunca se deve colocar em questão nada. No caso de vocês, quem vai ser atendida numa casa de referência da mulher em Mauá ou no Canindé certamente não é parte de uma classe média esclarecida – são justamente mulheres pobres. A partir da sua experiência, como lidam com esse conservadorismo onde ele de fato se manifesta? Realmente não há alternativa, não dá pra fazer nada? Temos que ser reféns sempre da situação atual?
Vivian Mendes: Acho interessante porque nós tomamos essa decisão [das casas de referência] e fomos fazer. Claro que construímos o movimento de mulheres há muito tempo, e como eu disse é fácil discutir quase qualquer coisa dentro do movimento, mas essa questão do aborto envolve sempre esse peso, de um debate muito enviesado pelas crenças religiosas das pessoas. Não quero subestimar e dizer que é fácil. Mas te garanto que é possível. O que precisamos é materializar o debate, e é isso que temos tentado fazer e acho que temos conseguido, com nossas campanhas. Nós precisamos que as pessoas compreendam o que significa de fato a criminalização do aborto no Brasil.
Porque a consciência do nosso povo, não à toa, é muito fragmentada. Se você for no bairro e perguntar para a pessoa: “você defende a redução da maioridade penal?”, a pessoa que vê Datena todo dia vai dizer “defendo, lógico, claro, tem que reduzir”. Mas se você discute com a pessoa e pergunta se ela acha a cadeia um lugar bom para a pessoa se recuperar, ela vai dizer “não, é um lugar ruim para se recuperar”. “Você acha que criança tem que ir para a cadeia?”, vai responder “não, acho que criança não tem que ir pra cadeia”. Ou seja, na verdade não é a favor da redução da maioridade penal. E a questão do aborto precisa ser tratada dessa forma também: “você acha que a mulher merece morrer porque tentou interromper uma gravidez?”. A quantidade de mulheres que fazem o aborto, que já fizeram ou que farão, é muito grande. Quando conversamos com as pessoas e explicamos que elas têm pelo menos duas mulheres no seu meio, muito íntimas, que fizeram um aborto; uma mãe, uma tia, uma irmã, aquela amiga de infância… “Você acha que ela merece morrer ou ser presa?”. Entende como o debate fica difuso?
O que tentamos colocar é sempre que o aborto não é uma questão de opinião. Porque a nossa opinião não importa: eles são feitos independentemente. Inclusive a opinião da mulher que faz o aborto não importa. Porque se formos olhar às pesquisas, a mulher que faz um aborto no Brasil é uma adulta, tem dois filhos e tem religião. Ela certamente é contra o aborto – e essa é a mulher que aborta.
Cria-se uma ideia de que o aborto é uma coisa para a menina jovem e irresponsável – não, a jovem hoje, a adolescente, e inclusive isso é um grande problema, ela normalmente vai ter o filho. Quem realiza aborto no Brasil não é essa; a mulher que faz o aborto é a mulher que, por mil motivos, não tem condições de manter aquela gravidez. Ela interrompe por outros motivos; não é pela opinião, inclusive a dela.
Então o debate da legalização do aborto não pode estar nesse campo da opinião, ele tem que ser um debate que tem uma base na saúde pública e no direito das mulheres. É a partir daí que temos que discutir: uma lei, em tese, serve para coibir uma determinada conduta. A lei que criminaliza o aborto não impede essa conduta; a mulher faz o aborto. Meio milhão de mulheres fazem aborto no Brasil todos os anos! A lei o que faz é jogar a mulher pobre e preta na marginalidade, realizando um aborto inseguro e com o risco de morrer. O aborto só é crime no Brasil porque a amante do juiz, do pastor, das autoridades, faz o aborto hoje, ainda que ilegal, de forma muito segura. Segura e discreta. Então pode continuar crime porque quem tem dinheiro – não precisa nem ser rico, até a classe média – tem condições de fazer um aborto tranquilamente, com segurança. Mas a mulher pobre vai morrer. Dia sim, dia não, uma mulher morre no Brasil em decorrência de um aborto feito de forma insegura.
Então a legalização é uma política que não anda só: porque defendemos um trabalho muito mais profundo, e é isso que tentamos explicar. Defender a legalização do aborto não significa defender abortos indiscriminados, ou que ele seja usado como método contraceptivo; muito pelo contrário. Nós defendemos a educação sexual para prevenir – eles não, os conservadores não –, contraceptivos para não abortar – eles também não –, e aborto legal para não morrer. Essa é nossa defesa.
E eu sei que é possível fazer esse debate. Esse assunto tem que ser debatido pela sociedade, e esse é o papel da campanha: tirar o assunto desse âmbito escondido, do não-falado. Esse lugar é o lugar que mata as mulheres.
*Esta é a terceira de uma série de entrevistas realizadas pela Revista Opera com candidatos e candidatas nas eleições de 2022. Clique aqui para acompanhar as entrevistas.