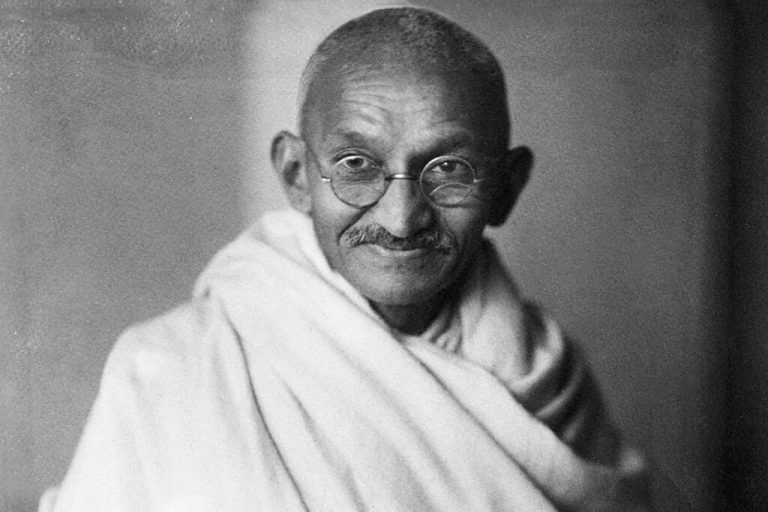Passamos, enfim, pelo primeiro Sete de Setembro sob o governo de Luiz Inácio da Silva. A data marca uma independência um tanto amorfa: em 1822, cerca de ¼ da população brasileira era composta de escravizados ou de seus descendentes, tomados como mercadoria ou paisagem e desprovidos, portanto, dos mais elementares direitos; 99% da população – ou algo próximo disso – era analfabeta, estando em sua maioria à margem dos movimentos pró-independência ou liberais que achavam frestas em folhetins, panfletos e jornais da época.[1]
Assim, como escreveu Nelson Werneck Sodré, “a independência resultou de uma alteração política praticamente sem luta, ou sem as prolongadas e profundas lutas de que foi teatro a América espanhola. As contradições de classe foram transferidas a uma etapa imediatamente posterior, a das rebeliões provinciais que encheram a Regência. A separação entre o Brasil e Portugal não trouxe à colônia […] grande abalo social, e não correspondeu a alterações profundas: a estrutura de produção permaneceu a mesma, a posição das classes sociais permaneceu a mesma. A independência não teve caráter revolucionário. Foi uma empresa comandada pela classe dominante de senhores de terras, dentro de suas limitações de classe. Estas limitações impunham, desde logo, que não se realizasse nenhuma alteração profunda, nenhuma modificação significativa e que tudo permanecesse, na essência, como nos tempos coloniais, menos a dependência para com a metrópole.”
A despeito disso, o Sete de Setembro passou a ser, além de comemoração da Independência, data-símbolo da união dos brasileiros civis e militares. Datas como o Dia do Exército, o Dia do Soldado e a vitória sobre a Intentona Comunista, no 27 de novembro, são mais importantes para os fardados, mas é o Sete de Setembro que oferece a simbologia da união entre povo e soldados. Curiosamente, o episódio que de fato ensejaria tal festejo não se deu em 7 de setembro de 1822, quando d. Pedro I declara, relativamente isolado às margens do Ipiranga, a Independência; mas sim o 12 de janeiro de 1822, em que cerca de 10 mil civis e militares ocupam o Campo de Santana em apoio à permanência de Pedro no Brasil, preparados para combater as 2 mil tropas portuguesas lideradas por Avilez que ainda permaneciam aqui. Não houve confrontação, e Avilez partiu com suas tropas para Portugal no dia 15 de fevereiro.
Nos últimos anos, sob o governo Bolsonaro, o elemento militar ganhou preponderância nas festas, às quais os civis atendiam quase como pedintes ou coadjuvantes, em súplicas pelo golpismo militar e em entoando coros de “mito” para o ex-presidente. Neste ano, sob Lula, pôs-se esforço para que o desfile encenasse a pacificação e união civil-militar e tomasse contornos mais institucionais. O tema do desfile foi “Democracia, soberania e união”. Josias de Souza bem descreveu o clima: “nunca uma pasmaceira foi tão metodicamente organizada como esse desfile de hoje. Os planos do Palácio do Planalto para transformar o Sete de Setembro numa festividade tediosamente monótona funcionaram”.
O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, considerou que o desfile representou “uma virada de página”, que o clima entre o Governo Federal e as Forças Armadas “já mudou” e “é pacífico”, e que a população brasileira teve a oportunidade de perceber a confiança do presidente nas Forças Armadas “e o bom ambiente que as Forças Armadas têm no governo”. Múcio há muito anseia virar páginas, decretar a pacificação geral da sociedade brasileira e a inquebrantável boa amizade entre civis e militares, mas crê demasiadamente (ou quer demasiadamente fazer crer) nas palavras. Deu prova disso nesta semana, em entrevista ao podcast “2+1”, quando disse que, no episódio da substituição do ex-comandante do Exército general Júlio César de Arruda pelo atual comandante Tomás Paiva, recebeu um telefonema de Lula, irritado com o então comandante. “Foi naquele momento que eu senti que o presidente não estava contente com o comando do Exército. Tomás Paiva na lista era o terceiro. Eu não o conhecia, mas o que ele falou era o que nós estávamos buscando”, disse o ministro, em referência ao vídeo viralizado nas redes sociais após o 8 de janeiro no qual Tomás Paiva faz um discurso tido (ou que buscou ser tido!) como legalista. Não tenho notícia de Múcio ter declarado o que sentiu quando se revelou que, no mesmo dia em que fez seu discurso “legalista”, Tomás Paiva dizia em reunião privada com seus camaradas que a eleição de Lula foi “indesejada” e que era necessário às Forças Armadas “segurar” quaisquer reformas que o presidente quisesse levar adiante.
No anseio de “virar páginas”, Múcio às vezes exagera, e inverte papéis. Também no “2+”1, ao tratar do envolvimento militar no 8 de janeiro, disse: “A própria Justiça vai dizer quem são os outros nomes. E nós – vou falar como se fosse Forças Armadas – vamos tomar as nossas providências, porque nós precisamos nos libertar dessa suspeição.” Animando-se, declarou: “Graças aos militares nós não tivemos um golpe. Como é um golpe de Estado? As Forças vão na frente, o povo vem atrás apoiando. Aqui era muito fácil: o povo foi na frente. Os militares poderiam dizer que estavam acompanhando o que o povo queria.”
Desejoso de ser parte das Forças Armadas, Múcio parece confundir que sua missão é de ministro do governo para a Defesa, não de ministro das Forças Armadas para o governo. Atribui a derrota do golpe do 8 de janeiro, assim, aos que insistiram em manter acampamentos golpistas intactos (como ele próprio, Múcio, insistiu), e aos que chegaram a mobilizar tanques para defender golpistas. O povo só “foi na frente” porque as Forças Armadas asseguraram, a todo momento, a retaguarda.
É perigoso o costume de apagar as irresponsabilidades militares ou supor apaziguá-las com mero mise-en-scène. Não raro as demonstrações que os civis organizam no espírito de estimular a concórdia e a harmonia com os militares são tomadas por estes últimos com desprezo, passando a servir somente como jogo de cena militar.
Resta lembrar que as mesmas tropas portuguesas que buscavam forçar a ida de d. Pedro I para Portugal em 1822, e que os 10 mil no Campo de Santana se dispuseram a enfrentar, haviam conspirado menos de um ano antes, com o favor de d. Pedro I, para que seu pai, d. João, jurasse as bases da Constituição portuguesa e partisse para a metrópole. Tendo confiado nas forças portuguesas para tomar o poder de seu pai, ao fim foram elas que tomaram-lhe o poder: “Durante o ano de 1821, essas forças – representadas pela divisão auxiliadora – seriam os verdadeiros agentes das Cortes no Rio de Janeiro”, escreveu Isabel Lustosa. Chegaram, inclusive, a forçar a demissão de ministros civis, como de fato ocorreu com o ultimato militar de 5 de julho de 1821.
O que impediu que as tropas de Avilez, em janeiro de 1822, forçassem a Pedro o mesmo que forçaram a João não foi o espetáculo, os sons, a pompa, o desfile ou mesmo um certo caráter tedioso nos 10 mil que se amontoavam no Campo de Santana, mas sim que, “armados como podiam”, “entre eles marchavam roceiros, agregados, negros forros, escravos, frades, eclesiásticos e muitos portugueses, empunhando facas, cacetes, clavinotes, dispostos a enfrentar a divisão portuguesa.” A história brasileira registra que, frente aos militares, a disposição de enfrentamento mereceu mais respeito do que a sede de pactuação.
(*) Pedro Marin é editor de Opinião de OperaMundi e editor-chefe da Revista Opera. É autor de “Aproximações sucessivas – o Partido Fardado nos governos Bolsonaro e Lula III” (2023), “Golpe é Guerra – teses para enterrar 2016” (2018) e co-autor de “Carta no Coturno – a volta do Partido Fardado no Brasil” (2019).