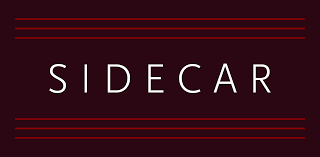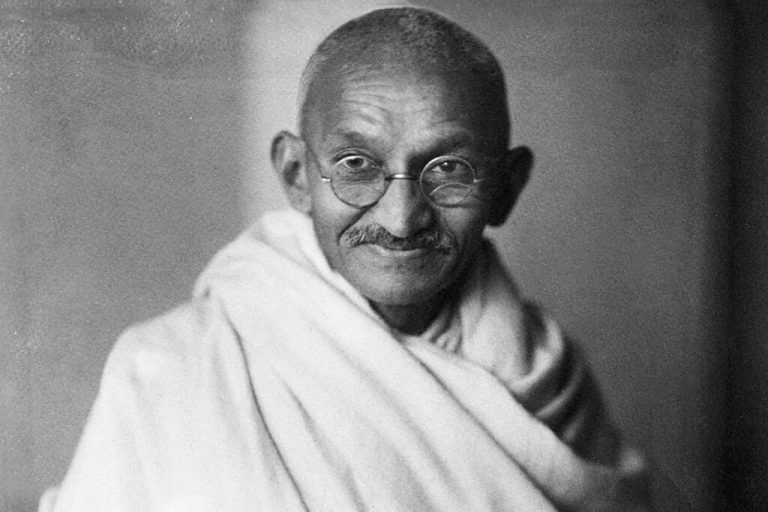Cientes do caos provocado pelos seus esforços de mudança de regime e ansiosos por completar o “pivô para a Ásia” iniciado no início da década de 2010, os EUA procuraram se desvincular parcialmente da região. O seu objetivo é estabelecer um modelo que substitua a intervenção direta por uma supervisão à distância. No entanto, para contemplar qualquer redução real da sua presença, é necessário, em primeiro lugar, um acordo de segurança que reforce os regimes amigos e restrinja a influência dos discordantes. Os Acordos de Abraão de 2020 fizeram avançar essa agenda, uma vez que o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, ao concordarem em normalizar as relações com Israel, se juntaram a um “eixo reacionário” mais vasto que abrangia o Reino Saudita e a autocracia egípcia. Trump expandiu as vendas de armas a estes Estados e cultivou as ligações entre eles – militares, comerciais, diplomáticas – com o objetivo de criar uma falange de aliados fiável, que se inclinaria para os EUA na Nova Guerra Fria, ao mesmo tempo que atuaria como um bastião contra o Irã. O acordo nuclear de Obama não conseguiu impedir a República Islâmica de projetar a sua influência. Só a “pressão máxima” o poderia fazer.
Empossado no cargo, Biden adotou as mesmas coordenadas gerais: utilizar a Cúpula de Negev para aprofundar os laços entre os países membros do acordo de Abraão e procurar estabelecer relações formais entre sauditas e israelenses. O JCPOA permaneceu como uma sigla inoperante e os esforços para conter Teerã continuaram, através de uma combinação de sanções, diplomacia e exercícios militares. Como afirmou Brett McGurk, o coordenador da Casa Branca para o Oriente Médio, em discurso para o Atlantic Council, as premissas desta política são a “integração” e a “dissuasão”: construir “ligações políticas, econômicas e de segurança entre os parceiros dos EUA” que repelirão “as ameaças do Irã e dos seus prepostos”. Tendo desenvolvido este programa e liderado este boom comercial entre Israel e os seus parceiros árabes, Biden começou a concretizar a “retirada” prometida pelo seu antecessor – executando a saída de tropas do Afeganistão e reduzindo as tropas e os ativos militares no Iraque, Kuwait, Jordânia e Arábia Saudita.
O presidente também aperfeiçoou a abordagem dos EUA em relação à Palestina. Enquanto Trump havia cortado o auxílio aos territórios ocupados enquanto tentava obter o consentimento para o seu ilusório “acordo de paz“, Biden simplesmente aceitou a realidade imperfeita – na qual Israel, apesar de não ter um plano viável para os palestinos, parecia desfrutar de relativa segurança graças às autoridades colaboracionistas na Cisjordânia e ao estrangulamento militar em Gaza. Em abstrato, talvez quisesse reavivar a “solução dos dois Estados”, de um gigante nuclear isolando uma nação palestina indefesa e guetificada. Mas como isso era uma impossibilidade política, aprendeu a viver com a situação que Tareq Baconi descreve como “equilíbrio violento“: uma ocupação indefinida, pontuada por confrontos periódicos com o Hamas, suficientemente pequenos para serem ignorados pela população israelense.
Esse projeto regional sempre sofreu com problemas sérios. Em primeiro lugar, se a sua raison d’être (razão de ser) era a política das Grandes Potências – afastar-se do Oriente Médio para se concentrar mais na China – ela revelou-se parcialmente contraproducente. Porque ao sinalizar a sua reduzida predisposição para a interferir na região, os EUA transmitiram aos seus aliados que não teriam de fazer uma escolha de soma zero entre a parceria norte-americana e a chinesa; daí o acolhimento cada vez mais caloroso da RPC no mundo árabe: a construção de uma base militar nos Emirados Árabes Unidos, a sua intermediação na aproximação Irã-Saudita e a sua rede de investimentos em tecnologia e infra-estruturas. Em segundo lugar, ao alicerçar a sua estratégia imperial no processo de normalização israelense, os EUA tornaram-se especialmente dependentes deste projeto colonizador-colonial pouco antes de este ser capturado pelos seus elementos mais extremos e voláteis: Smotrich, Ben-Gvir, Galant. Se o apoio norte-americano a Israel tem historicamente excedido qualquer cálculo político razoável, sob Trump e Biden adquiriu uma lógica coerente: colocar o seu aliado no centro de uma estrutura de segurança estável no Oriente Médio. No entanto, o gabinete israelense que chegou ao poder em 2022 – viciado em fantasias eliminatórias e determinado a levar os EUA à guerra com o Irã – provou ser o menos capaz de desempenhar esse papel.
Agora, na sequência do dia 7 de outubro, este equilíbrio foi quebrado e essas fantasias ativadas. O ataque do Hamas tinha como objetivo desfazer uma conjuntura política em que o regime do apartheid estava convencido de que poderia reprimir qualquer resistência séria ao seu governo, e na qual a Palestina estava rapidamente a tornar-se um tema irrelevante em Israel e fora dele. Este estado de coisas intolerável era o seu principal objetivo. Os dirigentes de Gaza previam uma reação feroz, incluindo uma incursão terrestre. Previam também que isso causaria problemas aos Acordos de Abraão, desencadeando uma oposição regional, a nível popular e das elites, às atrocidades israelenses. Até agora, tudo isto se confirmou: o acordo entre a Arábia Saudita e Israel foi adiado, o próximo encontro em Negev continua suspenso, os países árabes estão agitados por protestos e os seus governantes foram obrigados a denunciar Netanyahu. O que é que isto significa para as ambições políticas globais de Washington? A resposta final dependerá da trajetória do conflito.
Como muitos observadores notaram, o objetivo declarado de Israel de “destruir o Hamas” representa um risco de uma escalada contínua e prolongada. Ao planejar uma guerra urbana contra um exército de guerrilheiros enraizados, o governo de unidade nacional israelense contemplou vários desfechos, incluindo o despovoamento da Faixa Norte e expulsões em massa para o Sinai. Qualquer estratégia deste tipo é suscetível de ultrapassar os limiares ambíguos que poderiam desencadear grandes represálias do Hezbollah e – potencialmente – da Guarda Revolucionária Islâmica. (Os Houthis do Iêmen já lançaram mísseis e drones contra Israel, e estão preparados para enviar mais nas próximas semanas). O envio de navios de guerra por Biden para o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, bem como a diplomacia de vaivém de Blinken, destinam-se a evitar este resultado. É cedo demais para avaliar o impacto dos seus esforços, mas o fracasso levaria o hegemon fosse obrigado a mergulhar ainda mais neste pântano sangrento. O efeito seria alargar as fissuras no eixo árabe-israelense e distrair os Estados Unidos das suas prioridades no Extremo Oriente.
No caso de o exército invasor conseguir demolir política e militarmente o Hamas, os Estados Unidos teriam também de enfrentar o problema da sucessão. Atualmente, esperam conseguir que os Estados árabes forneçam uma força para governar o território, de modo a aliviar Israel desse fardo. Oficiais norte-americanos informam que poderiam ser enviados soldados americanos, franceses, britânicos e alemães para defender esta hipotética ditadura. Mas se as potências regionais se recusarem a cooperar, o que parece provável, as propostas alternativas incluem uma coalizão de “manutenção da paz”, nos moldes da Força Multinacional e Observadores do Sinai – para a qual o Pentágono contribui atualmente com quase 500 soldados – ou uma administração sob os cuidados da ONU. Tais esquemas devolveriam efetivamente aos EUA o estatuto de autoridade neocolonial no Oriente Médio, apesar das suas tentativas de preencher o papel com subordinados locais ao longo dos anos. Transformariam as forças norte-americanas num alvo visível para a raiva e o ressentimento criados pela guerra sionista – um legado nada invejável para Biden deixar como legado.
Mas talvez não chegue a esse ponto. Há outros cenários previsíveis que seriam mais favoráveis à Casa Branca. Dada a recusa do Egito em facilitar a limpeza étnica dos palestinos, a expulsão dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza parece pouco provável a curto prazo. Este fato, combinado com a pressão diplomática norte-americana, evidentemente levoue Israel a modificar o plano da sua invasão, optando por uma abordagem gradual em vez de uma rápida varredura. Não se sabe se isto reduzirá as hipóteses de intervenção do Hezbollah ou do Irã. Mas o primeiro está consciente da sua posição precária no Líbano, que poderia ser ainda mais prejudicada por uma conflagração militar, enquanto o segundo está procurando evitar os perigos de um envolvimento direto. Os sauditas, embora exteriormente críticos da posição dos EUA, não estão menos interessados em evitar um conflito que consumiria todo o Oriente Médio e faria descarrilar a sua “Visão 2030”. Em todos os casos, há uma série de imperativos políticos internos que se opõem à regionalização da guerra. Um raio de esperança para o império em declínio?
Independentemente de a violência ser ou não contida, o sucesso israelense não está garantido. Os 40 mil combatentes experientes do Hamas, adeptos da guerra mista e capazes de emboscar o inimigo através de túneis subterrâneos, são um contraste gritante com os reservistas israelenses que acabaram de receber o seu treino de aperfeiçoamento. Quando a luta urbana começa, as assimetrias numéricas e tecnológicas entre os dois podem se mostrar menos decisivas. Podemos, portanto, imaginar uma cronologia em que os militantes lutam com Netanyahu até um impasse, o tabu do cessar-fogo é eliminado e ambos os lados acabam por declarar vitória: o Hamas, porque repeliu uma ameaça existencial de Israel; Israel, porque pode afirmar (ainda que de forma dissimulada) que infligiu danos irreparáveis ao Hamas e impediu qualquer recorrência do seu ataque.
Depois disso, Gaza emergiria lentamente dos escombros e regressaria a algo semelhante ao status quo ante – mas em piores condições humanitárias, bem como com um vizinho ferido que está ainda mais obcecado com a sua destruição. Embora os Estados Unidos afirmem que desejam a morte do Hamas, poderiam beneficiar-se desta situação em vários aspectos importantes. Isso os pouparia de coordenar a governança pós-guerra da Faixa de Gaza; permitiria que a normalização israelense fosse retomada após um hiato necessário; e, na melhor das hipóteses para Biden, colocaria limites a uma escalada maior, ao mesmo tempo que prejudicaria as tentativas russas e chinesas de se posicionarem em ambos os lados do conflito Israel-Palestina. O paradigma de Abraão poderia assim ser restabelecido, pelo menos até o próximo grande conflito. Portanto, em vez de transformar o Oriente Médio, a guerra pode deixar intacta a “arquitetura de segurança” construída por Trump e Biden. No entanto, a instabilidade deste edifício está já comprovada. Seria apenas uma questão de tempo até que voltasse a ruir.
(*) Oliver Eagleton é editor associado da New Left Review. Escreve para a New Statesman, Jacobin e The Guardian. É autor de “The Starmer Project”.
(*) Tradução de Raul Chiliani