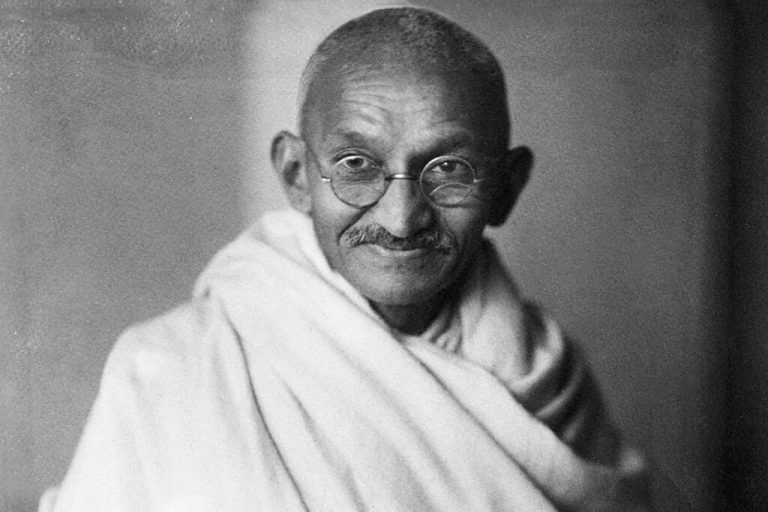“Eu acho que nós temos que partir de uma análise: o movimento comunista brasileiro nos últimos 30 anos esteve totalmente afastado do movimento de massas. Salvo pequenas exceções, muito mais de caráter local, no plano nacional nós temos um movimento comunista que não é nem um protagonista nem um ator político de importância média na luta de classes no Brasil”, diz Jones Manoel. “Os comunistas hoje não pautam nenhum tema estratégico para o país na luta de classes, nem como movimento de massas, nem como corrente de opinião”, lamenta.
As duras constatações não abalam a certeza desse pernambucano de 34 anos na necessidade de uma revolução no Brasil. Pelo contrário: é notável o salto que Manoel deu, nos últimos anos, no sentido de se aprofundar nos problemas mais imediatos da classe trabalhadora e nos pormenores da organização estatal brasileira, que orientam o comunicador numa crítica mordaz à centro-esquerda – para ele, social-liberal –, hoje à frente do Executivo. É verdade que os temas nacionais já apareciam em centenas dos quase mil vídeos publicados em seu canal no Youtube – a ferramenta que Jones escolheu, há sete anos, para expandir sua audiência, até então limitada ao blog “Makaveli Teorizando”, no qual começou sua produção intelectual pública ou, como talvez preferisse, seu trabalho de propaganda. Mas o professor, comunicador, historiador e escritor comunista chegou à conclusão de que “é preciso acabar com essa dicotomia que existe entre os gênios da estratégia, que debatem estratégia da revolução socialista mas que são incapazes de fazer qualquer disputa hoje da política econômica, por exemplo; e os gênios do pragmatismo, especialistas em debater a política econômica, a política educacional, etc., mas sem nenhum horizonte de revolução brasileira.” Hoje Jones é capaz de debater temas como as últimas movimentações na cena política de seu Estado, a política econômica do governo Lula, a situação da educação brasileira ou as debilidades da produção científica nacional com tanta propriedade quanto debate o pensamento do comunista Antonio Gramsci ou a história da União Soviética.
Manoel acredita que, entre os comunistas brasileiros, o estudo, ao invés de uma forma de preparar a organização da tomada do poder, torna-se muitas vezes uma forma de “afirmar a identidade comunista”. Essa crítica não se traduz, para ele, em um “praticismo”, nem no abandono da literatura e história revolucionária: o que propõe é que o estudo das experiências do século 20 seja voltado para “não só o ‘que fazer’, mas o ‘como fazer’”.
Para o comunicador, no entanto, essa é uma tarefa irrealizável sem que o balanço das experiências socialistas, feito num clima de triunfo do capitalismo ao fim da Guerra Fria, seja duramente criticado: “o balanço que nós fizemos sobre o século 20 é um balanço que despotencializa qualquer movimento revolucionário”, diz. Refazer este balanço é o objetivo do filho de Dona Elza, nascido na Favela da Borborema, em Recife, em 1990, com seu primeiro livro autoral, “A batalha pela memória – reflexões sobre o socialismo e a revolução no século 20”, objeto da seguinte entrevista exclusiva à Revista Opera.
O seu livro, “A batalha pela memória – reflexões sobre o socialismo e a revolução no século 20“, é um apanhado de artigos em defesa das experiências socialistas do século passado. Queria começar falando um pouco do livro; por que é importante batalhar pela memória do movimento e das experiências socialistas?
Eu acho que nós temos quatro grandes tarefas para reconstruir o movimento comunista revolucionário no Brasil. Essas quatro tarefas são resumíveis, eu poderia dizer: 1- Em uma reconfiguração do horizonte teórico, simbólico e imagético do marxismo brasileiro, um processo de tornar o marxismo brasileiro mais nacional, mais latino-americano e mais periférico, produzindo um processo de limpeza do eurocentrismo nesse marxismo. 2 – Um marxismo que consiga pensar concretamente os desafios da luta de classes e da organização popular – um marxismo que não diga só “o que fazer”, mas também o “como fazer”. Porque o livro de Lênin, as pessoas às vezes esquecem: “O que fazer” de Lênin não é só “o que fazer” no sentido do horizonte estratégico, mas também o “como fazer”; é Lênin debatendo a forma de atuação dos revolucionários naquele contexto da Rússia. 3 – Um marxismo que volte a pensar a dimensão estratégica da conquista do poder, que coloque como horizonte a conquista do poder e que pense concretamente o que isso significa na prática política. 4 – Um marxismo que reconfigure a memória que se construiu do movimento comunista no século 20.
Esse livro busca dar uma resposta a este quarto desafio. Na minha cabeça, eu pretendo lançar um livro sobre cada um desses aspectos, embora quanto ao desafio de “deseurocentrizar” o marxismo brasileiro eu já dirija uma coleção junto com o Gabriel Landi, a Quebrando as Correntes, que lançou os livros “Revolução Africana”, “Raça, Classe e Revolução” e agora o “Pátria Socialista ou Morte” – que já trabalha com esse cenário, de mudar nossas referências. No “A batalha pela memória”, em específico, eu parto de duas premissas centrais: primeiro; o balanço que nós fizemos sobre o século 20 é um balanço que despotencializa qualquer movimento revolucionário. No prefácio do livro, eu uso até uma metáfora, um pouco pobre e bruta, mas que acho que é ótima para pensar isso. Digo: “Imagine que você dá um murro na parede, e você machuca sua mão. Dá outro murro na parede, machuca de novo. E assim sucessivamente mais dez vezes. Aí chega alguém e diz: ‘na 14ª vez que você der o murro, não vai machucar'”. Que sentido faz isso? Nenhum. Mas a memória que se construiu sobre as experiências socialistas no século 20 é dizer que todas as revoluções deram errado; que todas foram revoluções traídas; que todas redundaram em barbáries totalitaristas… Mas que agora, a próxima, vai dar certo!
Isso não faz sentido. Veja; ser derrotado é diferente de dar errado. Recorrendo a outra metáfora: um lutador de boxe pode ser derrotado numa luta sem que isso signifique que ele não é um bom lutador. Pode ser um bom lutador, ter bons fundamentos, mas naquele momento ser derrotado. Outra coisa é dar errado; “nada prestou, foi tudo totalitário, barbárie, repressão, ditadura.” Há autores que inclusive chegam a falar que as experiências socialistas foram piores do que o próprio capitalismo. Um famoso pensador trotskista brasileiro, dando uma entrevista para o programa do Ronnie Von, quando foi perguntado quem era o pior ditador da história da humanidade, ao invés de citar o Hitler, o Mussolini ou o rei Leopoldo da Bélgica, responsável pela colonização do Congo, citou Stálin. Quer dizer: Stálin foi pior do que Hitler, foi pior do que a colonização belga do Congo! Essa é a dimensão da coisa.
Há um elemento de desejo, de afeto, de constituição de subjetividade. Se nós construímos uma memória segundo a qual tudo o que nós construímos no século 20 foi uma tragédia, um horror, e nós precisamos renegar essa história em bloco, nós estamos criando necessariamente uma militância que nunca vai ter a ousadia, o ethos, a disposição para a tomada do poder e para a construção de um novo mundo. No Brasil se popularizou muito a frase do Mark Fisher: “É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”. De fato, se você acha que todas as experiências que tentamos de fim do capitalismo foram piores do que o capitalismo… Realmente, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso por um lado.
Por outro lado, o balanço que se construiu no século 20, muito influenciado por uma vitória objetiva da classe dominante – porque a classe dominante ganhou a batalha de classes no século 20, e aos vencedores cabe, dentre outros despojos da guerra, a escrita da história –, esse balanço não debate as questões centrais, concretas e objetivas, que a teoria da transição socialista deveria repensar à luz da experiência histórica. Cito duas: primeiro, o problema do atraso científico-técnico e da tecnologia frente aos países centrais do capitalismo. As revoluções aconteceram basicamente na periferia do sistema. A desigualdade de capacidade de produção científico-técnica diz respeito à desigualdade de capacidade de poder militar, econômico, político, de soberania, e inclusive capacidade produtiva para atender às demandas históricas da classe trabalhadora num processo revolucionário. Como desenvolvemos ciência e tecnologia de maneira acelerada, para reduzir a capacidade de ação do imperialismo a partir de boicotes, bloqueios, sabotagens, cerco tecnológico, etc., de maneira que esse desenvolvimento acelerado tem de se dar numa situação de cerco imperialista? Numa situação em que, tendencialmente, e com razão, aquela classe trabalhadora que fez a revolução em nome, por exemplo, de acabar com a fome, quer o retorno o mais rápido possível? Esse “retorno o mais rápido possível” é compatível com o desenvolvimento, também o mais rápido possível, de um sistema nacional de produção de ciência e tecnologia que garanta soberania de fato para a experiência socialista nascente em questão? Isso é um problema central! Um dos elementos que levou à queda da União Soviética foi o fato do governo do Nikita Kruschev ter decidido importar tecnologia durante a revolução da informática dos países europeus, ao invés de avançar numa tentativa de produção tecnológica autônoma. Isso atrasou a União Soviética, e muito, frente os países centrais do capitalismo, particularmente a Alemanha ocidental, o Japão e os Estados Unidos. Foi uma decisão equivocada – o que não significa que era fácil conseguir um nível de desenvolvimento tecnológico comparável aos países centrais do capitalismo. A China já adotou outro caminho: o caminho da China é replicável, por exemplo, para o Brasil, ou para países menores que não têm a escala populacional, o mercado interno do tamanho da China, e que não têm bomba atômica? É uma questão.
Segundo: um dos grandes problemas das experiências socialistas no século 20 é como equalizar a defesa da revolução proletária num mundo imperialista com o desenvolvimento da democracia proletária. Isso não é algo fácil, porque existe a OTAN no mundo, existe a CIA, existe o complexo industrial-militar. Um outro autor, também trotskista, o Kevin Murphy, chega a dizer que na União Soviética dos anos 30 não existia sabotagem, explosão de fábrica, de represas, etc., que tudo isso era mentira do stalinismo. É o fantástico mundo de Bob, em que a CIA, a OTAN, o complexo industrial-militar não existem, nem vai existir um processo de sabotagem, cerco, ataque, guerra permanente à experiência socialista. No mundo real não é assim. Nós precisamos fazer um debate, concreto e objetivo, de como nós por exemplo nos defendemos da CIA, mas sem matar no leito de nascimento a democracia proletária que está buscando nascer. Esses são os problemas reais que nós precisamos pensar, e o livro tenta fazer isso; tenta mudar a forma como encaramos as experiências no século 20 e recolocar os problemas concretos que a experiência histórica trouxe para nós na hora de pensar a transição socialista.

Nos últimos anos, até como você citou, você vem produzindo muito sobre a necessidade de pensar o Brasil – o passado e o futuro – de uma posição bem fincada na realidade nacional. Quer dizer, pensar concretamente a revolução brasileira, a partir do Brasil, a partir de uma visão nacionalista. É óbvio que isso, em tese, não entra em contradição com fazer um balanço histórico das revoluções do século 20, ou mesmo com conhecê-las profundamente. Só que na prática, às vezes, parece que é uma contradição de fato: essa “constituição subjetiva” que você menciona, nos comunistas, é muitas vezes mais voltada a conhecer detalhadamente a história da Rússia, Cuba, etc., do que conhecer a própria realidade nacional. Como se deu, para você, esse movimento? De vir de uma trajetória de muito estudo em relação à URSS, China, etc., e fazer esse pivô para o Brasil?
Eu acho que nós temos que partir de uma análise: o movimento comunista brasileiro nos últimos 30 anos esteve totalmente afastado do movimento de massas. Salvo pequenas exceções, muito mais de caráter local, no plano nacional nós temos um movimento comunista que não é nem um protagonista nem um ator político de importância média na luta de classes no Brasil. Isso reforçou uma tendência de termos organizações comunistas que são o que eu gosto de chamar de “partido-testemunho”. Que é aquela figura que afirma que é comunista; que afirma a identidade, a cultura política, etc., mas essa afirmação dessa cultura e identidade comunista está afastada da dinâmica de massas e do próprio trabalho de massas revolucionário. Isso cria uma tendência de fazer com que o estudo das experiências históricas do século 20 não seja voltado para pensar questões concretas da luta de classes no Brasil e na América Latina hoje, mas sim um estudo para afirmar uma identidade: “por ser comunista, eu gosto muito da União Soviética”. E aí fala-se muito da União Soviética, estuda-se muito a União Soviética, a Coreia Popular, etc., mas sem fazer perguntas básicas.
Perguntas como: a União Soviética teve muitas dificuldades de fazer a transição dos meios militares para os meios civis nos seus desenvolvimentos científico-técnicos. Ou seja, havia um desnível histórico entre o desenvolvimento científico-técnico e a capacidade produtiva da indústria ou do complexo industrial-militar soviético naquele contexto da Guerra Fria, [uma dificuldade quanto] à qualidade, a produtividade, as inovações tecnológicas dos meios civis, das indústrias, da linha branca, eletrodomésticos, carros, e por aí vai. Veja: isso é um problema concreto. No capitalismo estadunidense, como é que se resolveu esse problema? O Estado financia pesquisa de base a longo prazo, com bilhões ou trilhões de verba pública; com a pesquisa de base realizada, as aplicações civis ficam a cargo de grandes monopólios imperialistas dentro de uma competição de mercado. Como damos uma solução socialista para isso, por exemplo? Porque eu imagino que, até certo ponto, essa contradição vai se aplicar a qualquer experiência socialista. O que a URSS fez? O que precisamos pensar no Brasil? Ou então: como a URSS lidou com sua questão agrária? Há alguma lição que precisamos tirar disso? É para imitar, para não imitar, tem algo semelhante?
Ou seja: ao invés de perguntar-se o que a experiência desses países me diz respeito em termos de tomada do poder e conquista do socialismo, nós estudamos como um fim em si mesmo, como um fim identitário. E aí os comunistas brasileiros, infelizmente, me parece que têm um certo negacionismo. Porque se concentram na ideia de que estamos certos. De fato, tendencialmente nós estamos certos, ao menos a nível de uma afirmação básica: não há saída para a classe trabalhadora – e, acrescento, para o meio-ambiente – no capitalismo; precisamos de socialismo. Perfeito. Só que nos últimos tempos nós vimos fenômenos políticos reformistas conseguirem ganhar, por exemplo, mais encantamento na juventude do que os comunistas. Por quê? O Ciro Gomes, por exemplo, em 2018, conseguiu empolgar muito mais jovens no Brasil inteiro – e claro, podemos observar que jovens no perfil de classe média, é inegável –, mas conseguiu empolgar muito mais do que os comunistas e a candidatura, que os comunistas apoiavam em 2018, que foi o candidato Guilherme Boulos. O que esse fenômeno diz pra gente?
Me parece que há também uma certa falta de percepção de que por mais que cresça a audiência do movimento comunista em certos setores da juventude e da classe trabalhadora a partir da agitação e propaganda na internet, os comunistas hoje não pautam nenhum tema estratégico para o país na luta de classes. Questão da ciência e tecnologia, saúde, educação, questão urbana, agrária, Defesa, política externa, etc.: nós não somos uma força política. Inclusive até como corrente de opinião, não falo nem como movimento de massas. Enquanto corrente de opinião, não conseguimos pautar nenhum tema central. Ou seja: eu resolvi fazer essa transição porque me parece que há um limite do que nós conseguimos criar enquanto força política num marxismo que se dedica a refazer o balanço histórico do século 20. Veja: é um trabalho fundamental, eu espero que vários camaradas continuem esse trabalho, continuem a fazê-lo. Eu estou dando minha contribuição sintetizada nesse livro, mas eu quero ir para um segundo momento: tomando como premissa esse novo balanço do século 20, debater agora o legado, a concretude histórica e as tendências da revolução brasileira.
Porque as coisas parecem um pouco abstratas quando se estuda as revoluções: parece que aconteceu a Revolução Cubana porque todo cubano virou comunista. Ou que ocorreu a Revolução Russa porque todo russo virou bolchevique. Não é assim que acontece: no auge da luta da Sierra Maestra, na situação pré-revolucionária, o Movimento 26 de Julho do Fidel Castro mal tinha mil militantes. Os bolcheviques, na boca da revolução, não chegavam a ter 30 mil militantes na Rússia inteira. E assim vai indo. Há uma particularidade para as revoluções na China, Coreia e Vietnã porque, como foram processos de guerra popular prolongada, antes da conquista do poder a nível nacional houve a conquista paulatina de certos territórios, mas a tendência geral não é que uma organização revolucionária conquiste o poder político porque recrutou a maioria da população trabalhadora de um país, isso não acontece. Inclusive, tendencialmente, não acontece nem sequer no pós-tomada do poder. No pós-tomada do poder, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras vai continuar não sendo militante do Partido Comunista. A revolução acontece porque o partido revolucionário, ou partidos revolucionários – a vanguarda compartilhada –, consegue expressar os desejos imediatos e históricos da classe trabalhadora, dando respostas concretas e objetivas para os principais dramas dessa classe trabalhadora, que é necessariamente nacional.
Veja: nunca houve uma revolução em que a demanda principal fosse “vamos tomar o poder para enfraquecer o sistema imperialista global”, ou “vamos tomar o poder para sermos solidários a nosso vizinho”. Toda revolução tem uma pulsão internacionalista, mas responde fundamentalmente a demandas da classe trabalhadora daquele território. Há um trecho famoso de um texto de Marx e Engels que as pessoas esquecem bastante, em que dizem que a tarefa fundamental dos comunistas é se acertar com a sua burguesia. Tomar o poder no seu país. Essa é a primeira tarefa. A maior contribuição que a gente pode dar para o internacionalismo proletário é derrotar o imperialismo e a burguesia brasileira no Brasil. E para isso nós precisamos de uma formulação; é preciso acabar com essa dicotomia que existe entre os gênios da estratégia, que debatem estratégia da revolução socialista mas que são incapazes de fazer qualquer disputa hoje da política econômica, por exemplo; e os gênios do pragmatismo, especialistas em debater a política econômica, a política educacional, etc., mas sem nenhum horizonte de revolução brasileira. Nós precisamos ser os melhores; os melhores nos confrontos de hoje, na disputa dos rumos da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da infraestrutura, da questão ambiental, conectando todas essas lutas de curto, médio e longo prazo com a estratégia revolucionária de conquista do poder. E para isso a gente precisa mergulhar no Brasil.
Porque olhe: eu estou convencido de que uma das principais armas da burguesia brasileira e do imperialismo é a fragmentação regional, o insulamento particularista que um militante de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Pará, de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, etc., tem em relação ao seu país. Cada brasileiro vive muito o seu Estado como uma espécie de mini-pátria, pouco antenado – com exceção do momento da eleição presidencial – com o destino do País como um todo. Isso é fundamental no sistema de dominação vigente no nosso Brasil.
Voltando um pouco para o século 20 e as experiências socialistas; há algo que me incomoda um pouco, que é uma crítica fácil de que o movimento comunista no século 20 ficou muito a reboque da União Soviética e da Internacional Comunista (IC) e que isso teria impossibilitado que a revolução prosperasse; então em países como o Brasil, por exemplo, isso se expressa na clássica crítica de que o PCB ficou a reboque da estratégia de compor com setores da burguesia e que isso impossibilitou que aproveitasse os momentos revolucionários. Só que houve países em que os Partidos Comunistas estavam ligados à IC e mesmo assim, digamos, na “hora H” da revolução quebraram, e seguiram sua própria linha. Como você vê a ideia do internacionalismo à luz disso? Porque me parece que às vezes, entre os comunistas, se fala em internacionalismo de uma forma muito abstrata; quase como se significasse um mundo em que um Estado socialista ou um Partido Comunista que luta por sua revolução abrissem mão de seus interesses nacionais em busca de uma universalidade que não existe, não está posta, porque o mundo segue dividido. Você acredita que possa existir de fato um internacionalismo desprendido dessa questão nacional?
A pergunta é muito boa, porque uma das teses mais fundamentais do Domenico Losurdo é falar que os problemas no campo socialista se revestiram de grandes divergências ideológicas como uma forma de ocultar o choque entre razões de Estado, entre interesses nacionais divergentes. Antes de ter a revolução na Rússia e a revolução na China, o império chinês e o império czarista tinham problemas territoriais. Fazem fronteira, e tinha problemas de disputa de territórios. Isso continuou na Rússia socialista e na China socialista. A disputa entre Mao e Stálin não era só uma disputa ideológica entre linhas políticas divergentes; era também uma disputa territorial, uma disputa de segurança. A União Soviética, por exemplo, não queria que a China tivesse bomba atômica. Por que? Porque não queria um vizinho seu com bomba atômica. É uma lógica clássica da razão de Estado; uma premissa inclusive do realismo político: que o ideal é que seus vizinhos tenham a menor capacidade dissuasória possível. E aí, claro: não era só isso, existiam também divergências ideológicas. Mas o “colorido” das divergências ideológicas e políticas foi muito sobrevalorizado para não entendermos questões concretas. Os problemas entre a Iugoslávia e a Albânia, por exemplo: não é que o Enver Hoxha não achasse de verdade que o [Josip] Tito era um revisionista – poderia achar –, mas o fato é que a Iugoslávia queria anexar a Albânia. Uma questão de soberania, independência nacional. A Coreia Popular, vulgo Coreia do Norte, sempre teve uma posição de equidistância em relação à China e à URSS, porque percebia que no meio de duas grandes potências havia o risco de ser assimilada por uma delas. A Coreia Popular chegou a proibir escritos de Mao e Stálin, por exemplo. No Vietnã… O Vietnã foi invadido pela China, porque a China não queria uma potência média, porque o Vietnã, vencendo a guerra contra os EUA e reunificando o país, tinha a possibilidade de se tornar uma potência média – como é hoje um país importante em ascensão em complexidade produtiva, domínio científico-técnico e em importância na divisão internacional do trabalho. A China invadiu o Vietnã.
Então veja: há contradições nacionais. Aí o pessoal fala, e acho que é verdade: “Cuba é o melhor exemplo de internacionalismo”. Eu diria que sim, mas isso diz uma coisa… Cuba não tinha nenhum país socialista em volta. Quando você não tem nenhum país socialista à sua volta, não há uma questão nacional em um país socialista na sua fronteira, e sua capacidade de exercer plenamente o internacionalismo sem contradições é maior. As pessoas esquecem da Alemanha Oriental: teve uma postura tão ou mais internacionalista que Cuba, foi fundamental, por exemplo, na solidariedade para os países libertos de África em termos de provisão de tecnologia, aumento da capacidade produtiva, médicos, engenheiros, professores, etc. Mas a Alemanha Oriental estava ali isolada; era mais fácil para ela ter uma postura internacionalista que parecia mais pura, sem ter as divergências que teve China e União Soviética, ou Coreia-China-União Soviética, China e Vietnã, Albânia e Iugoslávia, etc.
Então há uma questão nacional. Se hoje houvesse revoluções no Brasil e na Argentina, isso não significaria, por exemplo, que uma atuação conjunta desses dois países seria fácil. Não é automático. Porque há questões históricas de rivalidade entre o Brasil e a Argentina para exercer projeção na América do Sul. E a Argentina historicamente tem uma certa desconfiança em relação ao Brasil, de que o Brasil quer se comportar como uma potência hegemônica na América do Sul, garantindo em primeiro lugar seus interesses. Então há questões nacionais, há questões históricas. E aqui, veja, eu acho que há uma falha de origem em alguns marxistas: nem tudo é resumido à busca pelo lucro ou à materialidade da luta de classes de maneira mais imediata. Há questões seculares, anteriores ao capitalismo, que se mantêm inclusive até depois do capitalismo, e que respondem à formação territorial, a conflitos de fronteira, a identidades etno-linguísticas que não vão acabar e que não são resumíveis, no imediato, à luta de classes – veja, não escapam, não estão fora da luta de classes; mas não se resumem à luta de classes. Por exemplo: a desconfiança histórica entre Rússia e China diz respeito a questões objetivas, que continuam se expressando no socialismo dos dois países. De maneira diferente, mas continuam. Vamos imaginar: a Bolívia tem uma questão histórica com o acesso ao mar. Se todo o continente sul-americano virasse socialista amanhã, não significa que isso seria uma questão resolvida facilmente, não. “Vamos garantir acesso ao mar aqui para a Bolívia, porque somos todos irmãos, Pátria Grande” – veja, infelizmente não é assim que funciona.
Eu creio que precisamos pensar um internacionalismo concreto, dentro de limites de uma razão de Estado – que existe. Há uma equação que é muito difícil, e cujo debate, especialmente os trotskistas do século 20, tendem a dar de barato: a diplomacia soviética estava certa em considerar que, a partir do momento que Hitler sobe ao poder, toda a diplomacia da Inglaterra, França e Estados Unidos caminhavam no sentido de jogar o expansionismo alemão contra o Leste Europeu, contra a União Soviética, para deixar os dois se matarem. E esse foi o objetivo estratégico dos EUA, da Inglaterra e da França – abertamente declarado, inclusive, por várias figuras do primeiro plano. Eu cito isso no livro, no capítulo que faço o debate sobre o pacto de não-agressão germano-soviético. A URSS acabou assumindo o maior fardo da guerra; foi o país mais destruído, que teve mais perdas humanas e por aí vai. No contexto do final da Segunda Guerra, acontece por exemplo uma revolução na Grécia. Já no final da guerra, tudo o que se queria era uma disputa para começar de imediato um novo front de guerra contra a URSS. O governo soviético, com Stálin à frente, decidiu não socorrer a revolução grega, e deixou, na prática, que a Inglaterra esmagasse a revolução grega. O Stálin está certo ou errado? De um ponto de vista do internacionalismo proletário puro, deixou uma revolução ser esmagada – claro que está errado. Mas do ponto de vista da responsabilidade com o seu povo faria sentido, depois de perder mais de 25 milhões de pessoas, embarcar diretamente num apoio militar – porque é disso que estamos falando – a um processo revolucionário que poderia redundar no início de uma nova guerra? Esse cálculo não é fácil. Não é um passeio no parque fazer um debate sobre isso. Eu não gosto muito do Fernand Braudel, mas eu acho que o pensamento marxista tem de dar uma complexificada em algumas coisas; beber um pouco mais da geografia – e eu nem sou tão bom em geografia [risos] –, pensar um pouco mais em estruturas de longo prazo, debater com mais concretude a questão militar, um pensamento geoestratégico de defesa, etc., porque tem coisas que não são fáceis de debater, que não são fáceis de se equacionar.
Então, por exemplo: um Brasil em que tomamos o poder, um Brasil socialista. Se a nossa querida Colômbia quisesse ter armamento atômico, qual deveria ser a postura do Brasil? Sinceramente, ser contra. Mas nós temos de ter armamento atômico. Princípio de realismo político: como país mais importante da América Latina, a ponta de lança de qualquer processo revolucionário ou contra-revolucionário – porque vamos lembrar que a onda de golpes empresarial-militares na América Latina teve como início o golpe no Brasil, que foi fundamental para a vitória inclusive de outros golpes, como o contra Salvador Allende no Chile –, mas não dá para nós acharmos natural, também, que vários vizinhos nossos tenham capacidade de dissuasão atômica. Isso não é tranquilo. Mas a gente tem que ter [risos]. Então assim, como é que se equaliza isso? São questões concretas da gestão do poder… Eu faço esse debate no livro, sobre como há um certo marxismo que faz uma apologia de todo mundo que não tocou no poder político, adora quem morreu; Mariátegui, Gramsci, Rosa Luxemburgo, Che Guevara – que ficou pouco tempo como ministro… Se gosta de todo mundo que nunca virou chefe de Estado. Claro, porque ao ser chefe de Estado, há de se lidar com certas contradições, com certos problemas, que não são fáceis. Isso não significa uma postura justificacionista; eu acho por exemplo que historicamente a política externa da República Popular da China é ultra-problemática e muito auto-centrada. O que inclusive criou dificuldades para a própria China. Eu acho que a forma como a China contribuiu para o isolamento da URSS criou problemas para a própria China: a contra-revolução poderia ter vencido lá. Hoje nós falamos da questão da Praça da Paz Celestial e todo aquele processo do final dos anos 80 como algo que foi um plano de fundo para a mudança de estratégia da modernização chinesa com as Reformas e Abertura – mas aquilo poderia ter sido a vitória da contra-revolução. Às vezes, porque a contra-revolução foi derrotada, parece que não falamos com o nível de gravidade que aquilo teve. Mas tanto na China como no Vietnã e na Coreia foram crises econômicas e políticas sequenciadas que poderiam ter acabado com aquilo. Então essa política externa muito auto-centrada, muito preocupada com seus objetivos nacionais imediatos, também pode trazer muitos problemas; mas o internacionalismo abstrato…
Na abordagem de algumas figuras marxistas parece que não acontece revolução nos países vizinhos por decisão do país socialista. E nós já tivemos a experiência histórica de pegar os exércitos vermelhos e invadir outros países para tentar levar a revolução na base da bala, que foi o que o Exército Vermelho fez na Polônia. A resposta do povo trabalhador e dos camponeses da Polônia não foi ver esse exército como um libertador, mas sim como um invasor, e lutar para defender sua nacionalidade frente o russo. Não viram ali o soldado soviético que vinha libertá-los dos barões feudais, viram ali o russo invadindo a Polônia; “vamos defender a Polônia”. O Gramsci chamou isso de napoleanismo anacrônico. Acho que precisamos aprender com a história.
Em diversas partes do livro, você se bate com a Hannah Arendt, intelectual que consagra a categoria de “totalitarismo”, muito importante até hoje para a tentativa de equivalência entre a URSS e a Alemanha nazista. É interessante, porque me parece que, por trás da ideia de “totalitarismo” há antes uma pedra fundamental, que a Arendt também usa, que é essa denúncia liberal-conservadora da revolução como uma explosão de violência; haveria um problema na violência das massas, para quebrar a ordem, mas a violência institucional, das elites, para manter a ordem não seria tão problemática, não levaria aos problemas totalitários. Algo que, se olharmos para o Brasil, também encontraremos, tanto em liberais quanto em conservadores. Qual sua visão sobre esse tema? Do papel revolucionário da violência e por outro lado essa violência cotidiana, que muitas vezes sequer é chamada assim.
A Hannah Arendt aparece bastante no livro porque ela é a principal teórica, e talvez inclusive a mais refinada e qualificada, desse balanço demonizador das experiências socialistas no século 20. Lembrando que ela é muito coerente; porque ela, para demonizar o movimento comunista que tem origem na Revolução Russa, bate na Revolução Francesa – porque entende o movimento comunista como continuador da tradição jacobina radical – e oculta, como se nunca houvesse existido na história da humanidade, a Revolução Haitiana. Há uma tese do Domenico Losurdo que eu acho central: quando se pensa a modernidade, a modernidade é uma progressiva expansão do colonialismo e de uma hierarquia centrada num sistema-mundo europeu em que a maioria da humanidade está na condição subhumana, subjugada, sob o mais brutal regime de dominação e exploração. Há três grandes eventos paradigmáticos na modernidade que começam a apresentar uma contra-tendência: a Revolução Haitiana, a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Essas revoluções têm uma trinca de continuidades; a tradição radical jacobina depois se transforma na tradição socialista que vai descambar no marxismo, e a tradição anticolonial e anti-escravagista da Revolução Haitiana, que foi fundamental por exemplo no processo de libertação das Américas – vamos lembrar que o único país do mundo que na prática deu apoio a Simón Bolívar foi o Haiti – que também se encontra com o marxismo a partir da Revolução Russa, com a Internacional Comunista colocando como critério central para se aderir a ela tomar uma posição anticolonial de fato, coerente e sem contradições, sem conciliações a qualquer tipo de chauvinismo burguês. Então essa tradição Jacobina e Haitiana se encontram na Revolução Russa e têm uma continuidade, que passa pela Revolução Cubana, Chinesa, Revoluções Africanas, etc.
Então a Hannah Arendt é muito coerente, porque o que ela faz? Primeiro: demoniza toda essa tradição, e demoniza a Revolução Haitiana por ocultamento – esse é um ponto que eu acho inclusive que eu errei, por não ter dado a devida atenção a isso… Debati muito já os ataques de Arendt à tradição jacobina e à tradição bolchevique, sem ter dado a devida atenção a quanto, nesses ataques, ela simplesmente finge que a Revolução Haitiana não existe; e é claro que ninguém faz um debate sério sobre o século 19 sem falar da Revolução Haitiana. No Brasil, por exemplo, a classe dominante da época do Brasil Império morria de medo do que se chamava de “haitianização do Brasil”; antes do fantasma do comunismo, o grande fantasma para a elite dominante no Brasil era o da “haitianização”. Quando viram a Revolta dos Malês, viram ali um prenúncio de uma revolução ao estilo haitiana no Brasil, para se ter uma ideia do impacto dela em todos os países da América Latina e do mundo.
Mas voltando às malícias que Hannah Arendt faz: ela demoniza o papel da violência dos oprimidos, não fazendo um debate sobre a violência constitutiva do sistema capitalista e imperialista; ela nega, anula, o conceito de guerra de libertação – e não dá para contar a história do século 20 sem a teoria e a prática da guerra da libertação, ou seja, um povo com menos poder econômico e militar que se rebela contra uma potência mais poderosa e adota várias formas de guerra para vencer uma máquina política, econômica e ideologicamente superior. E ela anula isso fazendo um debate segundo o qual a guerra e a violência são a negação da política, porque a política é por essência diálogo, desconsiderando que, como traz brilhantemente Frantz Fanon, que também é comentado no livro, para os povos colonizados a premissa da condição da palavra na posição de ser humano é a destruição do colonialismo, porque o colonialismo é a negação total da humanidade do colonizado. E o colonialismo é uma máquina que só vai ser subjugada pela força. Então ela oculta todo esse debate. E faz uma reflexão em que parece que a dimensão da violência é uma escolha que nós podemos fazer ou não enquanto povos oprimidos.
Eu lembro que, quando li o livro “Adam Smith em Pequim”, do Giovanni Arrighi, tinha uma nota de rodapé despretensiosa, marginal para o debate do livro, em que o Giovanni Arrighi cita um autor que diz: “no pós-Segunda Guerra, foi a primeira vez na história da humanidade que uma potência conseguiu manter bases militares com efetivos mobilizados de maneira permanente em todos os quatro cantos do mundo”. Já parou para pensar a dimensão militar do imperialismo no pós-Segunda Guerrra? Porque até então tínhamos várias potências que tinham suas zonas de influência, e por mais que a Inglaterra fosse “o império onde o sol não se põe”, ela não tinha bases militares em todos os quatro cantos do mundo, com tropas prontas para serem mobilizadas e com capacidade técnica para fazer guerra em várias frentes globais ao mesmo tempo. Os Estados Unidos têm. Então nós estamos lidando com uma situação em que qualquer reflexão sobre política que desconsidere a guerra, qualquer reflexão sobre revolução que desconsidere a guerra, é simplesmente uma reflexão – para usar a palavra da moda – negacionista. Porque desconsidera que nunca antes na história da humanidade a gente teve uma máquina militar tão capilarizada no mundo inteiro. Há capacidade técnica para os Estados Unidos estar em confrontos militares de grandes proporções, ao mesmo tempo, na América Latina, África, Ásia, Oceania, Groenlândia, onde você imaginar. E, na prática, a Europa Ocidental é um protetorado dos EUA, porque está cravada de bases militares – o mesmo pode ser dito da Coreia do Sul. Algumas pessoas inclusive falam da Coreia do Sul como um Estado cliente dos EUA, dada a capacidade geoestratégica de domínio militar que os EUA têm instalada no país a partir da sua infraestrutura militar. Então veja: falar de política sem falar de violência, desde uma dimensão geopolítica, já é um absurdo. No caso da América Latina… Veja, no caso da nossa região, o monopólio legítimo da violência pelo Estado nunca aconteceu, viu? O que existe é um privilégio do uso da violência pelo Estado, ou uma prerrogativa primeira. Mas no Brasil e nos demais países da América Latina, os proprietários fundiários nunca foram desarmados. Nunca. Mudou-se a forma, a maneira como isso se apresenta e por aí vai, mas é um dado, inclusive, que toda instituição burguesa sabe, que se você é um fiscal do trabalho, por exemplo, você não pode entrar sozinho numa fazenda – por mais moderna que ela seja. Você tem que ir acompanhado da Polícia Federal, porque se sabe que há capangas armados lá. Isso é um dado conhecido: eu lembro que quando eu pagava a cadeira de história dos trabalhadores do açúcar na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a brilhante professora Christine Dabat, ela comentava que mandava seus orientandos, quando tinha fiscalização da Justiça do Trabalho junto com a Polícia Federal, e eles só entravam com a Polícia; e que as próprias pessoas do Judiciário só entravam nas fazendas ou usinas de cana-de-açúcar com a Polícia Federal, com medo. Porque sabem que todo mundo ali tá armado. E isso sem falar nas diversas formas de armamento de grupos urbanos, legais ou ilegais. Então veja: goste-se ou não, a violência é um dado da realidade. Negar a violência, negar o papel da força da disputa política, é uma bela forma de a gente ser derrotado.
Você, Pedro, é um especialista sobre a questão militar, e acompanhou, no pré-eleição de Jair Bolsonaro, várias e várias figuras da esquerda brasileira dizendo que os militares não tinham nenhuma intenção de golpe, e que eram legalistas e profissionais. Eu até me aventurei a escrever um texto sobre isso, em 2021, quando Jaques Wagner, o próprio deputado Guilherme Boulos, de maneira mais tímida, e várias outras figuras falavam que as Forças Armadas eram profissionais, sérias, técnicas e não participariam de nenhuma aventura golpista. Aí veio o 8 de janeiro, né? Então a equação da violência não é fácil de ser resolvida; mas não dá para negar ela. Tanto no plano nacional quanto no plano internacional, quem pensa política sem pensar a violência está equivocado, está fadado ao erro. E se, em momentos de refluxo da classe trabalhadora, como é o momento que a gente vive, não é possível falar em armamento geral do povo, como num processo revolucionário, por outro lado, como diria Lênin, é fundamental que a gente prepare os quadros políticos no mínimo com um domínio teórico sobre o que é que significa a relação entre política e força. É o mínimo que a gente deve fazer; preparar os quadros das organizações populares para compreender, com realismo político, o que é o mundo real na luta de classes nos planos nacional e internacional.
Um outro tema que você aborda no livro, em mais de um texto, é a questão racial. Há um capítulo sobre o papel do leninismo nas revoluções anticoloniais na África, por exemplo, outro sobre o antirracismo revolucionário nos Estados Unidos, etc. Sei que sai um pouco do tema, é um balanço que você não faz no livro, mas que balanço você faria sobre a forma como o movimento comunista no Brasil lidou e lida hoje com a questão racial?
Eu faço muito um debate sobre a questão racial e colonial porque para mim a chave central para bater na categoria de totalitarismo são as questões racial e colonial. Porque o pressuposto do debate sobre totalitarismo é você criar duas figuras mitológicas: 1 – uma democracia liberal, que garante a liberdade, a igualdade, a democracia; 2 – um mundo totalitário comunista, que é igual ao mundo totalitário nazifascista. Isso tira de cena o que era a história da maioria da humanidade durante boa parte do século 20, né? A maioria da humanidade até os anos 60 estava colonizada: China, Índia, Paquistão, Indochina, o continente africano praticamente inteiro, vários países da América Central, etc. Há até um texto de Lênin, que é um informe sobre a situação internacional à Internacional Comunista – acho que de 1920 ou 1921 – em que Lênin faz as contas; pega cada país que está colonizado, estabelece a população de cada país, e no total há tantos milhões de seres humanos colonizados, e dá um número que chega a quase 70% da humanidade. Isso por um lado.
Por outro, acho que há um desafio muito particular do Brasil. O meu amigo Alexandre Vasilenskas vem falando bastante sobre isso: uma das chaves para conquistar um movimento popular forte – e aqui não estou entrando num debate dos limites –, mas inegavelmente um movimento popular forte e enraizado na Bolívia foi a fusão entre marxismo e indigenismo. Eles conseguiram unir a razão proletária e a razão indígena num mesmo projeto político, num mesmo corpus teórico, e criaram o Movimento Ao Socialismo (MAS) – que agora está com problemas e rupturas –, mas veja: o MAS conseguiu transformar a face da Bolívia e uma coisa que é rara; derrotaram um golpe de Estado. Os golpistas foram para a cadeia… E não dez ou quinze anos depois; deram um golpe em 2019, menos de dois anos depois o golpe está sendo revertido e os golpistas estão presos. Quantas vezes na história da América Latina nós vimos isso? Atenção! Então essa chave teórica que o MAS conseguiu… Lá na Bolívia, a questão racial é a questão indígena. A massa proletária, explorada e oprimida é indígena ou descendente. No Brasil, é a questão negra – sem desconsiderar a questão indígena, que também tem uma importância estratégica particularmente nesse momento de expansão do agronegócio –, mas a grande massa trabalhadora aqui é negra e parda. Então a fusão do marxismo com a questão racial aqui tem uma função semelhante do que é a fusão do marxismo e a questão indígena na Bolívia ou no Peru, por exemplo – foi o que Mariátegui intuiu há mais de cem anos e tentou fazer. De tal sorte que, partindo dessa premissa, nós vamos dizer o que? Que a questão negra é estratégica para pensar uma teoria e um projeto de revolução brasileira. Se é estratégica, infelizmente a conclusão a que a gente chega é que ela foi mal abordada.
Não negando o que conseguimos fazer; nós temos por exemplo a obra do Clóvis Moura, a obra do professor Wilson Barbosa, reflexões atuais – acabou de sair a edição da revista Jacobina, que anteriormente era a Jacobin Brasil, que tem como tema Raça e Classe no Brasil, com pensadores de esquerda, marxistas, anarquistas, pós-capitalistas, ecossocialistas, negros e indígenas, e foi uma revista que conseguiu mostrar uma potência e uma qualidade teórica incrível. Tem grandes pensadores ali: a Cristiane Sabino, uma intelectual fantástica; o Marcio Farias; o Deivison Faustino, um dos grandes estudiosos de Fanon no Brasil; o próprio Marcos Queiroz, editor da revista, um dos maiores estudiosos do Brasil sobre a Revolução Haitiana, e por aí vai. Então nós temos um legado, uma contribuição prática e teórica; mas é muito pouco. É muito pouco.
Me parece que uma outra arma da classe dominante no Brasil, que é mais conhecida e foi sintetizada no mito da democracia racial, é negar a centralidade da questão negra para analisar o Brasil. A classe dominante brasileira conseguiu várias coisas no século 20 até os dias atuais: conseguiu derrotar qualquer projeto de encontro do marxismo com o nacionalismo – então o marxismo hoje é cosmopolita, não quer saber da questão nacional, da soberania nacional, em alguns espaços se você falar de questão nacional, não importa a forma, vão chamar você de fascista, algo incrível, realmente triste; e conseguiu o afastamento do marxismo da questão negra. Porque vamos lembrar: até a Revolução de 30 a grande questão nacional para a burguesia, seus intelectuais e a alta burocracia do Estado, era a questão negra. Era dizer que o Brasil não tinha futuro, nunca seria um país desenvolvido, porque é um país muito negro e mestiço. A Revolução de 30 cria uma ressignificação dessa leitura, tira da chave racial e da chave do determinismo climático, e traz para uma chave econômica, num debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento que se consolida no pós-Segunda Guerra. Mas isso fez com que, ao invés da questão racial ser resolvida e enfrentada por outros prismas que não o de um racismo científico, de um determinismo biológico e geográfico, ela fosse jogada para debaixo do tapete! Então isso comparece na obra de grandes pensadores: o Caio Prado Júnior, o Ruy Mauro Marini, o Celso Furtado, a Vânia Bambirra, a Maria da Conceição Tavares, o Theotônio dos Santos… É impressionante como eles não conseguiram tematizar a questão negra, passaram ao largo! Como se fosse uma questão secundária.
Eu comecei a ler um livro do Theotônio dos Santos, “A evolução histórica do Brasil”, em que o Theotônio, quando vai falar da época do Brasil Colônia, chama ela de regime de trabalho servil. Então assim, é “trabalho servil”: como se o que caracterizasse fosse o trabalho compulsório, e não o trabalho escravagista lastreado num padrão de racialização, um trabalho escravo baseado na ideia de que o escravo é o negro, pardo ou indígena. Assim… Como assim, Theotônio? Não dá pra falar em trabalho servil, porque o trabalho servil é indeterminado! Não explica a singularidade do escravismo brasileiro, percebe?
Então eu acho que nós precisamos muito avançar nisso. E essa incapacidade do marxismo de encarar a questão racial como uma questão estruturante do Brasil facilita muito o trabalho do liberalismo, né? Do liberalismo no movimento negro. Porque a partir do momento em que você está dizendo que o racismo se expressa fundamentalmente na esfera da cultura, da subjetividade e da institucionalidade, é natural que o programa de superação disso esteja focado na cultura, na subjetividade e na representatividade das instituições públicas e privadas. Então o problema da questão racial no Brasil seria um problema de integração da parcela negra, “as oportunidades”. Ou seja: é dizer que uma grande parcela da classe trabalhadora brasileira vai ter seus problemas resolvidos com uma modernização capitalista das oportunidades, em que cada um vai disputar seu espaço de uma maneira igualitária dentro de um mercado capitalista sem barreiras raciais. Isso precisa ser combatido e superado para ontem, se a gente quiser ver realmente uma revolução no Brasil.
Nem todo mundo sabe disso, mas por boa parte do início da sua trajetória intelectual você teve uma admiração, esteve próximo, do trotskismo – não sei se seria justo dizer que era trotskista. Como se dá essa mudança, de você ser um estudioso de Trótski, um admirador de Trótski, e alguns anos depois estar sendo chamado publicamente de stalinista?
Eu me considerava trotskista sim. Acho que o que me aproximou do trotskismo foi, no começo, com baixa densidade de conhecimento histórico, baixa densidade teórica, o que você almeja com uma experiência socialista é meio que aquele “socialismo celestial”, sem contradições, sem problemas. E aí Trótski sempre foi vendido, na literatura com a qual tive contato, como o exato oposto do Stálin: então havia autoritarismo no stalinismo – Trótski era o defensor da democracia proletária plena; tinha repressão à liberdade artística e criativa – Trótski era o defensor pleno da liberdade criativa no socialismo; e por aí vai. O que fez eu me afastar do trotskismo foi, curiosamente, a leitura da trilogia do Isaac Deutscher, “O profeta armado”, “O profeta desarmado” e “O profeta traído” – que são inclusive livros muito bons, o Isaac Deutscher era um historiador fantástico. E nesses livros, dentre outras coisas, ele mostra que, quando era comandante do Exército Vermelho, a imagem de um Trótski a favor de uma democracia plena, contra a repressão, não se sustenta. O Isaac Deutscher mostra por exemplo como, quando Trótski era comandante do Exército Vermelho e houve greve de ferroviários na Ucrânia, ele mandou prender. Porque do ponto de vista militar era necessário que aquelas linhas de ferro estivessem funcionando para as manobras do Exército Vermelho; “não vai fazer greve agora não, vou prender” [risos]. Percebe?
Então a biografia do Trótski escrita pelo Deutscher trouxe para mim realismo político. Porque eu fui forçado a pensar várias questões que eu realmente não tinha pensado. É muito gostosa, muito tranquila, a ideia de que no socialismo tudo vai ser negociado e conversado. Mas como é que fica, por exemplo, a justa reivindicação de trabalhadores ferroviários que estão recebendo um salário muito baixo, com dificuldade de acesso a suprimentos, e que decidem parar uma ferrovia, frente as necessidades postas por uma guerra civil que precisa daquela ferrovia funcionando? Não necessariamente isso é resolvido no diálogo. Não estou dizendo que o que Trótski fez foi certo, sabe? Estou dizendo só que a vida é dura [risos]. A ideia de que a democracia proletária, a democracia de base, vai resolver tudo, não se fundamenta no mundo real.
E essa perspectiva de realismo… Certa vez eu falei disso no Twitter e as pessoas até hoje pegam esse post – eu deixei lá, não apaguei não – para me atacar, em que eu falo que gosto muito da ideia de um realismo político revolucionário. Para quem não sabe, quem fala disso é Gramsci. Gramsci fala que a Revolução Russa deu ao marxismo uma nova leva de estadistas revolucionários. Gramsci é muito comentado, mas é preciso ler: nos Cadernos do Cárcere, ele fala diversas vezes sobre diplomacia, política externa, exército, marinha, como pensar uma burocracia de Estado eficiente, etc., dentro de uma perspectiva socialista. Gramsci reivindica e formula sobre a categoria do “estadista revolucionário”, e ele pensa, inclusive, o partido revolucionário como um produtor de estadistas revolucionários para o momento em que o poder é conquistado. Inclusive muitas vezes nós falamos isso sem perceber: falamos “um partido de quadros que seja capacitado para a conquista e garantia do poder”. Um partido de quadros? O que estamos falando é da formação de uma geração de estadistas. É disso que estamos falando, não é?
E quando se fala de poder, o poder tem certas regras. Não importa se socialista ou capitalista: o poder tem certas regras. Uma das regras, por exemplo: é necessário garantir segredo de Estado em relação às suas capacidades de defesa e dissuasão. Não dá para deixar aberto, para quem quiser saber, a situação do seu sistema de defesa – não importa se o país é socialista ou capitalista, enquanto existir imperialismo no mundo isso não vai mudar. Outra: em uma situação de enfrentamento com o imperialismo, não se pode deixar prosperar movimentos separatistas. E não estou dizendo que há de se lidar com isso, necessariamente, com repressão. Mas veja: não pode deixar prosperar. Rosa Luxemburgo, também muito comentada mas aparentemente pouco lida, defendia naquele famoso texto sobre a Revolução Russa, que ela não publicou em vida, que os bolcheviques deveriam esmagar com punho de ferro os movimentos nacionalistas nascentes. Ainda bem que os bolcheviques inclusive não seguiram os conselhos da Rosa Luxemburgo naquele panfleto que ela escreveu.
Então eu penso que o que me afastou do trotskismo é que acho que ele tem uma tendência muito pequeno-burguesa de idealizar as condições de transição socialista, de imaginar um mundo perfeito, e também de pensar as coisas como se fossem fáceis. Porque, por exemplo – e sem entrar em nome de organização, porque acho desnecessário – mas até hoje há uma tendência dos trotskistas em dizer que o grande problema do Brasil é que falta uma auditoria da dívida pública, então se tivéssemos uma auditoria da dívida pública esses 700 bilhões que vamos pagar em juros da dívida nós não pagaríamos, decretando a moratória da dívida e tendo 700 bilhões sobrando para investir em saúde, educação, cultura, lazer… Veja: isso é falso. Isso não é verdade. Não é assim que funciona. Então há sempre uma resposta falsa.
Eu lembro que recentemente uma organização trotskista disse que o grande problema da Venezuela é que eles conciliam com a burguesia, porque continuam pagando a dívida externa; tem que parar de pagar a dívida externa. Veja, a Venezuela importa quase tudo o que precisa; para importar você precisa de moeda forte; moeda forte é o dólar. Se a Venezuela por exemplo decreta uma moratória da dívida externa e perde o acesso a qualquer mercado de dólar – e boa parte da dívida dela hoje, inclusive, é com a China, então não faria sentido decretar moratória frente a um país que não tem a posição dos Estados Unidos –, mas se fizesse isso, a Venezuela simplesmente entraria em uma crise de desabastecimento que faria parecer uma brincadeira de criança o que aconteceu nos últimos anos, e numa hiperinflação de mais de 5000% ao ano.
Então acho que é isso. Realismo é diferente de pragmatismo. No Brasil se usa a palavra pragmatismo como sinônimo de não enfrentar nada e se acomodar às estruturas postas. O realismo é pensar concreta e objetivamente como você pode enfraquecer seu adversário, conquistar o poder e mantê-lo – claro, dentro de certos princípios éticos de um projeto revolucionário e socialista, mas esses princípios éticos não negam que há dinâmicas do poder que são dinâmicas de longa duração histórica. É por isso que Maquiavel até hoje é tão útil para nós pensarmos a questão do poder e da política; e é por isso que Lênin lia e muito estes autores, como Clausewitz, e vários outros autores clássicos.