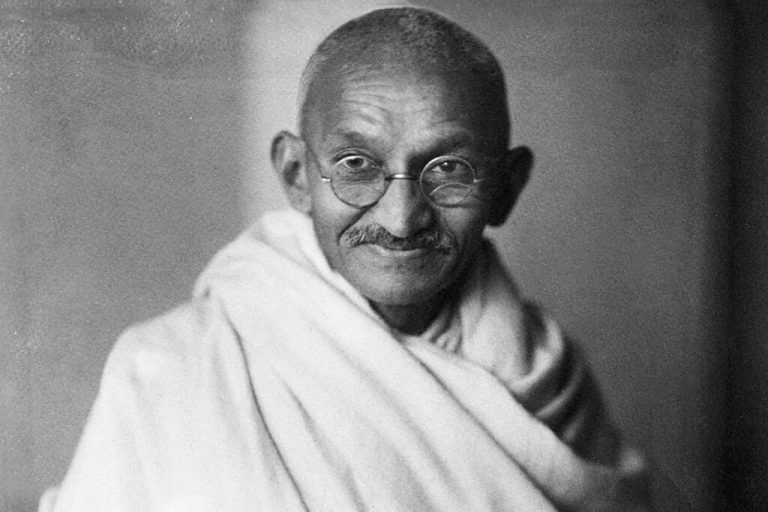Apenas os menos atentos foram pegos de surpresa pelo anúncio do presidente norte-americano Joe Biden de que as tropas dos EUA se retirariam do Afeganistão. Um acordo de paz assinado em fevereiro de 2020 já previa a retirada das tropas dos EUA. O que foi mais impressionante, ao menos para os norte-americanos, é a velocidade com que as principais cidades do país passaram ao controle do Talibã. Mas não para o Talibã, que já havia firmado uma série de acordos, capitulações e recebido desertores das forças militares do governo afegão.
O que é realmente espantoso é como os Estados Unidos manejaram, por vinte anos, realizar a ocupação militar do Afeganistão, que era dispendiosa para os cofres norte-americanos e odiada por uma porcentagem relevante da população afegã, sem sofrer nenhum questionamento sério por parte da opinião pública doméstica (em notório contraste com a Guerra do Iraque) ou dos órgãos internacionais. O paradoxo aumenta quando consideramos alguns dos eventos mais marcantes da Guerra Fria.
Em 1965, os Estados Unidos invadiram o Vietnã. Lá, se depararam com uma resistência prolongada das guerrilhas vietnamitas, que não se renderam nem diante do uso das mais cruéis armas químicas com a intenção de dobrar sua disposição a resistir. A Guerra Americana tornou-se rapidamente impopular dentro dos próprios EUA, dando um novo ânimo ao Movimento de Direitos Civis, que recebeu o reforço daqueles que não queriam morrer nas selvas do Vietnã do Norte.
Uma dor de cabeça a mais veio quando a Fração do Exército Vermelho (RAF), organização de guerrilha urbana que operava na Alemanha Ocidental, bombardeou o quartel-general norte-americano em Frankfurt, em maio de 1972. Localizado na antiga sede de uma produtora química beneficiada durante o período nazista, o quartel-general era um alvo duplo. Sob os lemas de “trazer a guerra para casa” e “o Vietnã é o Auschwitz da América”, a RAF detonou três explosivos que destruíram as instalações, matando um coronel norte-americano e ferindo 13 militares alemães e norte-americanos.
Em 1978, apenas três anos após a expulsão dos EUA do Vietnã, a URSS invadiu o Afeganistão, tentando pôr fim à insurgência dos guerrilheiros mujahidins contra o governo socialista de Mohammad Najibullah. A operação soviética falhou em conseguir apoio mundial: apenas 18 países votaram contra a resolução da ONU que pedia a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Em geral, os países do Movimento de Não-Alinhados (com os quais a URSS tentava aliar-se para contrabalancear o Ocidente nos órgãos internacionais) encararam a invasão soviética como mais uma agressão de uma superpotência ao Terceiro Mundo.
Najibullah era muito popular entre os proletários e a pequena-burguesia urbana, mas nas áreas rurais tanto seu governo quanto os soviéticos eram menos queridos. Como explica Hobsbawm, “os EUA derramaram dinheiro e armamentos avançados infinitos (via Paquistão) para guerrilheiros islâmicos fundamentalistas nas montanhas. Como esperado, o governo afegão, fortemente apoiado pela URSS, teve pouca dificuldade em manter o controle das principais cidades do país, mas o custo para a URSS tornou-se alto demais para suportar” [1].
Gorbatchov ordena a retirada das tropas soviéticas em 1989, e Najibullah, “para a surpresa de todos”, é capaz de resistir por mais três anos, por não haver perdido a lealdade das populações urbanas (continuava a ser o preferido do público urbano segundo uma pesquisa realizada em 2008). E quando ele caiu (em 1992), “não foi porque Cabul já não podia resistir aos exércitos rurais, mas porque uma parte de seus próprios combatentes profissionais decidiu mudar de lado” [2].
As semelhanças entre os momentos finais da República Democrática do Afeganistão (1978 – 1992) e da República Islâmica do Afeganistão (2004 – 2021) chamam tanta atenção que nos fazem pensar (como pensou Eça de Queiroz ao comparar as campanhas do Império Britânico no Afeganistão, em 1847 e 1880) que a Providência, ou “quem quer que lá de cima dirige os episódios da campanha do Afeganistão” já está com a imaginação cansada [3].
Por que, então, os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão? Mais importante: por que continuaram a ocupar o país por duas décadas, e como convenceram sua própria população – ao menos até 2016 – de que a ocupação era não apenas benéfica, como também necessária?
Como se vende a Guerra ao Terror
Osama Bin Laden era considerado, no Ocidente, como um empresário moderado, um contratista privado que havia se engajado na guerra para expulsar os soviéticos, mas que, findada a campanha no Afeganistão, voltaria seus negócios à infraestrutura civil. Não é possível exagerar a surpresa com que os norte-americanos receberam o dia 11 de setembro de 2001, que marcaria um ataque de eficácia sem precedentes ao território norte-americano.
A comparação com Pearl Harbor seria um eufemismo. Os japoneses utilizaram 31 unidades de guerra e mais de 350 aeronaves para atacar um arquipélago norte-americano no Oceano Pacífico, matando 3,303 soldados. O ataque às Torres Gêmeas foi feito por 19 militantes da Al-Qaeda que sequestraram quatro naves comerciais norte-americanas e atacaram alvos simbólicos em Nova Iorque e Washington, matando 3,071 civis [4].
Logo, não é difícil entender porque 89% dos norte-americanos se manifestaram favoravelmente à invasão ao Afeganistão. Tampouco é difícil entender porque em 2002, quando o Talibã foi removido do poder e seus militantes, bem como os da Al-Qaeda, foram caçados pelo exército norte-americano e forçados a fugir para as montanhas, a aprovação da invasão ao Afeganistão atingiu um quase-consenso de 93%. Parecia, afinal, tratar-se de uma vitória espetacular.
Num nível mais “intelectual” (ou, se preferirem, no nível dos “artesãos da ideologia”), o Afeganistão foi tomado também como o triunfo de Samuel Huntington contra Francis Fukuyama. Enquanto Fukuyama havia previsto que à queda da URSS se seguiria o “fim da história”, com a ascensão de um mundo democrático e capitalista, Huntington era mais pessimista. Para ele, haviam cerca de sete civilizações no mundo, e o próximo período seria caracterizado pelo conflito entre o “Ocidente” e o “Islã”.
Assim, “guerra ao terror” passou a significar também “choque de civilizações” (expressão cunhada por Huntington num artigo de 1993). As especulações sobre o que diferencia “nossa cultura” da “cultura islâmica” passaram a fazer parte das considerações da mídia ocidental numa ampla gama de assuntos – que iam desde o Afeganistão, passando pelo Iraque, até chegar à luta dos palestinos contra a ocupação israelense de seu território.
Mas o Afeganistão não se conquista tão facilmente. Quando ficou claro que o estabelecimento de um governo afegão não era uma tarefa fácil e que as tropas ficariam no Afeganistão por um tempo, a aprovação – que era de 93% em 2002 – começou a cair. Puxada pela reprovação do público mais progressista, a aprovação caiu para 72% em 2004 e 58% em 2011 (data da morte de Bin Laden). Em 2014, havia empate técnico entre aqueles que aprovavam e aqueles que reprovavam a ocupação.
Dois fatores ajudam a explicar a queda vertiginosa aqui observada. Primeiro, denúncias de atrocidades cometidas pelos militares ocidentais no Afeganistão começavam a ganhar as notícias (bombardeios, tiroteios em massa contra civis, etc). Segundo, a morte de Bin Laden não teve o efeito esperado. Em vez de vê-la como prova de sucesso, muitos norte-americanos a consideraram uma indicação de que já não tinham mais o que fazer no Afeganistão.
Se tanto o sistema político (em seus dois partidos) quanto a população norte-americana reconheciam que alguma forma de retirada do Afeganistão era necessária já em meados da década de 2010 (os afegãos já haviam chegado a essa conclusão em 2009), por que a guerra continuou, atingindo o ápice de 100 mil soldados norte-americanos em território afegão durante a administração de Obama?
Afinal, desde Sun Tzu se reconhece que não se pode fazer a guerra sem estar em harmonia com seu povo – sem que este “o siga sem medo de nenhum perigo”. Quem resolve o enigma é o Washington Post, que explica que “os americanos provavelmente não tinham opiniões fortes sobre a Guerra do Afeganistão, em partes pois não estavam prestando atenção nela, com a Guerra do Iraque puxando a maior parte da atenção e das tropas”.
Temos aqui um caso curioso onde um povo não tinha vontade de seguir seu governante, mas também não tinha ânimo o suficiente para opor-se ao que este estava fazendo (o contraste com o Vietnã salta aos olhos) – a receita perfeita para continuar a guerra. Podemos transpor a consideração de Luttwak de que o fundamental para que um golpe de Estado tenha sucesso não é que ele seja apoiado, mas que aqueles que a ele poderiam se opor permaneçam neutros ou vacilantes.
E na verdade, os norte-americanos (com exceção dos 100 mil soldados enviados para morrer em território estrangeiro e de suas famílias enlutadas) não estavam em nenhum perigo, ou ao menos não se viam em um. Losurdo insistiu durante toda a sua obra que se uma potência faz a guerra sem que o país agredido tenha alguma perspectiva de retaliar, encontrará uma opinião pública doméstica muito mais disposta a ser uma apoiadora (ou a nada fazer a respeito) da guerra, que às vezes nem será chamada por esse nome.
Um negócio lucrativo
Deve-se também diferenciar o que os líderes norte-americanos diziam em público daquilo que discutiam em privado com seus funcionários de inteligência e seus estrategistas. De Bush a Biden, foi repetida durante 20 anos a mesma ladainha sobre o quanto o Talibã havia sido fatalmente enfraquecido e as forças do governo afegão fortalecidas, permitindo uma retirada vitoriosa “em breve”.
O discurso oficial da OTAN era de que assim que as forças do governo afegão estivessem em condições de manterem a si próprias, as tropas seriam retiradas. Desse ponto de vista, a derrota não poderia ser maior: 47% dos afegãos vivem hoje abaixo da linha da pobreza, enquanto nada menos que 75% dos recursos públicos do extinto governo títere derivavam do auxílio financeiro internacional. Isso para não falar, é claro, de quão rápido suas forças de segurança colapsaram.
Em privado, porém, as informações eram mais precisas: sabia-se que os crimes perpetrados pela ocupação – os grupos de extermínio que assassinavam pessoas sem julgamento (incluindo civis, mulheres e crianças), os massacres em larga escala de civis pelos bombardeios da OTAN, etc. – apenas haviam aumentado o ódio dos afegãos pelo invasor, ódio que era convertido, parcialmente, em apoio popular ao Talibã.
Mas a ocupação possuía outros motivos menos “patrióticos”. Julian Assange disse em 2011 que o objetivo da ocupação não era “subjugar completamente o Afeganistão, mas usá-lo para lavar dinheiro fora do sistema fiscal norte-americano, ou do sistema fiscal de outros países europeus, de volta para as mãos de uma elite militar transnacional”. O objetivo era “uma guerra sem fim, não uma guerra bem-sucedida”.
De fato, muitos dos envolvidos na ocupação ocidental do Afeganistão não a viram como nada além de uma operação comercial. As Forças Armadas da Suécia fizeram lobby ativo para o envio de um novo modelo de seu caça JAS Gripen para o Afeganistão – com o objetivo de aumentar o valor de mercado da aeronave militar. Nos últimos vinte anos, o valor das ações na bolsa para empresas de defesa cresceu 58% a mais do que o restante do mercado. E jornais de investimento norte-americanos já debatem como fazer a retirada das forças norte-americanas significar lucro para os donos de ações.
O imperialismo norte-americano exportou seus capitais para o Afeganistão em várias áreas. A ONG Creative Associates International, por exemplo, recebeu o equivalente a 449 milhões de dólares em contratos no Afeganistão – incluindo um para “reconstruir” o sistema escolar do país, em modelo privatizado, com livros didáticos que sequer abordavam história recente do país (sendo vetadas menções a qualquer evento posterior a 1978).
A produção de ópio saltou de 185 toneladas em 2001 para 9 mil toneladas em 2017, envolvendo membros do alto escalão do governo afegão no tráfico de heroína. Se um envolvimento direto das forças de ocupação com o tráfico de heroína permanece sem provas, é inegável que as medidas que estas utilizaram para contê-lo falharam completamente, isto quando não foram completamente instrumentalizadas por produtores e traficantes para ferir seus concorrentes comerciais e enriquecer ainda mais.
Com frequência os equipamentos militares britânicos e norte-americanos eram usados pelo governo afegão, conforme denunciou o ex-embaixador britânico no Uzbequistão, para melhorar a produção ou distribuição da droga – hoje, o Afeganistão representa cerca de 90% do comércio global de heroína. Dessa ou de outras formas, os membros do governo títere enriqueceram, às vezes deixando o país com milhões de dólares na bagagem.
O quadro inteiro ainda terá que ser revelado. Apesar das insistências de jornalistas e militantes feministas afegãs, nenhuma tentativa séria foi realizada para levantar dados sobre a indústria do sexo que cresceu para servir à ocupação ocidental. Tampouco existem dados sobre o número de violações realizadas por militares ocidentais, e o número de civis afegãos mortos é alvo de disputas, graças à prática generalizada de reportar mortes de civis como “baixas de combatentes” – os afegãos, no entanto, colocam esse número em pelo menos 100 mil.
Eventualmente, a operação se tornou cara demais (assim como aconteceu com a invasão soviética) e a perspectiva de evitar o colapso militar do governo afegão tornou-se pouco realista. No entanto, a guerra real não é como uma partida de xadrez, e os EUA souberam aproveitar seu próprio revés para semear o caos na região, atingindo três de seus principais inimigos geopolíticos – a Rússia, a China e o Irã.
Operações de propaganda
Um dos documentos mais interessantes vazados pelo Wikileaks nos últimos anos é um memorando escrito pela “Red Cell” – uma unidade da CIA dedicada a encontrar falhas nas táticas norte-americanas – sobre possíveis revezes do apoio dos países da Europa ocidental à guerra no Afeganistão. O memorando foi especificamente requisitado à Red Cell após a questão afegã suscitar uma crise política na Holanda.
O primeiro-ministro Jan Peter Balkenende havia prometido aos seus eleitores, em 2010, retirar os 2 mil soldados holandeses do Afeganistão até o fim daquele ano. No entanto, a administração Obama pressionou em sentido contrário, e as concessões feitas por Balkenende conduziram à saída do Partido Trabalhista da coalizão que formava seu governo, levando à dissolução do governo e à convocação de novas eleições gerais.
O memorando descreve assim o desafio que o caso holandês colocava à guerra no Afeganistão: “Alguns Estados da OTAN, notavelmente França e Alemanha, têm contado com a apatia do público em relação ao Afeganistão para aumentar suas contribuições à missão”. Berlim e Paris possuíam o terceiro e o quarto maiores números de soldados no Afeganistão, apesar de cerca de 80% de ambas as populações declararem-se contrárias ao envio de mais soldados ao exterior, segundo pesquisas de 2009.
Boa parte desses entrevistados justificavam sua oposição dizendo que o Afeganistão “não é problema nosso”. A Red Cell argumentou que isso era bom, pois significava que a questão não estava no “radar” do eleitorado, permitindo que continuassem as contribuições militares. No entanto, um “verão sangrento” no Afeganistão (especificamente um aumento no número de mortes de combatentes franceses e germânicos, ou de civis afegãos) poderia “converter a oposição passiva em hostilidade ativa”, “politicamente potente” com “chamados à retirada imediata”.
Assim, os EUA deveriam se adiantar a essa possibilidade e produzir comunicação destinada aos públicos específicos, relacionando suas questões candentes ao resultado da contenda no Afeganistão – neutralizando ou reduzindo o impacto político da “hostilidade ativa”. Ao público alemão, bastante preocupado com os gastos de uma guerra que não enxergava como sua, recomendavam-se “mensagens que ilustrem como uma derrota no Afeganistão poderia aumentar a exposição da Alemanha ao terrorismo, ópio e refugiados”.
Já o público francês demonstrava seu apoio ou oposição relacionando-a aos civis e refugiados afegãos. Recentemente ocorrera mesmo uma controvérsia midiática pela expulsão de doze refugiados afegãos da França. Assim, destacava-se o potencial de “histórias sobre o sofrimento de refugiados afegãos” direcionadas às audiências francesas. Essa abordagem, afirma o memorando, também ajudaria a angariar apoio entre a minoria muçulmana do país – e portanto também seria importante destacar o apoio da população afegã à ocupação.
O memorando termina com duas recomendações especiais: Obama – que era visto como um político habilidoso por ambos os públicos – devia falar mais, e às mulheres afegãs devia ser dado maior espaço na mídia: sua habilidade de falar com sinceridade e credibilidade sobre suas experiências com o Talibã, e sobre seu medo de um retorno do Talibã ao poder, também ajudaria a “humanizar” a ocupação aos olhos das mulheres ocidentais.
Somente estudos detalhados da opinião pública podem nos dizer quais foram as dimensões exatas em que essas táticas foram aplicadas. Com ou sem interferência externa, porém, é nítido que a imprensa ocidental incorporou muitos desses temas na sua abordagem sobre o Afeganistão ao longo dos anos: histórias sobre o sofrimento de refugiados afegãos, a presença de mulheres afegãs na cobertura, preocupações em relação ao fluxo de refugiados e à internacionalização do terrorismo, etc.
Qualquer pessoa inteligente é capaz de entender as razões pelas quais a estratégia midiática esboçada no documento que acabamos de discutir era baseada na hipocrisia e na mentira. A Guerra ao Terror é a responsável direta pelo deslocamento de ao menos 37 milhões de pessoas, sendo uma das causas principais pelos sofrimentos dos refugiados afegãos que se pretendia explorar.
O que pode ser mais difícil de desmascarar é o aspecto de “novidade” com que essa estratégia se apresenta. De fato, uma estratégia de comunicação pública direcionada a aumentar o número de mulheres afegãs na mídia e contar as histórias dos refugiados afegãos parece muito diferente da retórica racista com a qual a opinião pública norte-americana e mundial foi levada a aceitar a Guerra ao Terror.
A própria Red Cell se apresenta como uma unidade “de jovens” que pensam “fora da caixinha” – alguns comentadores chegaram mesmo a chamar a abordagem sugerida pelo documento de uma abordagem “feminista” ou, pelo menos, que tentava “instrumentalizar o feminismo”. No lugar do velho racismo, estaríamos diante de uma propaganda de guerra “moderna”, apoiada em valores como o feminismo e o multiculturalismo?
O Afeganistão e a ideia de Ocidente
Na verdade, não. Em 1768 (primeiro ano da Guerra Russo-Turca), Voltaire escreveu à imperatriz Catarina: “Madame, Vossa Majestade imperial restaura-me a vida ao matar turcos”, pois “pessoas que negligenciam as belas artes e trancafiam as mulheres merecem ser exterminadas” [5]. Voltaire não era um feminista, mas vemos aqui o mesmo tema ser mobilizado (junto com uma preocupação sobre as artes) para justificar, literalmente, uma guerra de extermínio.
O que estava por trás das palavras de Voltaire era uma concepção nova do que significava “Europa”. Por muito tempo, esta tinha significado somente a materialização da Cristandade – não tendo relevância própria enquanto conceito. As reformas religiosas que dividiram a Cristandade e a intensificação da exploração sobre o comércio colonial no século XVIII (especificamente, da consciência dos juristas europeus sobre a necessidade de assegurá-la) deram lugar a uma nova ideia de Europa, que não excluía seu aspecto religioso mas tampouco se limitava a ele – e que excluía as colônias [6].
Vinte anos antes de sua carta à imperatriz russa, Voltaire havia sido historiógrafo da corte francesa. Ao compor poemas e peças celebrando a vitória dos franceses sobre os ingleses na Batalha de Fontenoy (1745), ele foi acusado de “desprezar um povo que antes parecia estimar”. O autor das Cartas Inglesas se explicou então da seguinte maneira:
“Os povos da Europa possuem princípios de humanidade que não se encontram nas outras partes do mundo; eles são mais conectados entre si, possuem leis em comum; suas dinastias soberanas são aliadas; seus súditos viajam continuamente e convivem entre si. Os europeus cristãos são aquilo que eram os gregos: fazem a guerra entre si, mas conservam nessas dissensões tanta etiqueta e polidez que um francês, um inglês, um alemão [etc.] parecem com frequência terem nascido na mesma vila (…). Todas as nações da Grécia se consideravam como aliadas que só faziam a guerra entre si pela esperança certeira da paz”. [7]
Essa noção de Europa implica uma “comunidade de países” dos quais se pode falar como uma unidade, graças a certa semelhança cultural, intelectual e jurídica – em uma palavra, civilizacional. Foi dessa noção que emergiu também o conceito de “Ocidente”. É claro, este não nasceu sem grandes dificuldades, como a Guerra de Independência das colônias norte-americanas em 1776, as guerras napoleônicas e tantos outros conflitos sangrentos.
Como explica Kwame A. Appiah, a ideia de “Ocidente” (como algo além da simples designação geográfica) “não aparece antes da década de 1890, no calor da era imperialista, e se espalha somente durante o século XX”. A posição da Rússia foi constantemente redesenhada: ela poderia ser louvada como parte da Europa cristã em 1768. Tornou-se um desafio ao Império Britânico na Ásia ao longo do século XIX, mas aliou-se com este quando da Primeira Guerra Mundial. Tornou-se, porém, o antagonismo fundamental ao “mundo ocidental” durante a Guerra Fria, quando as potências ocidentais passaram a se ver como herdeiras da democracia ateniense contra o “despotismo soviético” (e oriental).
O apelo da CIA à propaganda “multicultural” em favor da guerra do Afeganistão pode afastar-se, então, dos chamados à “guerra de extermínio” que subentendem-se da essencialização da cultura islâmica feita por vários europeus, não apenas Voltaire, ao longo do tempo. Porém, não afasta-se da ideia do Ocidente como uma unidade cultural, à qual se estende uma missão civilizacional e um “papel de polícia internacional”.
Em 1895, Theodore Roosevelt traçou o seguinte panorama da situação mundial: a guerra era, felizmente, cada vez menos frequente, mas “o amor pela paz entre as nações permaneceu restrito àquelas civilizadas”. A resposta a esse problema Roosevelt só alcançou em 1904, enquanto presidente dos EUA: cada “potência civilizada” deveria ser chamada a exercer um “papel de polícia internacional” na sua área de influência, evitando que a paz, a lei ou a ordem pudessem ser ameaçada pelos “bárbaros”.
O político norte-americano chegou a tal resposta inspirado pela repressão conjunta das potências ocidentais ao levante dos boxers na China, na virada do século. O acontecimento, que o general francês H. N. Frey louvou como “a primeira vez em que formaram-se os Estados Unidos do mundo civilizado”, é descrito por historiadores como uma “grande orgia de morte”, com o massacre de milhares de homens em Pequim e com expedições punitivas às zonas rurais que queimaram aldeias inteiras sem poupar ninguém [8].
O partido da guerra encontrou finalmente sua retórica fundamental durante os últimos anos da Guerra Fria: o “papel de polícia” que o Ocidente (materializado agora pela exportação de investimentos e bases militares norte-americanas por todo o Plano Marshall) deveria, em forma conjunta, opor à URSS e a outras ameaças aos “direitos humanos” ou “à ordem”. Essa mesma retórica foi estendida para a Guerra ao Terror.
Essa retórica é permeada por distorções, meias-verdades e simples invenções em todos os seus âmbitos. Appiah destaca que os continuadores das tradições gregas, tanto na filosofia quanto na tolerância religiosa, foram os muçulmanos, não os cristãos. Os brasileiros conhecem suficientemente bem os horrores do regime militar apoiado pelos EUA – o mesmo pode ser dito dos vietnamitas que viveram sob o regime apoiado por Washington no Sul do país.
E, como destacou o coronel-general do Exército Vermelho e historiador militar soviético D. Volkogonov, as alarmantes histórias sobre a “ameaça militar soviética” e a “violação de direitos humanos nos países socialistas” serviam de justificativa para o crescimento do complexo militar-industrial ocidental e seu avanço sobre as liberdades democráticas e os direitos humanos nos próprios países capitalistas [9] – um diagnóstico preciso sobre a Era Reagan, sua “Guerra nas Estrelas” e sua “Guerra às Drogas”.
O partido da guerra invadiu o Afeganistão em 2001 (apesar de lá já estar presente, na forma de investimentos em guerrilheiros, desde 1978), contou mentiras ao mundo inteiro sobre seus objetivos e seus resultados. Mobilizou, durante esses vinte anos, versões diferentes do mito da “cultura ocidental” e sua “missão civilizacional”. Finalmente, deixa o país sem cumprir sua única promessa aos afegãos – a de retirar o Talibã do poder –, mas deixando contratistas privados, donos de ações de defesa e outros mercenários da guerra contemporânea extremamente satisfeitos.