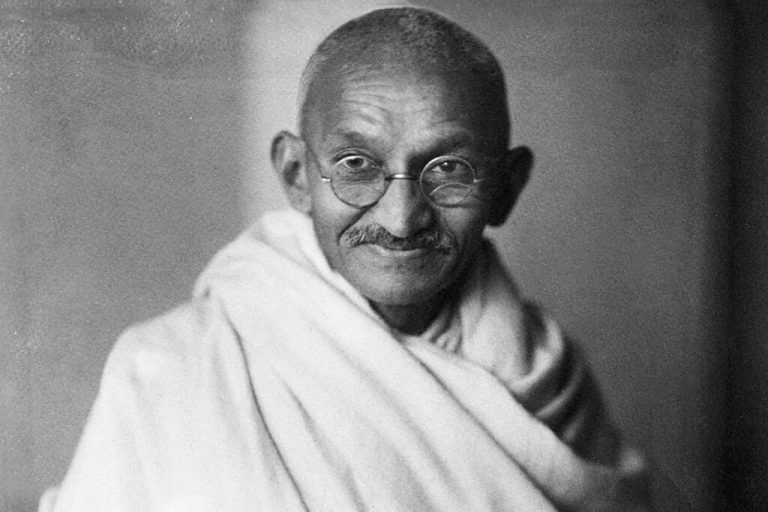No centenário do nascimento de Darcy Ribeiro, comemorado neste 26 de outubro, republicamos o ensaio “A brasa ardente”, escrito por ele em 1972, no Chile, enquanto assessorava o presidente Salvador Allende e atuava como professor na Universidad do Chile.
Chefe do Gabinete Civil de Jango, Darcy foi exilado pela primeira vez logo após o golpe militar de 1964. Com os direitos políticos cassados pela AI-1, e demitido dos cargos na UnB e no Serviço de Proteção ao Índio, foi para o Uruguai, onde viveu até 1968. Neste ano, após ser absolvido pelo STF de suas condenações, regressa ao Brasil – mas é logo preso e indiciado por infração à Lei de Segurança Nacional, após a decretação do AI-5. Em 1969, é absolvido pela Auditoria da Marinha do Rio de Janeiro, mas é forçado a um novo exílio, que o leva, enfim, ao Chile de Allende.
O texto, presente no livro “Ensaios insólitos”, publicado pela Fundação Darcy Ribeiro (e disponível gratuitamente em seu site, assim como outros livros) deve impressionar os leitores que só conhecem Darcy Ribeiro de nome ou por uma ou duas obras clássicas. Primeiro, por ser relativamente desconhecido: só foi publicado anos após ser escrito, em 1986, por não ter encontrado editor à época. Segundo, pelo seu tema: Darcy não trata aqui do conceito “América Latina”, da questão indígena ou do colonialismo, e sim de um tema mais mundano: os sequestros políticos. Terceiro, pelo seu ponto de vista: não se trata de um ensaio antropológico ou histórico. Pelo contrário, o ensaio é escrito com base em notícias de jornais; fatos que o autor confronta de longe e a quente, no momento de sua divulgação –, e constitui um verdadeiro balanço ético dos sequestros políticos levados a cabo por organizações guerrilheiras nos anos 70.
Trata-se, talvez, de uma das mais contundentes apologias já escritas ao direito à resistência, do que foi, sem dúvida, um dos melhores brasileiros que essa terra, por ele tão amada, fez brotar.
A brasa ardente
Nas últimas semanas nossa atenção foi sacudida uma vez mais por novos casos de sequestros de diplomatas, com o objetivo de libertar presos políticos. Dessa vez foi um alemão, um suíço e um inglês, sequestrados respectivamente por organizações insurgentes da Espanha, do Brasil e do Uruguai. Milhões de pessoas do mundo inteiro viram-se requeridas a exercer um juízo moral sobre as notícias dos jornais.
São atos delituosos ainda que penosos? A questão e o desafio que significa respondê-la se colocam para cada um de nós. Como enfrentá-los? Buscaremos uma resposta examinando a situação em que esses sequestros ocorrem. Os móbiles dos que os empreendem e também os conteúdos éticos e políticos. Para isso, tentaremos nos colocar na pele de cada protagonista a fim de ver com seus olhos e meditar com suas razões o problema do sequestro em suas múltiplas dimensões. Este não é um exercício fútil de ética teórica. Ele se impõe, imperativamente, porque é de temer que as ações de sequestro e outras formas desesperadas de luta se multipliquem nos próximos anos envolvendo parcelas minúsculas da juventude. Mas, o que é mais grave, o que mais me dói: envolvendo – o que eu suspeito que represente – o melhor da juventude, a que tenta acertar, aceitando o risco de erro que envolve cada ação concreta.
O contexto em que esses sequestros ocorreram foi em um dos casos o da polarização do povo basco em sua luta secular pela independência. Se indagarmos os antecedentes dessa luta, para situar melhor o episódio, teremos diante de nós um velho povo ibérico, resistindo duramente durante dois mil anos ao avassalamento e à assimilação. Primeiro, frente aos romanos que latinizaram toda a Península, depois, frente aos árabes que a dominaram por sete séculos, mais tarde e até nossos dias, frente à imposição da hegemonia castelhana e galega. Estes são os bascos, um povo que conseguiu sobreviver mantendo sua cara, sua língua e sua feição étnica – apesar de que todas as condições lhes fossem adversas – como uma face peculiar do homem, sobrevivendo até chegar nossos dias com a sua língua, suas tradições, o sentimento de suas singularidades e sobretudo, com sua desesperada deliberação de serem e de permanecerem eles mesmos entre os povos do mundo.
Esse povo reaviva novamente suas energias étnicas, despertadas, não se sabe por que forças. Seguramente por forças morais idênticas às que inflamam também ao povo vietnamita, fazendo-os capazes de se erguerem contra uma dominação aparentemente inelutável. Os vietnamitas, que hoje combatem, são os mesmos que ontem, nos fins do século passado, foram conquistados, quase sem resistência, por um precário exército colonial francês. Hoje, sem dúvida, encontram em si mesmos energias insuspeitáveis para enfrentar e vencer o exército mais poderoso do mundo.
O mesmo tipo de energia moral, revitalizadora em forma ainda larvar, é a que anima os bascos, despertando da apatia os nacionalistas mais consequentes, envolvendo-os num combate que logo alcança um temor revolucionário. O sequestro do embaixador alemão é um episódio dessa luta.
No caso do Brasil, estamos diante de uma ditadura cuja função social é manter, pela força, uma estrutura de poder incapaz de legitimar-se com procedimentos democráticos que quer perpetuar, a qualquer custo, a hegemonia de uma classe dominante que, frustrada na tarefa de promover um desenvolvimento social generalizado e garantir as liberdades democráticas, se coloca em oposição a todo povo e só pode manter as instituições que a beneficiam através de uma ditadura militar regressiva e repressiva. Como esta desperte resistências, ainda que débeis, deve enfrentá-las, e nesse esforço se configura como regime terrorista brutal, cada vez mais impopular. É certo que nem todos se opõem ativamente ao regime, inclusive porque a maioria das gentes só busca esquivar-se do açoite, silenciando suas opiniões, postergando suas reivindicações, escondendo sua vergonha, preocupando-se unicamente em sobreviver enquanto dure a iniquidade. Mas sempre existe os que não se acovardam e se organizam, ainda que de maneira precária, para lutar como podem. Sobre eles cai a mão da repressão da forma mais feroz. Enquanto resistem, conformam modelos de protestos contra governos que não admitem nenhum tipo de oposição e o seu exemplo se multiplica desafiando os aparelhos repressivos. Estes, em consequência, se reestruturam e crescem, até dominar todas as instituições e fazer da ferocidade dos torturadores um sistema de governo. De quem é a culpa? De quem mantém o despotismo e lucra com ele? Ou dos que lutam nas condições mais adversas contra uma ordem repressiva?
O terceiro caso de sequestro, ocorrido no Uruguai, volta a colocar sob os olhos do público internacional os tupamaros, que são ao mesmo tempo o mais audaz e o mais imaginoso dos grupos insurgentes latino-americanos. Eles surgiram e cresceram num ambiente de crise econômica e de deterioração institucional em que caiu a democracia uruguaia na última década. Como os militantes políticos enfrentam uma estrutura de poder que, sendo incapaz de resolver a crise nacional, agrava-a cada dia mais, pondo em risco a própria sobrevivência do Uruguai como nação; assim, a ousadia das ações dos tupamaros granjeou para eles, rapidamente, grande prestígio entre as esquerdas independentes e em todos os setores não comprometidos com o governo. Para este vasto público, os tupamaros passaram a representar uma afirmação de vigor nacional frente ao desânimo de todos que, juntos, duvidam da viabilidade geoeconômica do próprio país e não veem possibilidade de uma revolução social que estaria vetada pelos dois poderosos vizinhos.
Esta consciência amargurada e frustrada conduzia, por um lado, à aceitação tácita de um estatuto de dependência frente a Argentina e ao Brasil, e, por outro lado, à emigração maciça para países como Canadá e Austrália, de grandes contingentes da juventude uruguaia. Neste ambiente no qual quem não era sensível à insurgência se perdia também para a nação, o movimento tupamaro se afirmou como um ato de fé no Uruguai. Suas operações de prisões de oligarcas, de reclusão e de advertência de autoridades despóticas, de invasão de centros de corrupção financeira, de recuperação do ouro entesourado por milionários, de justiçamento de policiais e torturadores nacionais e estrangeiros e, finalmente, os sequestros de diplomatas, ocorrem como distintas formas de luta revolucionária contra um poder institucional incapaz de se sustentar democraticamente e de levantar a nação. O poderio do governo e a debilidade da organização clandestina condicionam suas formas de ação no ataque e na defesa. O governo faz o possível para liquidar os tupamaros pela difamação, denunciando-os como criminosos, pela perseguição e prisão. Eles se defendem e atacam como podem. Porém, ambos, têm os olhos postos na opinião pública nacional e internacional cujo respaldo consideram fundamental.
O paradoxal nesse enfrentamento inverossímil é o seu caráter duplo; o despotismo exercido pelo débil – que contando com os meios mais precários consegue manter em cheque o poder governamental – e a vulnerabilidade do poder governamental cujo prestígio passou a depender principalmente da sua capacidade de fazer frente a um pequeno grupo sedicioso que, apesar de perseguido e lançado na clandestinidade, sobrevive porque encontra guarida na população.
O espantoso desse enfrentamento é que para ela não há saída possível; por mais que os tupamaros somem façanhas sobre façanhas, não alcançarão por essas vias o poder. O governo desafiado por eles vai revigorando as forças militares e propensões despóticas que acabarão por destruí-lo.
Nessas conjunturas é que ocorrem os sequestros como atos políticos. Subtraindo um diplomata de carreira de sua rotina diária, o sequestro situa-se de repente no centro da arena nacional, imediatamente politizada por esse ato mercê do questionamento da ordem interna no plano internacional. A posição do sequestrado é tão comovedora que não há como esquivar-se à tentação de entrar na sua pele para perguntar com ele: – Que culpa tenho eu de um despotismo para o qual não contribuí e contra o qual se luta às minhas custas e a meu pesar? O que está em juízo aqui não é o dever moral de lutar contra a opressão mas estamos diante da terrível responsabilidade de recrutar alguém, contra a sua vontade manifesta, à uma luta que lhe é estranha. Porém, será na verdade uma luta tão estranha? Quem pode nesta questão que envolve a humanidade inteira – ou pelo menos apela diretamente a ela graças aos meios modernos de comunicação de massa – dizer que lhe é estranha? Isto ocorreria se nós nos houvéssemos cercado de instituições internacionais capazes de exercer uma pressão moral eficaz contra todas as formas de despotismo. Neste caso, o poder da opinião pública mundial, à qual apelam os sequestradores estando institucionalizado, seria exercido sem necessidade de artifício ou sacrifício. A verdade penosa porém é que os sequestros são a única forma de fazer ativa, válida e respeitada, uma autoridade moral que os que a detêm nominalmente como as Nações Unidas, as Igrejas e as instituições parlamentares internacionais, são impotentes para exercer. Ou por acaso alguém conhece alguma outra forma igualmente eficaz de alcançar os mesmos resultados?
Leia também – “Evitar derramamento de sangue” – Uma armadilha histórica
A característica essencial dos sequestros de diplomatas é a de ser uma operação política de dimensões mundiais. Eles têm como denominador comum o propósito explícito de polarizar a opinião pública internacional em torno de uma situação política concreta através de gestos dramáticos. Procuram imediatamente salvar líderes revolucionários da morte ou libertá-los das prisões e da tortura. Porém seu efeito verdadeiro é o de desmascarar o Estado opressor, pondo a nu frente ao mundo toda a sua iniquidade, e fazer frente a um governo oligárquico que põe os revolucionários na clandestinidade. Assim, o sequestro do embaixador alemão foi a melhor forma de que dispunham os bascos para obrigar a imprensa internacional a prestar atenção à sua luta secular, que jamais havia comovido ninguém. A condenação feita pelo governo franquista de um punhado de combatentes haveria sido um episódio local a mais, uma reiteração de um longo martiriológio.O sequestro do embaixador se converteu de imediato em um acontecimento internacional e o julgamento dos guerrilheiros bascos forçado a realizar-se sob as luzes da imprensa e sob a atenção da opinião pública mundiais, o que afinal tornou impossível a execução dos mesmos.
No caso do Brasil, o embaixador suíço foi chamado imediatamente a contribuir para a libertação de 70 jovens prisioneiros, o que se alcançou. Porém, foi chamado sobretudo a demonstrar à opinião pública mundial que – contrariamente às declarações do governo – as prisões brasileiras estão cheias de presos políticos e que nelas se praticam as formas mais atrozes de tortura.
No Uruguai, os tupamaros tendo em mãos dois reféns agarram a um terceiro – desta vez o embaixador da Inglaterra – para fazer valer o repto que o governo desconheceu talvez pela baixa hierarquia dos dois primeiros sequestrados. Nesse sentido, o novo sequestro foi feito como uma alternativa ao sacrifício dos dois reféns. Seu objetivo imediato é a liberação de 150 quadros da organização; seu propósito específico é de superar o impasse criado na interação entre os revolucionários e o poder institucional. Este, apoiado pela Argentina e pela América do Norte, resistirá ao repto anterior ganhando prestígio frente à opinião pública, como um governo que, ao contrário de outros mais poderosos, era capaz de fazer frente aos insurgentes, tratando como delinquentes comuns nada menos que a mais prestigiada entre as organizações revolucionárias do continente. Face ao novo desafio, Londres frente a Montevidéu, se contrapõem o poder institucional e os tupamaros numa disputa que se trava perante o país e o mundo, convertendo uma operação de sequestro num combate de desgaste da estrutura de poder.
O exame atento dessa questão leva em primeiro lugar a ressaltar o fato de que os sequestradores, ao desencadear a ação, se põem em risco de vida, atraindo sobre si mesmos, sobre suas famílias e até sobre seus conhecidos mais remotos, toda a ferocidade repressiva de Estados policiais superpoderosos. E, em muitos casos, não se trata só de riscos de vida, mas da ameaça, ainda pior, de encontrar a morte na tortura mais selvagem. Esse fato demonstra claramente que quem empreende tais ações não está jogando irresponsavelmente ou impunemente com a vida alheia.
Outra consideração que se impõe se refere ao propósito dos sequestros políticos. Não há aqui nenhuma dúvida possível, com respeito ao caráter impessoal, nem com respeito à ausência de qualquer interesse subalterno: pelo contrário, por mais dramática e arbitrária que seja a ação de subtrair e servir-se de um “inocente” com finalidades que lhe são estranhas, não há como negar que esta é uma ação política que deveria ser classificada como impessoal e, por que não, até como altruísta. E vale dizer, uma ação levada a cabo por móbiles de caráter revolucionário, realizada sem nenhuma hostilidade pessoal, com respeito ao sequestrado, e buscando sempre o benefício de outros que não estão imediatamente envolvidos na situação.
O caráter trágico dessas ações se revela integralmente quando os sequestradores se veem na contingência de matar o sequestrado para fazer valer o repto ao poder despótico. Enfrentam-se então, por um lado, executores inteiramente conscientes de que estão diante de um homem sem culpa a quem devem matar, e de outro lado, um refém que conviveu com seus guardiães, chegando a estabelecer vínculos pessoais com eles, e que clama por misericórdia. Nas guerras entre os soldados, nos combates de rua contra a polícia sempre é possível representar o antagonista como inimigo e sem muito esforço odiá-lo. Então, mata-se ou morre-se lutando. No enfrentamento frio de um sequestro frustrado nenhuma mistificação é possível: os mártires estão condenados ao papel de executores de inocentes.
O problema ético aqui não é só novo mas muito mais complexo que as velhas teses sobre o tiranicídio ou sobre a guerra justa tantas vezes debatida. O que se coloca diante de nós não é sem dúvida um direito impossível, absurdo de matar o inocente, mas a questão álgida, terrível, de definir os limites da responsabilidade moral de cada homem. O que se questiona é a inocência ou a conivência de todos nós, com respeito à ordem social. Com efeito, quem pode dizer que está isento de culpa em nosso mundo apequenado pelas comunicações, sob os olhos de uma juventude acesa de indignação moral? Quem em nosso mundo fazendo pesar sobre eles as responsabilidades do combate ativo pela redenção do homem poderá eludir sua participação passiva em suas lutas? Quem será verdadeiramente inocente e puro de qualquer suspeita de conivência?
Se esse nosso mundo humano fosse produto de forças arbitrárias poderíamos dizer que a culpa é da fatalidade. Porém, o mundo é obra dos homens, é obra nossa. Somos os únicos responsáveis pelos males que existem e persistem porque consentimos. Em consequência, somos todos irremediavelmente cúmplices, exceto talvez os que se erigem em cruzados da reedificação do homem e da sociedade.
Realmente, a situação que o sequestro cria é tão radicalmentedesesperada que não pode jamais ser avaliada com critérios simples. Nela se ressalta, entre todas as considerações, seu caráter de opção moral desesperada. Opção moral porque para seus autores trata-se de escolher entre não fazer nada contra o despotismo todo-poderoso e não poder desencadear uma revolução reconhecida como necessária; ou fazer o possível, o praticável, dentro do âmbito estreitíssimo das alternativas que lhes são oferecidas. É uma situação desesperada porque eles se veem compelidos à injustiça necessária de sequestrar um inocente, escolhido tão só por sua capacidade de, uma vez preso e ameaçado, comover a opinião pública internacional.
Na maioria dos casos se apela ao sequestro onde não existe um estado de legalidade, onde a justiça se encontra inerme, onde a oposição política é impraticável, onde a imprensa é controlada e censurada, onde a opinião pública não pode ser mobilizada para exercer nenhuma pressão moral. Sob essas condições de despotismo exemplificadas pelo Brasil e Espanha, não existindo garantias aos cidadãos, tampouco existem alternativas aos sequestros para alcançar os fins que os sequestradores se propõem. Em outros casos – e temos aqui em mente o Uruguai – o sequestro é uma operação revolucionária ou recurso de que lançam mão os revolucionários ainda incapazes de desencadear uma revolução para levar adiante a luta contra o regime que os lançou na clandestinidade. Aqui, o que está em questão é o direito à revolução. É a situação ambígua dos enfrentamentos entre uma institucionalidade que se tornou obsoleta mas subsiste, e um projeto de poder novo, que não é ainda capaz de legitimar-se. O importante a assinalar é que a sociedade uruguaia depois de décadas de tranquilidade começou a gerar rebeldias que não podendo encaminhar-se pelos canais institucionais, porque condenadas à clandestinidade, explodem em ações de guerra.
Para todos esses rebeldes, sua luta revolucionária é um imperativo moral, imperatividade que não obriga ninguém, mas que tem o sentido de uma opção inevitável, para aqueles poucos que assumem o dever de não cruzar os braços diante da opressão, da tortura, da iniquidade, ou que se negam a acomodar-se sob uma estrutura oligárquica de poder incapaz de promover o desenvolvimento nacional autônomo.
Os sequestros de diplomatas, enquanto gestos éticos veementes de protestos, só têm paralelo com atos políticos de autoimolação como os dos monges budistas ou do jovem universitário tcheco. Devemos reconhecer, sem dúvida, que os suicídios políticos, apesar de toda a sua heroicidade e repercussão, não constituem uma alternativa em relação aos sequestros de diplomatas, porque lhes falta eficácia operativa. A mais simples avaliação permite verificar que nos dois últimos anos e meio – desde que se iniciaram os sequestros desse tipo – foi reclamada a liberação de quase 400 presos políticos, sendo que cerca de metade deles foi libertada. Seu custo foi a vida de dois sequestrados, um diplomata e um político de carreira, ocorridos em casos em que os governos buscaram tergiversar o repto, tratando o ato político como se fosse uma ação criminal. Aritmeticamente – no que respeita a responsabilidade de seus autores – os sequestros foram operações de troca, entre semanas de sofrimento injusto para alguns diplomatas, e a anulação de milhares de anos de condenação para centenas de prisioneiros políticos submetidos à iniquidade e à tortura.
Esse raciocínio parece pouco piedoso para com a dor dos reféns, a angústia de suas famílias e amigos, a perplexidade e a comoção de enormes multidões que em todo mundo acompanham solidárias esses dramas através das notícias de jornais; mas como ignorar outras dores ainda mais atrozes como a dos presos políticos submetidos a torturas bestiais ou a de seus familiares, inclusive dos familiares daqueles que ousam empreender os sequestros. É certo que muito raramente estes chegam a saber que seus filhos estão envolvidos numa operação dessa natureza. É de supor, entretanto, que muitos pais – em diversos países submetidos a regimes despóticos ou imersos em convulsões revolucionárias –, dada a postura inconformista de tantos jovens, imaginem que possa ocorrer aos seus filhos comprometerem-se em ações de sequestro. Como dissuadir a um filho que assume uma postura radical de protesto ético? Pedir-lhe que não se comova com a dor alheia? Infundir-lhe que não se erija em salvador do mundo? Implorar-lhe que não comprometa o seu destino e ao de sua família? Aconselhar-lhe que deixe a outros mais prudentes a tarefa de melhorar o mundo? Todo diálogo desse tipo é impraticável. Ou bem se trava partindo de distâncias insalváveis ou bem se extrema até romper-se toda a comunicação.
Entretanto, tais diálogos configuram a situação limite da brecha geracional. De um lado estão os pais, quase sempre acomodados como todos nós, cheios de consternação por si mesmos e pelos sacrifícios vividos para criar seus filhos.
Porém também cheios de pavor e de covardia face ao desafio de orientá-los em um mundo convulsionado no qual devem ingressar. De outro lado está o jovem iracundo que vê na velha geração, nos seus pais e em todos nós, os responsáveis pelo mundo tal qual ele é. Aos seus olhos, somos os culpados de Hiroshima, mesmo quando o condenamos; de Buchenwald, ainda que nos tenha horrorizado; do Vietnam, ainda que nos repugne; e inclusive de crimes remotos, ainda que rapidamente esquecidos como as matanças de Madagascar, da Algéria, da Palestina e as mais recentes da Indonésia, do Camboja e da Biafra. Podemos nos defender dessas acusações dizendo que não são culpas nossas? A verdade é que consentimos em viver, construir tranquila e egoisticamente nossas vidas em um mundo onde tudo isso foi possível, sem nos preocuparmos efetivamente. Pelo menos, nenhum de nós pensou que deveria mudar de carreira, ou reorientar sua vida para que esses crimes, que nos comoveram a seu tempo, não se repetissem. Serão por acaso, esses fatos, coisas do passado? Resultados de tempos adversos? Não. Não, porque hoje continuam sucedendo e na verdade só chegamos a sabê-lo quando algum diplomata é sequestrado. E aí, ficamos mais penalizados por ele – o pobre diplomata agarrado – que pela situação dramática que esse sequestro revela de repente à nossa perplexidade. Muitos negariam essa culpa alegando que muito melhoramos o mundo que herdamos. Criamos instituições de Direito! Julgamos e condenamos os criminosos nazistas! Redigimos a Carta Universal dos Direitos Humanos! Inscrevemos aqueles direitos na Carta da OEA! Mas, e o Papa Doc? E os assassinos de indígenas? E os matadores de mendigos? E as caçadas desumanas do Esquadrão da Morte? E os torturadores de presos políticos? E o racismo norte-americano? E o sul-africano? E o apartheid? E o drama palestino? E as ditaduras militares repressivas e regressivas?
Quantas nações poderiam afirmar que estão vigente nelas os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos?
Como se vê, sobram razões de protesto e de rebeldia para quem assume postura ética combativa no nosso mundo enfermo de violência e covardia. Ninguém duvida de que nós não nos rebelaremos. Isso sabemos bem. Porém, ao não fazê-lo, assumimos nossa parcela de responsabilidade e de culpabilidade. Alguns dentre nós se rebelarão, comprometendo seus destinos em atos de protestos, oferecendo sua carne à dor. Serão estes o sal da terra, os mártires aos quais se renderá culto amanhã? É possível! Já sabemos como é difícil hoje conviver com eles e com seus radicalismos éticos que nos desmascaram. A verdade é que os heróis, os santos, e os mártires de todos os tempos sempre foram incômodos. São aqueles seres revestidos de carne e de nervos, tão capazes de dor como os nossos, mas que saem em busca de sua dor, forçados por um imperativo moral.
Certas épocas parecem propícias a estes testemunhos heroicos. E nelas se multiplicam as pessoas predispostas a assumir posições irredentistas. Provavelmente nossa época é uma delas e dará também a sua colheita de heróis e de mártires. Não há dúvida de que eles não surgirão dentre nós, os que buscamos a tranquilidade, os que nos resignamos, conformados, os que julgamos e condenamos tão severamente aos sequestradores. Surgirão do meio dos desenganados, dos desesperados, que afrontando todos os riscos se queimam por amor ao próximo.