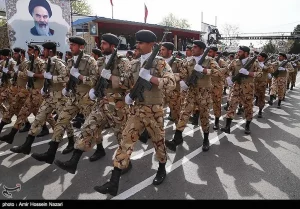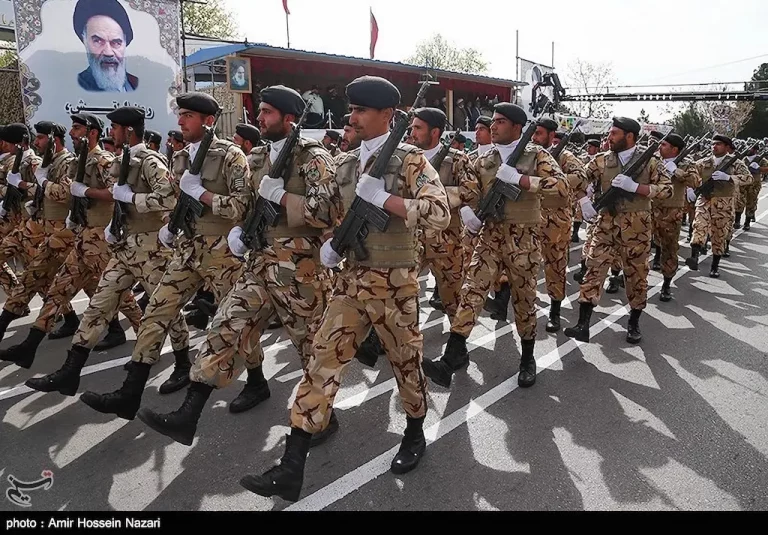A imprensa se empolga em algumas frases de efeito após o Exército ter decidido por indultar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no que constitui só mais um episódio na longa história brasileira de militares sem punição: está instaurada a “anarquia militar”; acabou-se com os princípios de “disciplina e hierarquia”; e o nunca esquecido “guarda da esquina” se sente agora “empoderado para fazer o que quer”. São citados e participam da algazarra midiática generais como Etchegoyen, que teve papel substancial no governo Temer; Santos Cruz, que há pouco figurava no de Bolsonaro; e Paulo Chagas, que na ficha não tem cargo algum, por ter tido risíveis 7,35% dos votos quando se candidatou a governador do Distrito Federal, mas compensa a derrota com uma longa trajetória como agitador de direita – até o dia em que, por alguma razão, decidiu que não gostava mais do presidente. Todos são unânimes: agora a politização dos quartéis está liberada, a hierarquia quebrada, a disciplina manchada.
Já se vão seis anos desde que um general de sobrenome Mourão falou da necessidade do Exército “despertar para a luta patriótica”, cinco anos desde que Temer assumiu a presidência e pôs um general para cuidar e reestruturar a Inteligência, três anos desde que o ministério da Defesa passou a ser comandado por generais. Há outros causos: a noite de 2017 em que um general falou de uma “solução” que precisaria “ser imposta” se o problema político “não fosse resolvido”; o dia em que o comandante do Exército pressionou o STF pelo Twitter; os onze meses em que o Rio de Janeiro viveu sob intervenção federal e comando militar. Não seria necessário muito esforço para recolher da história recente mais alguns vários acontecimentos graves.
Estes dois parágrafos bastariam se a intenção fosse demonstrar que quem vê só agora, pela ausência de punição de um general, uma “situação gravíssima” na relação do Exército com a política nacional, ou não conhece português ou tem sido conivente. Como a sonoridade das frases dos âncoras televisivos e as palavras impressas nas manchetes parecem familiares, depreendo que o problema não é de língua, nem geográfico, mas moral.
No entanto, a de fato gravíssima ausência de punição a Pazuello – como têm sido gravíssimas muitas coisas no país há muitos anos – tem levado à interpretação de que os militares foram “humilhados”, “traídos” e estão absolutamente submetidos a Bolsonaro. Compõe a cantilena, complacente por isentar os generais de culpa e ingênua por achá-los submetidos, a recente saída ou demissão – não sabemos ainda qual, talvez nunca saibamos – dos comandantes das Forças Armadas, acompanhados pelo ministro da Defesa. Cantou-se à época o contrário do que hoje se ouve: Pujol saía com a “farda intacta” ao impedir a “politização dos quartéis” (mesmo que Pazuello tenha se tornado ministro da Saúde sob sua batuta). Hoje é dito aos quatro cantos que a “politização dos quartéis” (sempre ela, eclipsando a quartelização da política) tornou-se fato absoluto, apesar da “heróica” tentativa de Pujol e seus companheiros das outras Forças.
Sejamos claros: não há submissão, nem traição ou humilhação. Os generais entraram no governo de vontade própria, e nele se mantêm com igual inclinação. Na relação entre o capitão e os generais, a força cabe a estes últimos. Emprestam-na enquanto convir, mas sabem eles, e também o presidente, que se a maré mudar devem reorientar o caminho – caminho que pode não interessar a Bolsonaro, mas tampouco interessa a nós. Foram, desde o princípio, não forças próprias do presidente, nem forças mercenárias, mas forças auxiliares – aquelas que “podem ser úteis e boas para si mesmas, mas, para quem as chama, são quase sempre danosas; pois, quando perdem, és derrotado com elas e, quando vencem, aprisionam-te”, como esclareceu Maquiavel. A unidade ideológica dos generais com o capitão era e é evidente; no entanto, à medida que essa unidade avançava e tornava-se governo, avançavam juntas as contradições do pacto: Bolsonaro é, por natureza, figura momentânea, declinante e descartável. Momentânea porque, para chegar à presidência, dependeu de uma situação política específica capaz de lhe garantir a popularidade no voto – coisas que por excelência variam, e que hoje já se encontram alteradas. Declinante pela relativa fraqueza, a ausência de partido, a natureza fraccionista, a substância impopular de seu programa econômico. Descartável porque a única forma de não depender da fortuna e do voto é pela força de fato, mas a força de fato não cabe a ele, e sim aos generais, cujo projeto é mais extenso do que o que o tempo permite a um presidente.
Tomemos dois cenários hipotéticos, colocados hoje no horizonte concreto do País, ainda que ontem tidos como alucinações, para termos mais clareza: no primeiro cenário, Bolsonaro é pressionado por amplas mobilizações de rua (como as do Chile, recentemente, ou as do Brasil, em 2013) que, pela envergadura, galgam tamanha força que fazem o Congresso se decidir por um impeachment. Que fariam os generais? Moveriam seus tanques para defender o capitão, a despeito do fato de que, com sua queda, um general chegaria à presidência por vias institucionais, pacificando as ruas, ao menos momentaneamente, enquanto manteria ou expandiria a oferta de cargos para colegas fardados?
No segundo cenário, Bolsonaro perde as eleições de 2022 para um candidato qualquer – digamos Lula. As Forças Armadas movem um golpe de estado para impedir a posse do vencedor. Empossariam, depois de se exporem a todos os riscos e correrem por pernas próprias, o atual presidente?
Evidentemente, não; e se por ventura o fizessem, seria prova não da submissão deles pelo presidente, mas da absoluta sujeição do presidente a eles. Isto é uma coisa. Outra é o que fazem para preservar um presidente acuado, que como prova de sua fraqueza se apoiou em fortes e lhes serve de anteparo, e o que este presidente poderia fazer ao longo de seu domínio, se fosse cauteloso, para escapar dos laços destes seus aliados. Neste caso, estando em dívida com o tipo de força que pode cobrá-lo sempre sem que possa protestar, a única escapatória seria tentar constituir forças próprias para reequilibrar a balança de poder. No caso do governo Bolsonaro, o movimento consistiria em reforçar alianças em todo espaço que não fosse militar, rachar a junta de ministros militares tanto quanto fosse possível e, de dentro da hierarquia militar, conquistar para si os chefes intermediários – por exemplo, premiando oficiais mais baixos na hierarquia, mas que tenham comando de tropas.
Apesar de todo o escândalo sobre as aparentes tentativas de Bolsonaro, este não é o cenário: primeiro, o presidente, que já não tinha muito espaço fora do mundo militar, perde-o cada vez mais, seja em suas bases, seu partido ou na relação com outros Poderes (restou-lhe o Centrão que, naturalmente, também é coisa inconstante e espoliante, e as ditas relações com milícias, que apesar de violentas não têm poder contra um exército, a não ser que tal exército, de boa vontade, se ausente).
Quanto a fracionar a sua base de ministros-generais, nada leva a crer que a unidade tenha se quebrado, a despeito do aparente isolamento do vice-general-presidente Mourão nos últimos meses.
Por último, quanto à conquista de bases dentro do mundo militar, há dois aspectos: por um lado, o que se chama de “bolsonarização da tropa”, que consiste não na influência da ideologia do presidente sobre a tropa, mas antes numa ligação abstrata de valores que já estavam presentes no mundo militar e das polícias com seu objeto (o presidente). Isto de fato há, mas seus efeitos são restritos enquanto houver cadeia de comando, e só sob comando uma aventura poderia ser posta em movimento; em última instância, mesmo no caso das polícias, o comando em uma situação excepcional cabe ao Exército. Por outro lado, há também a promoção em massa de oficiais para cargos no governo; mas não só as indicações passam pelos mesmos generais-ministros que comandam o governo (a Casa Civil, por exemplo, desde 2020 está sob comando militar, primeiro sob Walter Braga Netto e hoje sob Luiz Eduardo Ramos), como os funcionários militares ficam também sob o comando dos ministros – a maior parte dos 3 mil militares da ativa emprestados ao governo está nas pastas do GSI e ministério da Defesa, comandados por Heleno e Braga Netto, respectivamente. O que vemos com Pazuello, portanto, não é o sinal da “anarquia militar” tomando conta do Exército, e sim mais uma prova da existência de um comando ilegítimo, que já há muito tempo optou por sair da coxia e ocupar o palco. A ideia de que “Bolsonaro humilhou os generais” é só uma caricatura daquela outra, que ouvimos em 2018, segundo a qual Villas Bôas fez seu “alerta” ao Supremo não como uma ameaça, mas para “conter os radicais” dentro do Exército.
Se Bolsonaro afinal tivesse a situação que se promulga, com um controle sobre as Forças Armadas independente dos comandos e de seus generais-ministros, alguém duvida de que já teria se movimentado em uma das centenas de ocasiões em que se sentiu pressionado? Se chegasse a tal situação, tendo generais por todos os cantos no governo, resta dúvidas de que teria sido com a conivência destes? O que faz é o contrário: quando pressionado de fato, recua, grita, e balança um general frente às câmeras ou coloca um fardado em mais um ministério; e os generais e fardados aceitam de bom grado os holofotes e cargos.
A unidade entre governo e militares, ainda que com suas contradições, se mantém e se manterá, com a vantagem destes últimos, enquanto sua situação for confortável. A manutenção de Bolsonaro segue e seguirá dependendo do Partido Fardado; e a manutenção deste seguirá se assentando nas armas, independente do presidente – e é isto que deveria constituir denúncia, preocupação e planejamento por parte de quem se tem por democrata. Os generais não são coitados: são cúmplices, no conjunto, tanto quanto Pazuello é individualmente.
Esperamos que os jornais que descobriram (de novo) o Partido Fardado mantenham a coerência em seus editoriais, e façam já o chamado do povo ao combate: se o Exército de fato se torna instituição armada privada, como é dito, só a mobilização de uma outra força, enfrentando-o, pode empurrá-lo de volta aos eixos.