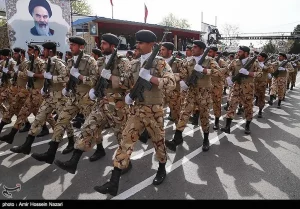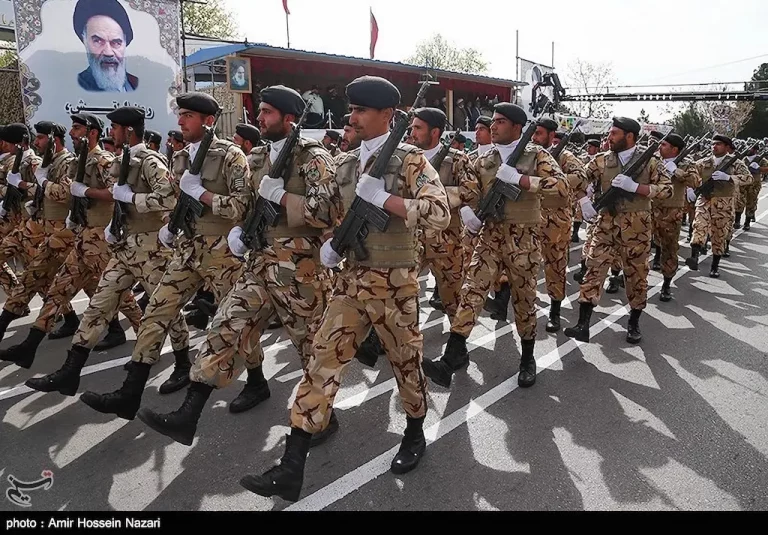Há exatamente um ano, em março de 2023, o jornal libanês Al-Akhbar publicou uma curta entrevista com um dirigente do Hamas que hoje se mostra um presságio. Na entrevista, feita em meio ao debate sobre o alargamento da pena de morte em Israel para abarcar os palestinos condenados pelo crime de terrorismo, o dirigente, cuja identidade foi preservada, declarou: “Se o governo israelense aprovar a referida lei, ocorrerá uma grande mudança na doutrina de luta dos palestinos, pois ninguém se submeterá ao processo de prisão. Em vez disso, os palestinos lutarão até o último suspiro, enquanto a maioria do pensamento das facções e da resistência se concentrará na captura de soldados ou na tomada de reféns nas cidades ocupadas em 1948, para trocá-los por prisioneiros condenados à morte.”
A nova lei proposta ficou conhecida em Israel como “a lei de execução de terroristas” e o debate sobre ela é uma constante na sociedade israelense há alguns anos. Hoje seu principal promotor é Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional e figura mais à direita do governo Netanyahu. Líder do partido de extrema-direita Otzma Yehudit (Poder Judeu), Ben-Gvir coleciona uma série de acusações na justiça israelense por discurso de ódio, racismo e incitação à violência contra árabes. Na juventude, ficou famoso por ostentar em sua sala de estar um grande retrato de Baruch Goldstein, um colono israelense que matou 29 palestinos e feriu outros 125 no que ficou conhecido como o Massacre do Túmulo dos Patriarcas, um atentado contra fiéis desarmados que rezavam dentro da Mesquita Ibrahim, em Hebron, na Cisjordânia.
Aprovada preliminarmente em 2018 pelo Knesset (o parlamento israelense) por 52 votos contra 49, a lei ainda precisa de outras três leituras para ser adotada. Se aprovada em definitivo e posta em prática, coloca em risco os mais de 9 mil palestinos que hoje se encontram nas prisões de Israel. Segundo estatísticas atualizadas no dia 5 deste mês, da ONG palestina Addamer – que desde 1991 monitora a quantidade e as condições dos palestinos presos em Israel –, desses 9 mil, mais de 3 mil foram detidos depois do ataque de 7 de outubro do ano passado e cerca de 3,5 mil se encontram em regime de detenção administrativa, quando o prisioneiro é mantido em cárcere sem julgamento, acusação formal ou apresentação de provas por um tempo inicial de seis meses, que pode ser renovado de maneira ilimitada. Todas as informações referentes àqueles em regime de prisão administrativa são mantidas em arquivos secretos que não podem ser acessados sequer por seus advogados, isso quando eles têm um — um formato de prisão herdado dos tempos em que o território palestino ainda se encontrava sob o mandato colonial britânico e agora utilizado pelo colonialismo israelense.
Alguns detalhes da cifra total também chamam atenção. Hoje, cerca de 200 desses presos são crianças e adolescentes de até 18 anos que respondem pela acusação mais comum contra essa parte dos prisioneiros: atirar pedras contra o Exército israelense, um crime punido pela lei militar com até 20 anos de prisão — algo que não encontra paralelo, já que Israel é o único Estado do mundo que julga menores de idade de maneira sistemática em tribunais militares. Desde 2000, mais de 12 mil crianças palestinas foram detidas e interrogadas no país — sem possibilidade de serem acompanhadas por advogados ou familiares.
Fato é que, apesar de declarações como a que foi trazida à tona pelo jornal libanês terem passado despercebidas, consideradas meros blefes ou confissões de intenções óbvias, a negociação pela libertação de prisioneiros palestinos — especialmente combatentes e líderes dos grupos armados — se tornou ainda mais urgente diante do risco de suas execuções no caso de aprovação da lei. E desde sempre a melhor moeda nas trocas de prisioneiros são… prisioneiros do outro lado.
Esse não é um recurso novo para as diversas organizações de luta pela libertação da Palestina. O próprio Hamas conseguiu a libertação de 1.027 palestinos em troca de um único soldado israelense, Gilad Shalit, capturado em combate em 2006 na fronteira da Faixa de Gaza. Shalit foi libertado em 2011, cinco anos depois, tempo que durou as negociações de troca com Israel. Na realidade, o sequestro como forma de libertação de prisioneiros, combatentes ou não, das prisões de um Estado não é novidade em nenhuma parte do mundo. A memória mais recente de nossa história nacional talvez nos leve à luta armada contra a ditadura militar brasileira e ao sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbrick, tomado refém numa ação conjunta da Ação Libertadora Nacional (ALN) e do Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8). Depois de 78 horas de negociação, Elbrick foi libertado em troca de uma lista de 15 presos de diversas organizações, escolhidos a dedo pela ALN e pelo MR-8 — a bem da verdade, a vida do embaixador americano valia muito mais que apenas 15 dos nossos.
Além de declarar as intenções das organizações de luta armada na Palestina, o membro do Hamas que falou ao jornal libanês também se dirigiu diretamente aos que se encontram presos em Israel, garantindo que eles não haviam sido esquecidos ou abandonados: “o movimento está a monitorar o que se passa nas prisões, colocando a libertação de prisioneiros no topo das prioridades da sua ala militar, que não demorará a responder ao apelo dos detidos, seja implementando um acordo de troca honroso no qual milhares de pessoas serão libertadas, seja lançando operações.”
Foi ainda mais enfático: “a possibilidade de realizar mais operações não se limita à arena da Faixa de Gaza, mas incluirá todas as arenas de acordo com as capacidades disponíveis”. À luz dessas palavras, o raid de 7 de outubro em território israelense se mostra algo mais que uma sanha de bárbaros ávidos por destruição. Além dos objetivos políticos (provocar a interrupção das negociações entre Israel e Arábia Saudita para estabelecimento de relações, o que enterraria de vez a chance de existência de um Estado palestino; trazer a questão palestina à ordem do dia de uma maneira que há décadas não se via em debate; expor a vulnerabilidade da segurança israelense, propagandeada como uma das melhores do mundo, etc.), o ataque teve também um grande e principal objetivo prático ou tático: a multiplicação do “rendimento” de cativos israelenses sob posse do Hamas, o que aumentaria seu poder de barganha em negociações pela libertação do máximo possível de prisioneiros palestinos, evitando sua morte em caso de aprovação e vigência da lei de execução.
Mas a situação agora guarda diferenças consideráveis com qualquer outra troca de prisioneiros antes do 7 de outubro. Se em 2011 foi possível para o Hamas conseguir a libertação de mais de mil palestinos em troca de um único israelense, isso não mais se repetirá por um motivo simples: não se repetem hoje as condições políticas criadas para a troca de treze anos atrás.
Quando Gilad Shalit foi capturado em 2006, e ao longo dos cinco anos em que esteve em cativeiro, parte considerável da opinião pública israelense esteve engajada nos esforços da família para que o governo conseguisse sua libertação. A “questão Shalit” provocou intensos debates em Israel entre aqueles favoráveis e contra um acordo — entre estes últimos estavam muitos parentes de israelenses mortos em ações e ataques dos grupos palestinos. Uma pesquisa feita pelo Dahaf Polling Institute de Israel três anos depois do sequestro mostrou que “69% dos israelenses favoreciam um acordo para obter de volta Shalit, mesmo que incluísse a liberação ‘de centenas de terroristas-assassinos’ e a deportação de alguns deles para fora do território da Autoridade Palestina. Apenas 22% disseram que eram contra tal acordo”, segundo notícia do The Jerusalem Post. Em 2011, enquanto se concretizava um acordo de libertação, o mesmo instituto demonstrou o apoio de 79% dos israelenses contra a reprovação de 14%.
Em tempos de normalidade, e dada a excepcionalidade da situação — já que o último sequestro de um militar israelense acontecera em 1994 —, o fato de que a libertação do soldado dependia exclusivamente do governo isralense (que não aceitava as exigências do Hamas), foi uma constante fonte de desgaste para dois diferentes governos, de 2006 a 2011 — e nos três últimos anos de cativeiro até a libertação de Shalit o primeiro-ministro em questão era o nosso velho conhecido Benjamin Netanyahu.
Mesmo não conseguindo parte do que demandaram no início (a libertação de todas as mulheres e menores de idade nas prisões de Israel e de vários nomes que foram negados, incluindo o Secretário-Geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina, o marxista-leninista Ahmad Sa’adat), no fim das contas o Hamas obteve um resultado obviamente benéfico, na política e nos números: 1027 palestinos, dos quais 280 cumpriam sentença de prisão perpétua, por um único israelense — não porque a vida de um cabo valesse tanto para o Estado, mas porque ao longo daqueles cinco anos e a partir das fissuras internas da sociedade israelense, foram criadas as condições políticas para uma troca vantajosa ao lado palestino.
Isso não se repetiu com os sequestros de 7 de outubro e nas negociações a partir de então. Apesar de afirmar continuamente o contrário, e tendo utilizado o ataque de 7 de outubro como o estopim para uma guerra total contra Gaza, o governo de Israel assumiu o ônus da morte dos 253 israelenses cativos em Gaza a partir do momento que fez chover fogo contra os 2 milhões de palestinos na região.
Não só os bombardeios indiscriminados como a política de fogo livre de Israel são ações tomadas com a ciência do risco de atingir os reféns israelenses, o que já ocorreu. No dia 15 de dezembro do ano passado, três reféns foram mortos por engano pelo exército israelense depois que conseguiram fugir do cativeiro despidos da cintura para cima, mostrando que estavam desarmados. Embora vista como uma fatalidade, a morte dos três reféns, que agitavam uma bandeira branca improvisada e mostravam estar desarmados (além de falar em hebraico, na esperança de serem identificados como israelenses), aconteceu não “por engano”, mas simplesmente porque os soldados acharam que eles fossem palestinos.
No cenário atual, não há setor suficientemente relevante da sociedade disposto a pressionar o governo de Israel para que este priorize a libertação dos reféns. As condições criadas a partir do 7 de outubro, com a decisão do governo israelense de iniciar uma guerra de largas proporções e inaugurar uma situação de exceção até mesmo dentro de Israel, fez com que o valor político do grande número de reféns para negociações de troca seja bem menor que aquele obtido a partir do sequestro do militar israelense em 2006.
Ainda assim as negociações tiveram seu lugar. Impelido pela necessidade de dar algum verniz de preocupação com a libertação dos sequestrados no início da guerra, o governo de Israel negociou com o Hamas uma breve trégua de sete dias ainda em novembro do ano passado, quando 103 israelenses cativos em Gaza foram trocados por 240 palestinos também cativos nas prisões de Israel. Desde então nenhuma outra negociação surtiu efeito e estima-se que 130 ainda estejam vivos em Gaza, enquanto pelo menos 32 foram declarados mortos por Israel em condições das mais variadas, incluindo os bombardeios e incursões terrestres de seu próprio exército.
Até mesmo entre as famílias dos reféns o cenário varia de maneira radical: enquanto há os que denunciam o governo pelo descaso com a vida dos seus familiares, pedindo por negociações, há aqueles que pedem e agem por um cerco total à Faixa de Gaza, somando-se a protestos para bloquear a passagem de caminhões de ajuda humanitária para os palestinos, como aconteceu em Kerem Shalon em janeiro deste ano. Na ocasião, a cunhada de um dos sequestrados falou ao The Times of Israel que permitir a entrada de quaisquer suprimentos para à população palestina da região era uma “falha moral”. Outro entrevistado, cujo irmão ainda não foi libertado, foi ainda mais taxativo: “ele [Netanyahu] precisa mostrar coragem e enfrentar os americanos e dizer a eles… nem uma única gota de água até eu ver nossos cativos voltando para casa. (…) venham ao cruzamento da fronteira e parem essa ajuda humanitária com seus corpos”.
Com a guerra, o debate sobre a lei de execução voltou à tona. Se em 2017 pesquisas mostravam o apoio de 70% dos israelenses à aplicação da pena de morte aos condenados por terrorismo, depois do 7 de outubro essa porcentagem certamente aumentou. Mas uma possível aprovação imediata da lei provoca temores entre alguns. Em novembro de 2023, parentes dos sequestrados pelo Hamas depuseram na comissão parlamentar de Segurança Nacional. Lá, alguns deles defenderam que a insistência na rápida aprovação para que pudesse ser usada contra prisioneiros da guerra atual colocava em risco a vida de seus familiares ainda reféns na Faixa de Gaza: “(…) em troca, teríamos fotos de nossos entes queridos assassinados, terminados, com o estado de Israel e não eles [Hamas] sendo culpados por isso… Não prossigam com isso até que eles estejam de volta. Não coloquem o sangue da minha irmã em suas mãos.”, disse um dos depoentes. Em resposta, os familiares ouviram dos que promovem a lei que eles não possuíam o “monopólio da dor”.
Essa é a situação atual: enquanto o Hamas ainda possui sob seu controle cerca de 130 israelenses sequestrados no dia 7 de outubro, Israel coleciona 9 mil palestinos em suas prisões — alguns condenados por crimes dos mais variados, outros tantos indefinidamente submetidos ao regime de detenção administrativa. Se no passado foram criadas as condições para que o governo de Israel se visse obrigado a trocar 1027 palestinos por um único israelense, hoje o governo do mesmo primeiro-ministro de outrora usou do ataque para levar a cabo sua prioridade máxima: a expulsão dos palestinos da Faixa de Gaza e a anexação do território, custe o que custar e morram quantos morrerem, sejam palestinos ou israelenses.
* * *
Há ainda algo a dizer, uma ironia daquelas que permanecem escondidas nas páginas da história até que alguém enxerga uma de suas pontas e puxa o fio, revelando-a aos olhos de todos que queiram ver.
Aplicada pela segunda e última vez 62 anos atrás, a pena de morte em Israel até hoje pode ser utilizada apenas em “situações de exceção”. Uma dessas situações foi justamente a a condenação e enforcamento de Adolf Eichmann, um nazista condenado por crimes contra a Humanidade, incluindo o crime de genocídio — o mesmo crime que Israel hoje é acusado de cometer contra os palestinos.
Nascido em 1906 e membro do Partido Nazista desde 1932, Eichmann foi um oficial da Schutzstaffel (ou SS), a organização paramilitar do partido. Ocupou o posto de “chefe dos assuntos judaicos”, encarregado, dentre outras coisas, de gerenciar a logística das centenas de milhares de judeus deportados de toda a Europa para guetos e campos de extermínio – fazendo dele um dos principais arquitetos da “solução final”, que levou ao Holocausto judeu. Preso pelos Aliados em 1945, fugiu para a Argentina, onde viveu por 15 anos. Lá foi capturado pelo Mossad (a agência de inteligência de Israel) em 1960. Levado ao país, foi julgado pela Suprema Corte e condenado ao enforcamento por 15 diferentes crimes: crimes contra os judeus, crimes contra a humanidade (contra judeus e não-judeus), crimes de guerra e pela participação em organizações inimigas de Israel (o Partido Nazista, a SS e a SD, agência de inteligência da SS).

O julgamento de Eichmann durou todo o ano de 1961 e foi televisionado e transmitido internacionalmente, tornando-se paradigmático no Direito Internacional e se convertendo em um dos maiores fatos políticos do mundo pós-guerra: um alto funcionário nazista julgado e condenado à morte por enforcamento no recém-criado Estado judeu. Cobrindo o julgamento para a revista The New Yorker, a filósofa Hannah Arendt — certamente uma das principais intelectuais na formação do ocidente como o conhecemos hoje — escreveu os artigos que dariam forma ao Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, um de seus livros mais famosos.
Não deixa de ser de uma ironia quase que literária que, no momento em que em Israel se discute o alargamento da pena de morte para permitir a execução de palestinos, sejamos lembrados que o último executado no país foi um nazista condenado ao enforcamento no mesmo entendimento que poderia ser utilizado hoje para embasar, segundo as próprias leis do país, a execução de todos os membros do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu gabinete de guerra — o crime de genocídio.
Obviamente isso não acontecerá. Hoje sendo julgado na Corte Internacional de Justiça (CIJ) a partir de uma denúncia da África do Sul, Israel não só não reconhece a corte e a legitimidade do julgamento, como sequer seguiu as recomendações emitidas pelo tribunal em janeiro: a permissão da entrada de ajuda humanitária em Gaza, a cessação de danos físicos e psicológicos à população e a garantia de que nenhuma prova que possa comprometer a investigação seja destruída.
De toda forma e apesar do papel político de uma eventual condenação em uma corte estrangeira (que pode levar anos), a letra de qualquer lei só tem validade quando acompanhada da força capaz de persuadir o outro a cumpri-la ou de puni-lo por seu descumprimento — e isso não existe no caso do genocídio em curso na Faixa de Gaza.
Mas tomemos nota: se a lei israelense servisse para algo além de embasar a opressão e extermínio do povo palestino, bastaria apenas ela para que Netanyahu fosse enforcado ao lado de Eichmann, também em Jerusalém.